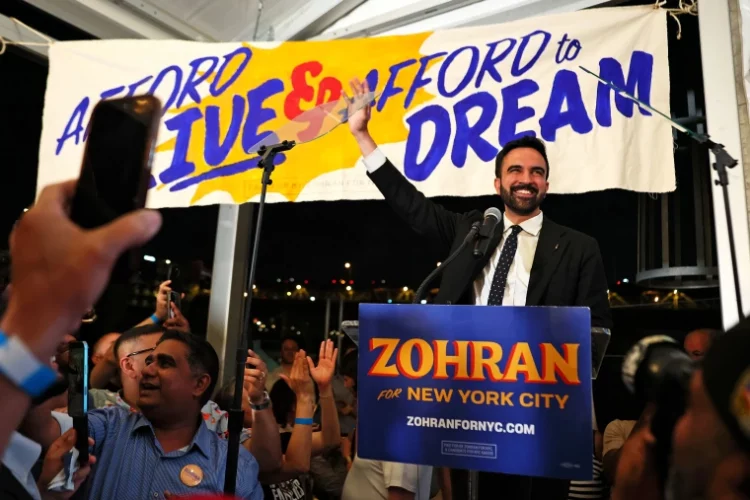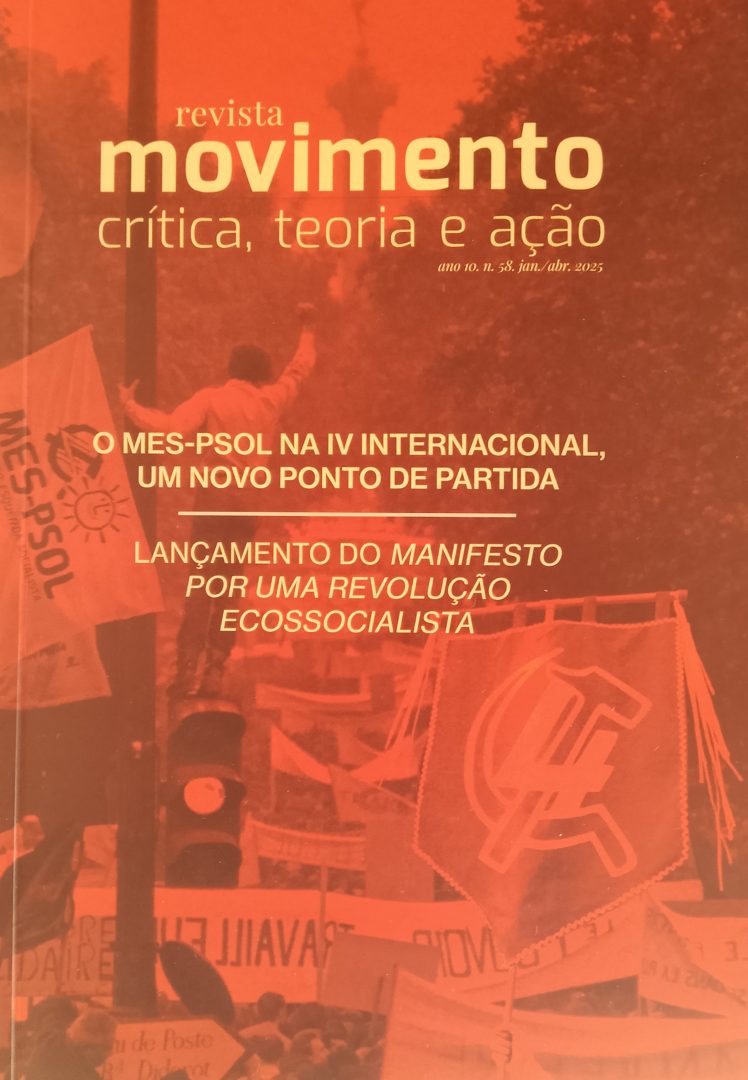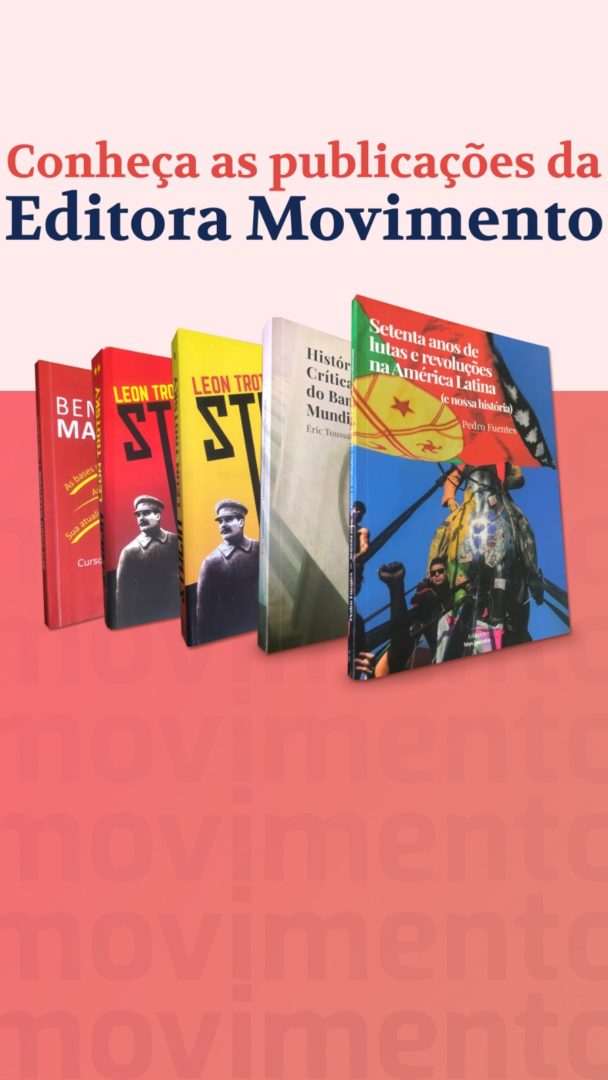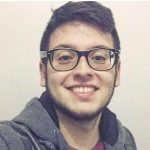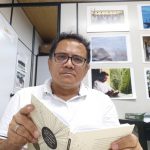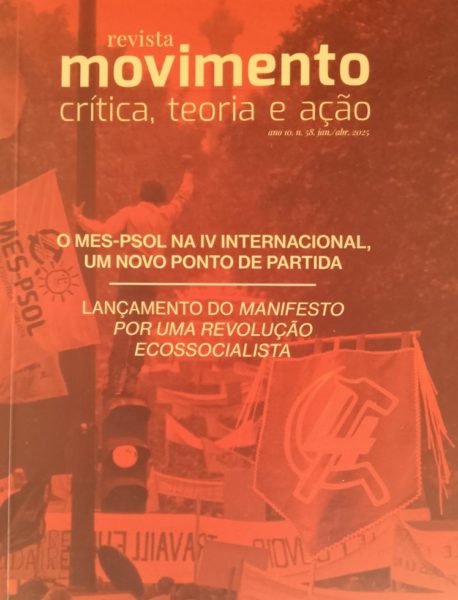Jogos Olímpicos de 2024: um sequestro democrático?
Uma reflexão sobre os impactos sociais e ambientais dos Jogos de Paris
Via Viento Sur
A obra Paris 2024 – Une ville face à la violence olympique (Paris 2024 – “Uma cidade que enfrenta a violência olímpica”, Éditions Divergences), da jornalista Jade Lindgaard, expõe as consequências dos Jogos Olímpicos no departamento de Seine-Saint-Denis: por trás dos discursos que prometem uma recuperação para o departamento, expulsões e destruição estão em andamento. Essa contribuição ajuda a estimular o debate, mesmo que a falta de deliberação democrática sobre a realização de um evento como esse dificulte a organização de mobilizações amplas. Entrevista realizada por Marion Beauvalet e Louis Hardy.
Em Nature is a Battlefield (A natureza é um campo de batalha), Razmig Keucheyan usa o conceito de racismo ambiental. A organização dos Jogos tem um impacto sobre as cidades (por exemplo, esse cruzamento de rodovias perto de uma escola em Saint-Denis) e sobre a população. Você fala de brutalismo e injustiça ambiental, como pode descrever o que está acontecendo?
A organização dos Jogos de Paris, suas repercussões sociais na região que faz fronteira com Saint-Denis, Saint-Ouen e L’Île-Saint-Denis, e as prováveis consequências para a população após os Jogos, são questões importantes. O que está acontecendo pode ser assimilado a uma forma de desapropriação, violência social e até mesmo violência olímpica, como no caso da escola Anatole France (Saint-Denis), que é um caso de injustiça ambiental. Ainda é muito cedo para dizer que se trata de racismo ambiental: temos que esperar para saber quais pessoas viverão lá no futuro.
Desde o início de minha pesquisa sobre as instalações da Vila Olímpica, o racismo ambiental estava em minha mente. Observei as diferenças de status socioeconômico entre os habitantes desses bairros, a situação das pessoas racializadas, sejam elas da África subsaariana ou do Magreb, francesas ou não. Nessa mistura de moradores, descendentes de imigrantes de primeira ou segunda geração ou recém-chegados, percebi uma diferença marcante em relação às pessoas representadas nos anúncios das incorporadoras para o futuro bairro e ao nível econômico necessário para adquirir os apartamentos que seriam colocados à venda.
Em 1982, uma igreja americana (a Igreja Unida de Cristo) realizou uma investigação autodirigida sobre o racismo ambiental. Foi, de certa forma, a primeira grande pesquisa sobre racismo ambiental nos Estados Unidos, onde uma igreja, com seus congregados e um ativista, realizou um extenso censo de doenças nos guetos negros das cidades americanas. Esse foi um bom exemplo de como, sem sermos cientistas ou termos os recursos estatísticos do Estado, foi possível destacar um problema fundamental e sistêmico de racismo e saúde ambiental. Isso possibilitou estabelecer uma ligação entre morar em um bairro negro de uma cidade americana e casos de câncer, por exemplo. Eu tinha isso na cabeça e, a princípio, pensei em fazer algo semelhante para a Vila Olímpica, mostrando, entre outras coisas, os sobrenomes que aparecem nas caixas de correio de algumas das propriedades do bairro. Abandonei essa ideia porque tinha muito pouco tempo. Além disso, era um problema importante demais para correr o risco de tratá-lo incorretamente.
É por isso que não usei o conceito de racismo ambiental. Acho que há evidências que mostram que esse é o caso. Mas, para poder afirmar isso, é necessário ter elementos factuais e comprovados. Por isso, preferi termos mais gerais, como substituição da população, desapropriação, violência social, violência simbólica. Mencionei a substituição da população, que por si só é um conceito muito forte. Devo salientar que, das 1.500 pessoas definitivamente privadas de seu local de vida por causa da organização dos Jogos Olímpicos, direta ou indiretamente, a grande maioria é racializada. Apresentei esses elementos com a ideia de, eventualmente, contribuir para um trabalho mais aprofundado sobre o assunto. É uma questão séria e suficientemente séria para ser tratada de forma bastante objetiva.
Você explica que, quando começou a escrever esse livro, não era hostil aos Jogos e também que se mobilizou para salvar os jardins de Aubervilliers em 2018. Qual foi sua evolução em relação aos Jogos Olímpicos?
Para ser honesta, antes de começar a trabalhar sobre os Jogos, eu realmente não tinha uma opinião formada. Não tinha uma visão muito positiva. Eu não estava muito entusiasmada com os Jogos Olímpicos, apesar de assisti-los desde a minha infância: sem paixão, mas também sem animosidade. Quando comecei a me envolver na defesa dos jardins dos trabalhadores de Aubervilliers, nas primeiras assembleias gerais ou em reuniões em que algumas pessoas se manifestavam contra os Jogos Olímpicos, eu não concordava. Eu me sentia politicamente desconectada, com um sentimento confuso, distante dos Jogos. Minha percepção dessa questão se desenvolveu progressiva e empiricamente à medida que me aprofundava em minha pesquisa e lidava com sua organização. Meu ponto de vista foi construído com base nessas duas visões, a de uma jornalista investigativo sobre a preparação das infraestruturas olímpicas e a de uma habitante-militante que defendia um jardim.
Mais tarde, tive relações tão diferentes quanto instrutivas com a subprefeitura, o gabinete do prefeito e a polícia. Fiquei impressionada com a natureza muito vertical do processo que, uma vez iniciado, recusou-se a se adaptar, recusou-se a ceder, recusou-se a suspender e não deixou nenhuma opção de questionamento, mesmo que parcial, do que estava sendo organizado. Foi exatamente essa falta de questionamento que me levou a assumir uma posição muito mais crítica em relação ao processo dos Jogos Olímpicos. Eu diria que a reconstituição histórica da não consulta à população na época da candidatura estabeleceu os marcos do meu distanciamento em relação ao processo olímpico, reforçado posteriormente pela forma como essa instalação foi executada, recusando-se a ouvir os habitantes que propunham contraprojetos, recusando-se a fazer o esforço de se adaptar ao que os jardineiros e jardineiras diziam quando tentavam defender seu jardim como um lugar de relações sociais, subsistência e proteção contra a onda de calor.
O comitê de vigilância JO 93 foi formado logo no início, não em oposição às Olimpíadas, mas como um observador atento. Ele apontou em várias ocasiões que as instalações planejadas poderiam ter consequências negativas, o que foi levado em consideração pelo COI, mas não pelos representantes eleitos. Nem os habitantes, nem o comitê de vigilância JO 93, nem a FCPE ou um pequeno grupo da escola Anatole France em relação à autoestrada A86 foram ouvidos pelos representantes eleitos. Pior ainda, a situação dá a impressão de que eles foram tratados como inimigos políticos, o que considero muito preocupante.
Há um verdadeiro desvio democrático. Antes dos Jogos, não pudemos debater, não pudemos nos expressar como habitantes para decidir se concordávamos em sediar os Jogos. Acho impressionante a diferença entre as consultas aos cidadãos que foram organizadas em Paris sobre questões como taxas de estacionamento para SUVs [veículos off-road] ou o uso de scooters elétricas, questões concretas do transporte cotidiano, e a falta de consulta sobre a organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Para mim, isso é um desvio democrático. As pessoas não puderam dar sua opinião. Não sei qual teria sido o resultado. Deve-se observar que em outras grandes cidades internacionais onde essas consultas foram realizadas, a resposta sempre foi negativa.
Como esse não foi o caso, nem foi objeto de mobilização dos habitantes, teremos que manter isso em nossa memória se quisermos fazer um balanço da experiência política do que aconteceu com os Jogos. Teremos que nos lembrar dessa decisão política imposta aos habitantes como um critério para criticar esses projetos de instalações de grande escala, que têm muitas consequências. Acho que a fraca mobilização contra os Jogos Olímpicos também é consequência do fato de não ter havido consulta no início. O debate nunca foi construído. Os argumentos, tanto de apoio quanto de oposição, nunca foram claramente apresentados no espaço público. Isso é sentido hoje.
Na introdução, você apresenta sua abordagem e insiste que não se trata de um livro contra os Jogos Olímpicos, mas de um esclarecimento e investigação das injustiças ligadas aos Jogos Olímpicos. Como explica a necessidade de justificar sua abordagem para não parecer um militante antijogos olímpicos, a dificuldade de ter um discurso crítico sobre os Jogos Olímpicos, especialmente na esquerda, sem ser percebida como uma estraga-prazeres?
Esse é um dos grandes desafios políticos de 2024. É interessante tentar entender por que parece necessário especificar que não se é contra os Jogos Olímpicos. É uma questão de honestidade com relação ao meu próprio itinerário. Além disso, não escrevi um panfleto, embora reconheça que os panfletos às vezes podem ser muito úteis para questionamentos políticos. Eu quis escrever uma investigação, porque queria produzir algo acessível a todos e abrir a discussão para um público mais amplo, incluindo os apoiadores dos Jogos, a fim de incentivá-los a olhar além das aparências e examinar os arcanos do evento. Foi uma atitude sincera e transparente, além de uma estratégia editorial. Achei importante ressaltar isso, pois o espaço público e midiático atual ainda parece bastante homogêneo, com poucas vozes críticas. Ainda hoje, na abordagem dos Jogos Olímpicos, as críticas são raras e se concentram em aspectos muito específicos.
Essas críticas são expressas, mas muito pouco se ouve sobre o próprio princípio desses Jogos, sobre a maneira como foram decididos e implementados. É uma forma de bloqueio do debate público, embora não seja imposta pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), nem por uma ditadura que se abateria sobre a França a partir do COI. É um bloqueio compartilhado. Os organizadores dos Jogos, o OCOG, a SOLIDEO, a Direção Interministerial de Esportes, o Ministério dos Esportes, Matignon, o Eliseu, todo um aparato estatal e político, investiram anos politicamente no evento para o brilho da França.
Há também a atitude e o posicionamento dos representantes eleitos de Seine-Saint-Denis, tanto os municípios de Saint-Denis, Saint-Ouen, L’Ìle-Saint-Denis, quanto o Plaine-Commune (o órgão público territorial que reúne esses municípios e o departamento). Esses representantes eleitos, cuja maioria é de esquerda, são muito favoráveis à organização dos Jogos e estão trabalhando em conjunto com os organizadores. Essa aliança foi formada em torno da promessa de um patrimônio e, acima de tudo, de uma compensação, já que o investimento público em Seine-Saint-Denis é historicamente menor do que a média nacional e de outros departamentos, especialmente em termos de serviços públicos básicos. Diante do subinvestimento crônico, esses representantes eleitos veem os Jogos como uma oportunidade de compensar seus déficits em instalações vitais para a região. Essa perspectiva tem sido defendida especialmente por Patrick Braouezec, ex-prefeito de Saint-Denis e ex-presidente da Plaine-Commune, que tem sido uma peça-chave na organização de grandes eventos esportivos na região e, em particular, na construção do Stade de France em 1998, considerado a pedra fundamental dessa grande instalação na planície de Saint-Denis e na região circundante.
Essa foi a pedra fundamental. Naquela época, o discurso era muito claro. Na verdade, ele foi abandonado em 93. Foi construído esse grande estádio, que seria assistido por bilhões de pessoas em todo o mundo porque se trata de futebol e é uma fonte de admiração para o departamento. Em torno desse estádio, vamos construir um distrito de escritórios para estimular a atividade. Foi o que aconteceu hoje com a planície de Saint-Denis. Quando você sai da estação RER La Plaine-Stade de France, pode ver, entre outras, as sedes da Orange e da SFR. O que foi decidido para a Vila Olímpica é a sua continuação. Isso foi explicitamente assumido por Patrick Braouezec quando ele falou sobre o primeiro andar do foguete. É uma questão de tirar o 93 do chão, com uma metáfora bastante brutal. Quando se pensa em decolagem, o foguete sobe muito alto, mas tudo o que está embaixo é queimado. Portanto, é uma decolagem muito intensa de um foguete, e é o primeiro andar. É um discurso que vem ocorrendo há muito tempo e que já deixou o ex-prefeito de L’Île-Saint-Denis muito orgulhoso. Era um município pequeno e agradável no Sena, um município pequeno liderado durante muito tempo por um prefeito ecologista, Michel Bourgain, que se opunha a grandes projetos por motivos ecológicos. No final, ele apoiou a organização dos Jogos e propôs que sua cidade participasse deles, hospedando parte da Vila Olímpica. Foi por isso que quis conhecê-lo no início da minha pesquisa. Em sua opinião, assim que Saint-Denis e Saint-Ouen aceitaram, ficou claro para ele que seria esmagado se recusasse. Em outras palavras, todos os recursos teriam sido dedicados às comunas mais importantes.
A situação ainda é diferente para Saint-Denis e Saint-Ouen, que mudaram sua maioria política. Existe essa pressão para tornar Saint-Denis cada vez mais uma cidade importante, assim como foi candidata ao título de Capital da Cultura, que não obteve. A lógica é a mesma: aumentar sua visibilidade e sua atratividade. Esse é um ponto muito importante em toda essa conversa sobre metrópoles. Fiquei impressionado com o fato de que todas essas pessoas, sejam representantes eleitos do gabinete do prefeito em Saint-Denis, L’Île-Saint-Denis, Saint-Foy ou outros, sempre falam sobre desenvolvimento territorial, que é considerado benéfico para Seine-Saint-Denis.
Há algumas semanas, no metrô de Paris, era possível ver cartazes enormes proclamando que Seine-Saint-Denis daria as boas-vindas ao mundo. O conceito de território é, na verdade, muito abstrato: qual é exatamente o território de que estamos falando? Onde ele começa, onde ele termina? O departamento de Seine-Saint-Denis é de fato muito grande, há diferenças significativas entre bairros como Raincy e Stains. Em outras palavras, e é isso que é problemático, finge-se falar em nome de um lugar onde os habitantes são altamente discriminados, mas a maneira como esse discurso é construído tende a depreciar seus habitantes.
Em termos de desenvolvimento territorial, é fundamental distinguir duas abordagens fundamentalmente diferentes. Por um lado, a abordagem que gira em torno do crescimento econômico, que visa aumentar o PIB e as atividades econômicas de qualquer tipo. Por outro lado, a abordagem da justiça ambiental, que tem sido defendida por muitos movimentos sociais, especialmente nos Estados Unidos, desde a década de 1970. Essa abordagem consiste em partir das necessidades e dos desejos dos habitantes de um bairro para construir juntos projetos que possam corrigir a discriminação e as desigualdades existentes. Trata-se, portanto, de uma abordagem de baixo para cima, que começa na base e leva a um melhor bem-estar coletivo. Está claro que essas duas lógicas são diametralmente opostas e que a lógica dos projetos de grande escala está em contradição com a lógica da justiça ambiental, que leva em conta as necessidades dos habitantes.
Esse discurso sobre o desenvolvimento territorial parece, sob muitos pontos de vista, parcial e até mesmo unilateral. Ao considerar apenas parte das questões em jogo, é possível justificar a construção de uma Vila Olímpica para pessoas de fora do território, em detrimento dos habitantes atuais. Essa visão pode ser aceita em nome da imagem da cidade ou da arrecadação de impostos, sem levar em conta as consequências sociais e ambientais. É difícil separar essas questões, ainda mais quando o discurso a favor dos Jogos Olímpicos, apresentado como progressista, continua a ter um grande impacto.
Você descreve a economia dos Jogos Olímpicos como uma economia disfuncional. Para apoiar sua definição, você usa o trabalho de pesquisadores de Oxford sobre megaprojetos: você pode explicar o fato de que os Jogos sistematicamente geram enormes custos excedentes?
Os economistas de grandes projetos demonstraram que, desde 1968, todos os Jogos Olímpicos, sejam de inverno ou de verão, sempre ultrapassaram seus orçamentos. No caso dos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres, por exemplo, em uma cidade bastante comparável a Paris, o orçamento foi, no final, muito excedido. O interessante é procurar as causas. Os pesquisadores dizem que há vários motivos ligados à própria natureza do processo olímpico. O primeiro é o atraso: não se pode estar despreparado para a data. A partir do momento em que uma variável não pode mudar, todas as outras variáveis são flexíveis, a começar pelo custo. Se o mais urgente for realizar o trabalho, você estará disposto a gastar mais, a empregar mais pessoas, a fazê-las trabalhar por mais tempo, para que as coisas sejam feitas no tempo desejado.
O segundo motivo é a síndrome do debutante: organizar os Jogos Olímpicos é algo muito excepcional para um país e para uma cidade, e os últimos Jogos de Verão na França foram realizados em 1924. Em Los Angeles, que os sediará novamente em 2028, eles foram realizados em 1984, algo nunca visto antes na história moderna. O problema com tudo isso é a falta de hábito e experiência. Na França, por exemplo, temos o hábito de construir autoestradas, pontes e metrôs, mesmo que haja atrasos no projeto do Grand Paris Express. As usinas de energia nuclear são outro bom exemplo. Nenhuma foi construída nos últimos anos, e agora há anos de atrasos na construção da EPR de Flamanville. Esses grandes projetos são muito complexos, devido aos parâmetros e às muitas coisas a serem controladas simultaneamente… Há muitos parâmetros sociais, econômicos e humanos durante a fase de projeto, a fase de construção, a fase de operação…
Além disso, há outros elementos, como os preços das matérias-primas, a inflação, a crise da covid, a guerra na Ucrânia, que geram incertezas. Apesar de toda a engenharia, todo o poder público, todo o dinheiro investido, o orçamento de cerca de 9 bilhões de euros já é considerável. Talvez seja aqui, e eu digo talvez, que o COI não cumpra suficientemente seu papel de transmitir as boas práticas de um país para outro, embora tenha tentado fazê-lo, embora haja especificações, e até mesmo tenha pedido às cidades-sede que construam o mínimo possível. Paris, por exemplo, constrói pouco, muito menos do que Londres, e construirá ainda menos do que Los Angeles em 2028, e por trás disso está a ideia de que, se você construir menos, haverá menos atrasos.
Isso nos leva ao terceiro ponto que, na minha opinião, é o mais interessante: a questão da escala. Os Jogos Olímpicos são em uma escala gigantesca, o que está em contradição com o respeito a um orçamento real de carbono, com a proteção dos ecossistemas e também com o compromisso de uma boa administração, uma boa gestão de forma democrática e transparente. O Tribunal de Contas, que já publicou dois relatórios sobre o orçamento dos Jogos Olímpicos, está prestes a publicar um terceiro, sobre o patrimônio, que será interessante ler para entender até que ponto eles estão puxando o fio da meada.
O Tribunal de Contas escreveu no ano passado que os números não eram claros, nem sobre o custo final para as autoridades públicas, nem sobre o aumento dos custos ao longo do projeto. Ele chegou a escrever que houve uma subestimação dos custos nas primeiras versões dos projetos de Paris 2024. Longe da promessa inicial de que os Jogos seriam positivos para o clima e deveriam custar ao povo francês, se não nada, como alegaram no início do projeto, pelo menos pouco, os organizadores derramaram seu vinho e suavizaram seu slogan. A opacidade da organização e essa dificuldade de se reconhecer nela também são consequência do medo de aumentar as despesas e, portanto, de estourar o orçamento.
Eles dão a impressão de que não querem mostrar muito os riscos de estouros de orçamento por medo de que isso alimente as críticas aos Jogos antiolímpicos, mas pode-se dizer, ao contrário, que graças à transparência, talvez seja possível assumir compromissos orçamentários – e já foram assumidos. Fala-se muito sobre a Vila Olímpica, mas há uma parte da cidade de mídia construída em Dugny. Ela foi cortada em duas partes. Eles construíram apenas metade do que foi planejado. Outro exemplo interessante é o centro aquático olímpico, inaugurado por Emmanuel Macron na quinta-feira, 14 de abril, que é muito menor do que o projeto inicial.
Paris era a única cidade na disputa por esses Jogos, os [Jogos de Inverno] de 2030 parecem ter pouca atração. Como o senhor explica essa falta de interesse? Você diz que várias cidades se retiraram após referendos. O senhor pode explicar a gênese dessa candidatura e essa vitória sem concorrência? Você descreve o COI como uma “esquisitice democrática”: o que é essa instituição que mal conhecemos?
Quando Paris foi escolhida para sediar os Jogos em 2017, ela era a única cidade candidata. Alguns meses antes, um acordo havia sido fechado por Los Angeles para dividir os anos: Paris em 2024 e Los Angeles em 2028. É interessante entender como isso aconteceu. Primeiro, as outras cidades que haviam cogitado se candidatar para 2024 retiraram gradualmente suas candidaturas, seja como resultado de referendos, como Hamburgo e Munique, seja por causa de mobilizações de cidadãos, como em Boston, com um movimento chamado No Boston Olympics (Sem Olimpíadas de Boston), conduzido por arquitetos e planejadores urbanos. Esse movimento levantou preocupações muito semelhantes às que estão surgindo hoje com Paris 2024, especialmente a ideia de que a instalação urbana não deve ser ditada pelos visitantes, mas pelos habitantes. Isso resume bem a dimensão extrativista de um grande projeto como os Jogos Olímpicos. A cidade de Roma se retirou da disputa porque a candidata a prefeita, Virginia Raggi, do movimento 5 Estrelas, havia anunciado em seu programa sua oposição aos Jogos Olímpicos. Depois de eleita, ela retirou a candidatura de Roma. Não vou apresentar esse fato como um exemplo de democracia, pois houve problemas de corrupção posteriormente.
Muitas cidades temiam estouros orçamentários, o que foi um dos principais argumentos dos movimentos de oposição aos Jogos Olímpicos em diferentes cidades: “isso vai custar muito caro, e não temos os meios”. Então, por que Paris foi mantida como candidata? A pergunta precisa ser invertida. Inicialmente, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, se opôs aos Jogos. Depois, em 2015, o presidente da República Francesa, François Hollande, pressionou Paris a se candidatar. Por que os poderes socialistas queriam que Paris fosse candidata?
Em primeiro lugar, os ataques de 2015. Antes desses ataques, Paris já era candidata. Depois, havia o desejo de não ceder ao terrorismo. Havia também o desejo de fazer a França brilhar no cenário internacional, especialmente por meio de eventos de prestígio, como os Jogos Olímpicos ou a COP21. Há também uma tendência crescente de as cidades desempenharem um papel importante no cenário internacional, o que corresponde à agenda de desenvolvimento e crescimento. Por fim, provavelmente também houve desafios pessoais para Anne Hidalgo, que estava planejando concorrer às eleições presidenciais. A candidatura para os Jogos poderia ser um meio de fortalecer sua posição. Em 2017, Paris foi escolhida para sediar os Jogos, o que levanta questões sobre os processos decisórios e quem os toma, bem como as motivações por trás dessas decisões.
É o COI quem decide. Outro paradoxo nesta história é o da comunidade olímpica internacional, uma associação sediada em Lausanne, em um edifício impressionante, com escadas em forma de anel olímpico. Apesar de sua estatura modesta, o COI é, sem dúvida, uma das instituições mais poderosas do mundo. O COI decide qual cidade sediará os Jogos, quais patrocinadores terão o privilégio de estar entre os patrocinadores premium. Trata-se de um círculo muito fechado, cujas modalidades de acesso e custos são geralmente desconhecidos do público. O COI também define os termos de referência para a organização dos Jogos, incluindo critérios como a Vila Olímpica, a construção de uma grande piscina e um grande estádio.
Todos os Jogos Olímpicos envolvem grandes projetos de desenvolvimento urbano e as operações imobiliárias resultantes, pois a organização dos Jogos exige a construção de um grande número de infraestruturas. Os Jogos são muito mais do que apenas um evento esportivo; há décadas, eles também são uma oportunidade para o desenvolvimento urbano e a atividade econômica. O COI não está sujeito a nenhum controle externo e não é responsável perante órgãos eleitos ou órgãos de auditoria. Ele mesmo administra sua diretoria e seus presidentes, sem qualquer obrigação de transparência democrática. Essa opacidade levanta questões sobre a natureza democrática do processo de tomada de decisões do COI, uma pequena associação capaz de ditar prazos aos Estados e organizar um dos eventos mais midiáticos do mundo, embora em relativo sigilo.
Você explica que “as obras aceleram e reforçam uma revalorização imobiliária que também tem outras causas” (pág. 103), fala de 1.500 pessoas deslocadas pelos Jogos em Seine-Saint-Denis, de dois milhões de pessoas deslocadas desde o final da década de 1960. Esses números têm sido pouco destacados, você poderia nos contar mais sobre eles?
As instalações ligadas aos Jogos Olímpicos andam de mãos dadas com uma grande ruptura social, que é completamente invisível. Se tomarmos o exemplo da Vila Olímpica, há muitas pessoas que perderam suas casas definitivamente, direta ou indiretamente ligadas aos Jogos Olímpicos.
Fiz uma estimativa minimalista de 1.500 pessoas despejadas direta ou indiretamente pelos Jogos. Por exemplo, há os homens que moravam em uma residência para trabalhadores migrantes, que ficava no perímetro da vila olímpica. Ela foi demolida. Os habitantes foram desalojados, evacuados de suas casas. Embora a polícia não tenha vindo despejá-los de suas casas, eles foram temporariamente realojados em dois prédios diferentes enquanto aguardavam um realojamento definitivo que deveria ocorrer após os Jogos Olímpicos, mas não na Vila Olímpica. Eles somam cerca de 300 pessoas.
Outras cerca de 400 pessoas estavam morando na ocupação Unibéton, nos limites de outra parte da Vila Olímpica. Elas foram despejadas na primavera de 2023. Em quase todos os casos, eram pessoas sem documentos, portanto não houve reassentamento para elas. E, finalmente, os habitantes da cidade de Marcel-Paul de L’Île-Saint-Denis. A situação deles é diferente e me parece ser muito emblemática do que está acontecendo, embora seja completamente invisível. O Marcel-Paul é uma área de habitação social em L’Île-Saint-Denis, parcialmente abandonada por seu proprietário (agora Seine-Saint-Denis Habitat) e mergulhada em dificuldades sociais e econômicas, que durante anos foi uma importante área de tráfico de drogas. É um lugar marcado pela violência e pelas dificuldades, mas também pela grande solidariedade. Essa cidade foi afetada por um projeto de renovação urbana da ANRU, iniciado antes da realização dos Jogos, com o objetivo de realojar alguns de seus habitantes, em particular aqueles que vivem nas três torres que compõem a cidade.
Assim que os Jogos foram concedidos a Paris, o processo de renovação urbana se acelerou. Em muitos relatórios, foi entendido que a Cité Marcel-Paul não permaneceria em seu estado atual durante os Jogos. Embora não seja diretamente adjacente à Vila Olímpica, ela está muito próxima. A presença dessa cidade como uma vitrine da miséria social ou como um ponto de distribuição de drogas não era compatível com o nível de segurança planejado para a L’Île-Saint-Denis para os Jogos.
Todo o processo de renovação urbana teve de ser acelerado. Esses habitantes, em muitos casos pessoas que viviam sob pressão, foram pressionados a encontrar moradias para se mudarem o mais rápido possível. Na correria, houve ofertas que não correspondiam à lei, às regras de realojamento da ANRU: apartamentos muito caros ou muito distantes e, acima de tudo, pessoas sob uma pressão terrível. Isso continua, porque algumas delas foram realojadas, mas as situações mais difíceis não foram resolvidas. Seus direitos como inquilinos, seu direito à moradia social, nem sempre foram respeitados.
Isso criou a terrível sensação de estar sendo despejado por causa dos Jogos Olímpicos. São coisas que ouvi muitas vezes: “eles não querem que nossos rostos sejam vistos durante os Jogos Olímpicos, fomos expulsos por causa dos Jogos”. Dito com tristeza, raiva, amargura, por essas pessoas. Escrevi um artigo sobre isso no Mediapart [1]. O prefeito de L’Île-Saint-Denis, Mohamed Gnabaly, emitiu uma declaração dizendo que era uma mentira, uma intoxicação de nossa parte, ele foi muito agressivo em sua comunicação. Entretanto, essas foram expressões feitas pelos habitantes, nem todos os habitantes acham que foram despejados por causa dos Jogos, mas alguns acham. O motivo dessa tensão no gabinete do prefeito é a posição dos prefeitos de esquerda em relação aos Jogos. Eles querem que isso sirva para o desenvolvimento do território, e acontece que há um lugar com pessoas que precisam ser expulsas por causa do evento olímpico, quer queiram ou não; pessoas que não poderão voltar depois, que não poderão viver lá e que, de alguma forma, são vítimas desse processo de desenvolvimento.
É por isso que mencionei o sentimento de desapropriação que percebi por parte deles: eles moram em um bairro há décadas, seja na residência dos trabalhadores da ADEF ou mesmo em Marcel-Paul. Essa forma de violência social é ampliada pela falta de visibilidade em torno desse processo de desapropriação, como se ele passasse despercebido. Ainda hoje, ele permanece em grande parte desconhecido. Você está ciente da visita de Emmanuel Macron à Vila Olímpica, que ele inaugurou há algumas semanas? Essa visita oficial contou com a presença de todos os “chefes dos Jogos Olímpicos”: o prefeito de Saint-Denis, o diretor geral da SOLIDEO, Nicolas Ferrand, o presidente do OCOG, Tony Estanguet, e o prefeito de Saint-Denis, Mathieu Hanotin. De acordo com eles, essa organização se orgulha do fato de não ter havido expropriações. É isso mesmo: não houve expropriação no sentido de que os proprietários foram forçados a desistir de suas casas, como aconteceu, por exemplo, no Grand Paris Express, conforme relatado no livro de Anne Clerval e Laura Wojcik, The Shipwrecked of the Grand Paris Express [2]. Certamente, não houve expropriação, mas houve expulsões. E isso, por outro lado, não foi mencionado de forma alguma. Essa declaração me deixou indignado, pois mostra claramente que eles gostariam que ninguém tivesse sido forçado a sair por causa dos Jogos. E questiona a narrativa e o discurso político deles, mostrando a falta de engajamento democrático na candidatura de Paris 2024. Nada impediu que Paris se comprometesse, na época de sua candidatura, que ninguém seria despejado, desalojado ou perderia suas casas. Mas esse compromisso não foi assumido, quando situações semelhantes às que descrevi para Paris 2024 já haviam ocorrido em Londres em 2012.
A mesma coisa aconteceu em todas as cidades que sediaram os Jogos: foi terrível, com bairros inteiros sendo destruídos no Rio de Janeiro, quase um milhão de pessoas foram desalojadas em Pequim e até mesmo em Barcelona 1992, sempre descrita como o exemplo virtuoso, houve destruição de acampamentos de ciganos. Portanto, quero dizer que esse é um fenômeno sistêmico e está longe de ser uma surpresa, pois está ligado à forma como os Jogos são organizados. Foi por isso que comecei a trabalhar nesses Jogos desde 2018, comecei a ir para esse território dizendo a mim mesmo que tinha de documentar o que estava lá naquele momento.
Assim que os Jogos foram anunciados, foram criados coletivos, depois, durante a mobilização contra a reforma da previdência, o slogan “sem aposentadoria, sem Jogos Olímpicos” floresceu, depois foram organizados coletivos (como o Saccage 2024 – Saque 2024). A mobilização já está sendo organizada para os Jogos de Inverno, especialmente por causa do impacto que eles terão nas montanhas já danificadas pela atividade humana e pelo derretimento das geleiras. Será que esses eventos ainda fazem sentido em um momento em que as emergências ecológicas e sociais estão se multiplicando e se tornando cada vez mais agudas?
Além do que acabei de dizer sobre o sequestro democrático e o colapso social, há o aspecto ecológico, sobre o qual falamos menos, embora a destruição de parte dos jardins de Aubervilliers, a construção de uma vila olímpica, a construção da cidade da mídia no parque Georges Valbon, onde o festival Humanité [jornal do partido comunista] foi realizado, tenham sido todos mencionados. Em resumo, a organização de um evento que deve trazer 13 milhões de pessoas, muitas delas de avião, faz parte dos muitos ataques ambientais desses Jogos.
Quando o objetivo é reduzir drasticamente nossas emissões de gases de efeito estufa, inclusive no transporte aéreo, e quando Paris tem um plano climático no qual a cidade se compromete a reduzir suas emissões, é organizado um evento que representa o oposto dessas promessas. É verdade que poucas infraestruturas novas estão sendo construídas, mas, mesmo assim, infraestruturas gigantescas estão sendo construídas, como a piscina de Saint-Denis ou até mesmo uma vila olímpica, quando há tantas acomodações em Paris. É um evento que representa um ataque à sobriedade, no sentido de que todas as escalas são enormes, até mesmo desproporcionais, para os Jogos Olímpicos.
Esse gigantismo é encontrado principalmente na passarela, tão larga quanto doze rodovias, que ligará a piscina de Saint-Denis ao Stade de France. Em sua filosofia, ela tem algo verdadeiramente antitético à sobriedade necessária diante das mudanças climáticas. Não entendo muito bem como esse gigantismo olímpico é compatível com o planeta e com a necessidade de reduzir nosso impacto ambiental. Em vez de continuar organizando eventos do lado de fora, seria melhor tentar voltar à força para os critérios sociais e ambientais, estamos em um ponto em que se deve dizer que devemos parar de construir.
Parar de construir, ocupar e habitar o máximo possível o que já está construído e, se houver necessidade absoluta de construir algo mais, então construa, mas em um estágio posterior, em outras palavras, uma espécie de revolução ecológica copernicana. Em vez de partir da ideia de construir e fazer isso de forma ecológica, usando madeira, sem ar-condicionado etc., devemos partir do que já existe e ver o que pode ser feito com ele. O compromisso do OCOG e do COI de emitir o dobro de CO2 de Londres em 2012 não está de acordo com o que deve ser feito hoje.
Considerando um após o outro os argumentos democráticos, sociais e ambientais, tudo sugere que os Jogos Olímpicos, da forma como são organizados hoje, não são compatíveis com nossa situação humana atual. Dito isso, o que devemos fazer, devemos parar os Jogos Olímpicos? Eu não sei. Digo a mim mesmo que há muitas outras maneiras possíveis de realizá-los. Por exemplo, se os Jogos Olímpicos parassem de ir de uma cidade para outra, haveria menos construções. Haveria um lugar, apenas um, onde isso aconteceria.
Também podemos imaginar que nem todos sejam obrigados a estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, ou mesmo que haja menos esportes. Há muitas pistas, há muitas pessoas que trabalham muito melhor do que eu nessas questões. Mas, de qualquer forma, para concluir, se você acredita em nossa demonstração de que, por razões democráticas, sociais e ambientais, os Jogos como são organizados hoje não são compatíveis com as demandas de nosso tempo, então continuar a organizá-los como se não estivéssemos neste tempo é hiperproblemático.
É um problema porque, de um ponto de vista filosófico e político, nos faz pensar que podemos continuar como antes. Portanto, além de todos os aspectos franceses e parisienses de Paris 2024, acho que há números políticos e sistêmicos que se aplicam ao mundo todo. Estamos um pouco tranquilos com os baixos gastos, mas por quanto tempo podemos continuar tranquilos com os baixos gastos? Será que uma onda canicular, como em outros verões, seria um sinal suficiente da natureza insustentável do nosso sistema? Vejo o único sinal para os Jogos de 2030. Há uma mobilização real em torno da candidatura da França para os Jogos de Inverno. Há uma crítica muito mais importante a Paris 2024, e essa crítica é feita tanto por associações ambientais quanto por esportistas.
Em particular, Stéphane Passeron tomou a palavra[3] para dizer que os Jogos não devem ser realizados em nome da proteção da montanha, um ecossistema muito frágil, que é muito afetado pelas mudanças climáticas. A organização dos Jogos no local levaria ao reforço do turismo de massa e à industrialização da montanha. Nesse caso específico, o argumento ambiental foi adotado por um grande número de pessoas que amam essas paisagens e a vida que existe nelas. Deve-se observar que essa crítica ainda não teve muita influência sobre a candidatura, já que a França é novamente o único país candidato aos Jogos de Inverno de 2030. O desafio é, portanto, manter essa discussão viva até a nomeação.
Seu livro começa com um preâmbulo: os Jogos deixaram as infraestruturas no lugar, o ecossistema permaneceu intacto, as políticas liberticidas e, em particular, a vigilância desapareceram. Sem entrar em ficção política, à luz do que você estudou, qual será o impacto desses Jogos?
Pode-se temer que os problemas induzidos pelos Jogos Olímpicos se tornem permanentes: Paris 2024 poderia justificar suas construções e instalações em nome de sua sustentabilidade ecológica. No entanto, o risco não é apenas que os edifícios sejam perpetuados, mas também o modo de vida que os acompanha. Isso também inclui o reforço das medidas de segurança, com a instalação de várias câmeras de vigilância por vídeo em Saint-Denis. Há também o risco de gentrificação agressiva, com a chegada de novos moradores à Vila Olímpica.
Há também o risco de perpetuar um modelo de cidade amplamente financiado pelo setor privado (a Vila Olímpica representa um investimento de 2 bilhões de euros, 78% dos quais provenientes do setor privado). É uma cidade coproduzida pelo Estado e por investidores imobiliários, com o objetivo de obter lucros a longo prazo. Isso representa uma extensão do capitalismo urbano. Há o risco de que, apesar do discurso que se vangloria de esse bairro ser uma vitrine do know-how francês de planejamento urbano, ele também perpetue um ritmo desenfreado de construção de bairros. A metrópole parisiense é cercada por muitos terrenos baldios e, se o modelo for generalizado, poderá gerar problemas democráticos, sociais e ambientais. Essa é uma hipótese a ser considerada.