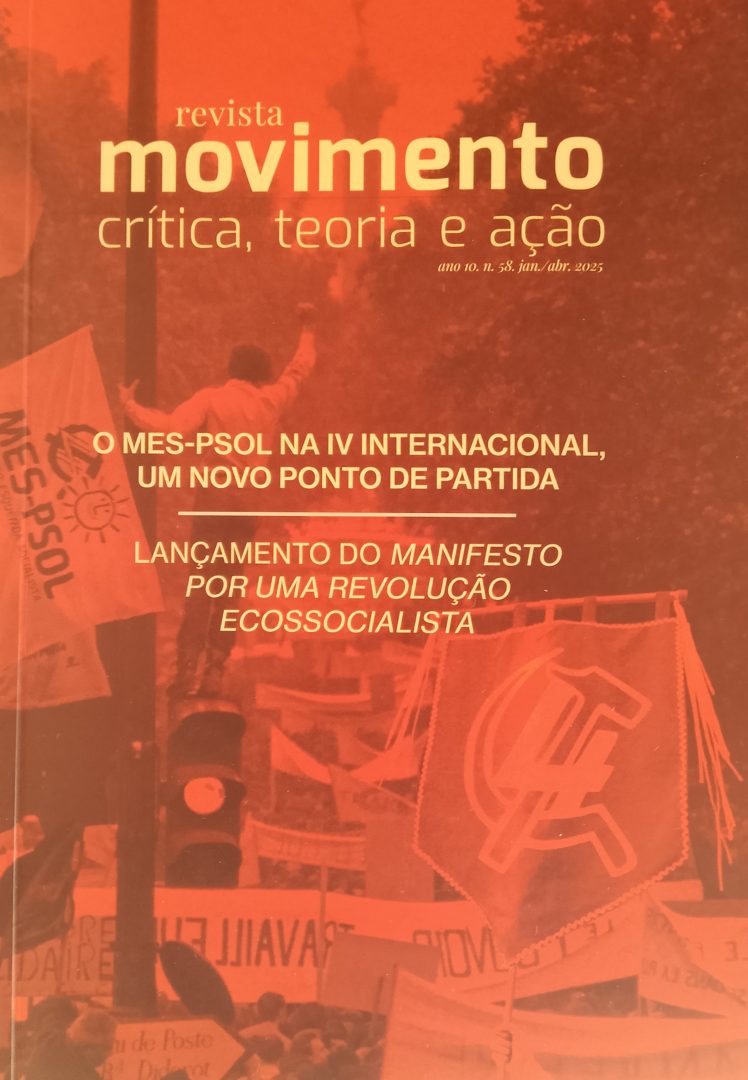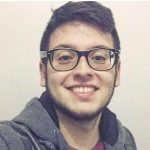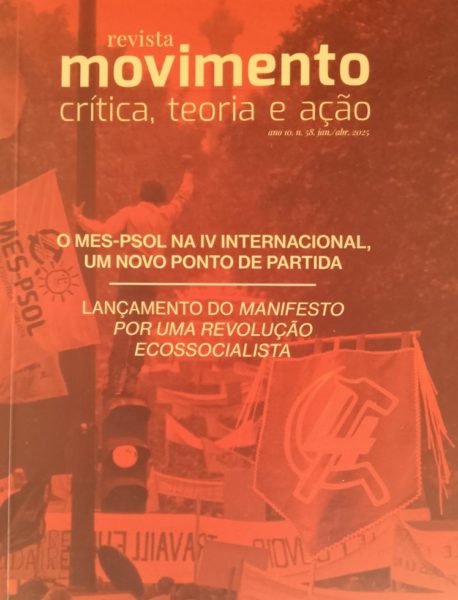Um ano depois, “chegou a vez de ouvir as Marias, Mahins, Marielles, Malês”
Sobre a história do feminismo negro e o legado de Marielle.
No dia 14 de março de 2018, o Brasil viu atordoado a execução de uma vereadora do Rio de Janeiro. Negra, favelada, cria de cursinho popular, LGBT. Socialista. Uma vereadora do PSOL que sabia qual era o lado certo para se estar, que não se vendeu, que não deu um passo para trás daquilo que acreditava. Uma lutadora que sabia que era preciso virar a história do avesso. Seu nome era Marielle Franco. Após um ano de seu assassinato, floresce pelo Brasil a força de sua história e a continuidade de sua luta.
Marielle Franco não é produto isolado da história. Para compreender melhor o significado de sua morte é preciso levar em consideração a história do movimento negro no Brasil, e em especial, a luta das mulheres negras. Mesmo depois de passados 130 anos da abolição da escravatura, as mulheres negras no Brasil ainda são vistas como corpo objeto, estão no topo dos índices de vítimas por violência, são maioria das trabalhadoras informais e mais precarizadas, carecem de direitos trabalhistas e recebem baixos salários (como costureiras, operadoras de telemarketing, trabalhadoras da limpeza e empregadas domésticas, por exemplo), sendo naturalizada sua condição social de pobre e prestadora de serviços. Ademais, seus filhos e maridos sofrem com o alto índice de desemprego, violência policial e encarceramento em massa.
As histórias de mulheres – como Laudelina de Campos na década de 1930 e sua insistente luta para organizar o sindicato das trabalhadoras domésticas – devem ser recordadas como nossa história de luta por uma sociedade democrática, pois a regulamentação da profissão de trabalhadora doméstica só foi conquistada em 2015. Lei muito criticada pela classe média que não queria gastar com 13º, férias remuneradas e hora extra contabilizada, mas desejava os serviços aos domingos e feriados, o dia inteiro, quando não faziam a exigência da trabalhadora dormir nos “aposentos adequados”. Resquícios da escravidão a serem superados com luta, pois todo quarto de empregada tem um quê de senzala.
Após a abolição, as estruturas da sociedade continuaram a espoliar a população negra, que, por sua vez, constituiu espaços de resistência diante do avanço de uma política de urbanização excludente e segregadora. As favelas, territórios de Marielles em potencial, são produtos de uma massa de trabalhadores excluídos das condições sociais de moradia, educação, saúde e transporte. Territórios onde os direitos sociais não chegaram e, por conseguinte, os direitos políticos demoram mais para serem alcançados. O centenário da abolição foi marcado pela denúncia radical do mito da democracia racial no Brasil e pela reivindicação de uma segunda abolição que efetivasse as reparações históricas necessárias para promover acesso a direitos sociais básicos como moradia, trabalho, saúde, e educação à negritude do Brasil. Uma reparação histórica pelos 400 anos de escravidão de seus ancestrais. Nesse marco histórico, a condição do negro na sociedade brasileira segue sendo a de produtor de cultura e riqueza patrimonial, mas destituído de direitos.
Trinta anos após a abertura democrática e o fim da Ditadura Militar, Marielle era uma vereadora que questionava a criminalização da pobreza e cobrava do poder público a distribuição de renda e direitos para a população. Questionamentos e reivindicações sobre serviços básicos que não chegam em sua maioria nas favelas, lugar da população que sustenta a cidade com sua força de trabalho.
Em 2016, elegemos uma vereadora negra que enfrentou a máfia miliciana que se instaurou no Rio de Janeiro em função da corrupção do Estado, assistida e legitimada pela maioria dos políticos que gozam dos privilégios herdados da escravidão. A expressão de uma democracia que não foi feita para todos.
Um dos importantes temas que Marielle se especializou política e academicamente foi a questão da segurança pública. Em sua dissertação, intitulada “UPP. A redução da Favela a três letras”, Marielle expõe tanto seu ponto de vista quanto sua atuação política, haja visto que, ao mesmo tempo em que escrevia seu trabalho, atuava na Comissão de Direitos Humanos da ALERJ. Segundo ela, na disputa de projetos, existe
“De um lado, a ‘cidade – mercadoria’, sustentada no lucro, nos grandes empreendimentos, e em uma espécie de limpeza da população que não pode ser absorvida, empurrando uma grande quantidade de pessoas para o sistema penal ou para a periferia. De outro lado, um projeto de cidade de direitos, que busca superar os problema de segurança pública, fundamentais para o Rio de Janeiro há décadas, construindo uma administração e políticas públicas que alterem o caminho hegemônico até então” (FRANCO, 2018, p. 26).
As rosas da resistência brotam do asfalto
Marielle foi a utopia das nossas ancestrais. Seu assassinato foi um recado à história da nossa luta que atravessa séculos. Denunciava o modelo de segurança pública, em que a polícia “figura como força reguladora e responsável pela manutenção da ‘ordem’ na favela”, bem como a forma como a ausência de efetivação dos direitos sociais atinge toda a sociedade e é responsabilidade do Estado, pois
“Decididamente […] cumpre um papel de agente para o mercado e não para a cidadania. Existe negligência e abandono desses territórios, de modo que grupos criminosos armados – o tráfico ou as milícias – acabam por impor a sua própria ordem […]” (Ibdem, p 46).
O gasto em segurança pública sob o viés mercadológico do Estado não contribui em nada para a resolução do problema. Atinge com balas de metralhadoras vidas negras e faveladas, como a do ajudante de pedreiro e pai de família, Amarildo Costa, a de Cláudia Ferreira, mulher negra, mãe, arrastada pelo camburão, e mais de 10 jovens mortos na chacina da comunidade do Fallet por uma operação do BOPE da Polícia Militar. Não existe segurança onde nossas vidas são o alvo.
Em seu último discurso proferido no dia 8 de março de 2018, Marielle criticou fortemente a Intervenção Militar no Rio de Janeiro, que seguia a mesma lógica das UPPs: a de criminalizar a favela como território declaradamente inimigo, enquanto na verdade deveria ser assegurada por políticas públicas de acesso a direitos.
“O embate pra quem vem da favela, e minha fala tava falando da violência contra as mulheres nesses 20 minutos, nós somos violentadas há muito tempo em muitos momentos. Nesse momento, por exemplo, onde a intervenção federal se concretiza na intervenção militar, eu quero saber como ficam as mães e as crianças revistadas, como que ficam as médicas que não podem trabalhar nos postos de saúde, como é que ficam as mulheres que não tem acesso à cidade?”
Marielle compreendia que a solução para os problemas das periferias não poderia ser mais armamento. Em tempos de crise, mais armas significa mais cortes de direitos para essa população; mais violência contra as mulheres; menos acesso à creche por parte das mães; menos acesso à escola por parte das crianças (que inúmeras vezes têm a aula interrompida por tiroteios, tendo que deitar no chão por horas como medida de proteção); mais dificuldade para os trabalhadores e trabalhadoras chegarem aos postos de trabalho, devido as ruas sitiadas, e mesmo assim ainda ter seus pontos cobrados. A Intervenção Militar no Rio de Janeiro foi uma vitrine para as classes dominantes. Enquanto nas favelas os batalhões invadiam casas e coagiam moradores, em bairros como Copacabana e Ipanema era comum ver os caminhões do exército passando como em desfiles.
Marielle foi filha de pais trabalhadores como tantas outras Brasil a fora. Foi mãe jovem, como a maioria das mulheres. Foi guerreira em superar as adversidades da vida e alçou voos longínquos que o racismo à moda brasileira não permite alcançar com facilidade. Marielle ocupou a política para representar o desejo de mudança e a construção efetiva de outra sociabilidade para os grupos sociais mais prejudicados pelo modelo de cidade-mercado: a negritude e as mulheres. Sua atuação enquanto parlamentar foi marcada também pela homenagem à Conceição Evaristo, escritora que viria a ser, no ano seguinte da homenagem que lotou a câmara de negritude em 2017, a primeira mulher negra a ser indicada para ocupar a Academia Brasileira de Letras.
Seus Projetos de Lei demonstravam de que lado ela estava. Do lado dos trabalhadores, das mulheres e da negritude. A começar pela questão da maternidade e da gestação. Como presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, elaborou uma série de políticas que combatiam as múltiplas violências sofridas pelas mulheres, como a violência obstétrica. Defendia a promoção da humanidade desde o nascimento, com o Projeto de Lei 0265/17 Casa do Parto, que prevê o modelo de parto humanizado e respeito à decisão da mulher. Devido a carência desses estabelecimentos em áreas faveladas, seriam essas as prioridades da Casa do Parto.
Outra iniciativa muito importante para as famílias trabalhadoras foi o Espaço Coruja (PL 17/17), que defende creches noturnas para que mães e pais tenham com quem deixar seus filhos menores e possam trabalhar com a segurança de preservação da vida do filho. Além desses dois PLs aprovados, a Mandata da Marielle conseguiu aprovar mais Leis, como o Dia Teresa de Benguela, dia da Mulher Negra no calendário oficial do Rio de Janeiro, o dia municipal de luta contra o encarceramento da juventude negra e a efetivação das medidas socioeducativas em regime semi-aberto ( PL 515/17), assim como o PL 417/17 Assédio não é passageiro, visando o enfrentamento ao assédio e a violência policial.
Marielle não foi a primeira entre as mulheres negras a entender a importância da luta coletiva como única saída possível para o fim do racismo e do machismo que estruturam a sociedade brasileira. Ela é fruto dessas lutas e seguirá semeando novas sementes.
O feminismo e a luta das mulheres negras: nasce o feminismo negro
Historicamente, a sociedade capitalista se configurou a partir de divisões sociais e políticas que colocaram as mulheres numa relação de submissão e desigualdade. O patriarcado impôs a divisão social do trabalho, colocando para as mulheres o papel do trabalho doméstico e de reprodução dos filhos – forma de dominação capitalista em que é fundamental o controle do corpo, dando bases para a acumulação primitiva de capitais (pois a domesticação sobre os corpos das mulheres sempre foi fundamental para o controle da produção de mão-de-obra). Foi dessa forma que a estrutura de domínio machista se desenvolveu, a qual ideologicamente impõem relações de exploração e subjugação dos homens sobre os corpos das mulheres.
Há um elemento importante ainda em relação às mulheres negras. Estas, durante e após a abolição, trazem à tona o significado do trabalho escravo para o feminismo, visibilizando as condições similares no pós-abolição, abordando a divisão racial e sexual, o racismo e o sexismo. Angela Davis, em Mulher, Raça e Classe, de um lado, reflete que a abolição não significou de fato o fim da escravidão e, de outro, mostra a mulher negra como a primeira a trabalhar fora de casa.
Tais condições nunca foram aceitas pelas mulheres, e durante vários momentos históricos muitas lutas foram travadas por emancipação e igualdade de direitos. Podemos, por exemplo, destacar as conquistas feministas durante as diferentes “ondas do feminismo”.
Cada momento histórico tem suas particularidades — e as mulheres de cada época tinham demandas diferentes. Assim, uma das formas de agrupar mulheres numa determinada “onda” do feminismo é de acordo com suas demandas. Outra forma de identificar as “ondas” é cruzando as ideias defendidas pelas mulheres denominadas feministas com seus momentos históricos. As primeiras reivindicações reconhecidamente feministas foram pelos direitos que, no final do século XIX e início do século XX, eram considerados “básicos”: o voto, a participação política e na vida pública — porque, vale lembrar, o lugar da mulher sempre foi dentro de casa. As feministas da primeira onda questionavam a imposição de papéis submissos e passivos às mulheres.
Há um feminismo de primeira onda, portanto, que além de lutar por esses direitos políticos, lutou por algo ainda mais básico — a abolição da escravatura (e aqui ressaltamos o papel de Sojourner Truth). Mulheres negras feministas sempre existiram, desde a primeira onda; e, justamente por serem negras, sempre analisaram sua condição enquanto mulheres também sob o prisma do racismo. Porém, devido as contradições dentro do feminismo e suas divergências internas, a pauta da abolição não era consensual dentro da primeira onda. As mulheres brancas estadunidenses, por exemplo, reagiram contra o movimento abolicionista, alegando, basicamente, que o ganho da liberdade por parte dos homens negros resultaria em perda de direitos para elas. Então, ao mesmo tempo que lutavam por direitos para si mesmas, algumas participavam de grupos como o KKK, por exemplo.
As feministas da segunda onda e as mulheres socialistas e marxistas se uniam em diversas pautas: a crítica à dupla/tripla jornada de trabalho das mulheres, à diferença de ganhos econômicos entre homens e mulheres, e à divisão sexual do sistema educacional e do mercado de trabalho. Autoras como Sheila Rowbotham e Angela Davis exploraram essas questões, sendo que esta última expandiu a discussão para incluir também na discussão de gênero as variáveis de raça e de classe.
Apesar disso, a maioria das autoras e das militantes feministas ainda eram brancas (e, muitas vezes, inseridas na academia — ou seja, de classes mais altas), o que gerava análises consideradas insatisfatórias ou incompletas para outros grupos de mulheres, que reivindicavam que suas identidades específicas para além da mulheridade também fossem contempladas. Assim, mulheres lésbicas, da classe trabalhadora, e, principalmente, negras, deram início ao que podemos chamar de um feminismo identitário. Essas feministas entendiam que as diferenças existentes entre mulheres (de classe, raça/etnia e sexualidade, principalmente), apesar de contingenciais, são decisivas e constitutivas de suas identidades, de suas experiências e de sua opressão.
É nesse cenário que o feminismo negro cresce enquanto vertente independente; pois, ao mesmo tempo em que as feministas negras se apoiavam em análises materiais, empíricas e históricas para explicar sua opressão, também fortalecem a busca pela ancestralidade — para fins, justamente, de fortalecimento da própria identidade negra, e, mais especificamente, de mulher negra. O processo de exclusão e opressão que incide sobre as mulheres negras combina elementos do racismo, do machismo e dos preconceitos de classe, o que as coloca em condição de exploradas tanto no mundo do trabalho como na esfera da sexualidade. São elementos que foram secundarizados e invisibilizados por um longo período da luta feminista.
O processo de exclusão e opressão que incide sobre as mulheres negras combina elementos de racismo, machismo e preconceitos de classe, o que as coloca em condição de exploradas tanto no mundo do trabalho, como na esfera da sexualidade. Como bem lembra Silva (2013, p. 109), as discriminações de raça e gênero produzem efeitos imbricados, ainda que diversos, promovendo experiências distintas na condição de classe e, no caso, na vivência da pobreza, a influenciar seus preditores e, consequentemente, suas estratégias de superação. Nesse sentido, são as mulheres negras que vivenciam estas duas experiências, aquelas sempre identificadas como ocupantes permanentes da base da hierarquia social.
Apesar disso, e a despeito de que a história do sistema escravagista continua a reafirmar o lugar das mulheres negras na base da pirâmide social, desde o período colonial estas mulheres buscaram formas de resistir e de se organizar. Isso porque, com o crescimento do capitalismo (questão que forçou a abolição) no pós-abolição, criou-se uma política de imigração para a mão-de-obra assalariada, não incluindo a população negra, o que gerou a institucionalização da desigualdade racial na estrutura política de vários países, inclusive no Brasil. Essa questão é vista, conforme nota Kabengele Munanga (2006), por meio de mecanismos legislativos, como as políticas segregacionistas, nos genocídios e na tentativa de extermínio da população negra, naturalizando tais práticas.
No trabalho escravo, as mulheres negras experimentaram a igualdade com os homens, na produção, na força, nas surras, muitas das quais seguidas de morte, predominando múltiplas violências às mulheres, pelo sexo, estupro, reprodução e lactação. Contudo, esse estudo aponta algo que se opõe a diversos trabalhos sobre a temática – a insubmissão dos/as escravizados/as, durante e no pós-abolição, e aponta como marco o movimento antiescravagista, o qual originou o feminismo negro, apesar da inclusão de mulheres brancas (DAVIS, 2016, p. 47). Por não terem experiências, as feministas brancas, no século XIX (por volta de 1840), aderiram ao movimento antiescravagista feminino (com a fundação, em 1833, da Sociedade Antiescravagista Feminina da Filadélfia), apresentando outros objetivos em suas pautas: a igualdade com os homens/brancos. Porém, tal adesão deu visibilidade ao feminismo, motivo pelo qual é considerado o marco feminista nos Estados Unidos. Nessas diferenças de objetivos entre as mulheres, as causas das feministas negras ficaram subsumidas, enfraquecendo o feminismo negro, até o alcance dos desígnios das brancas.
Aconteceram vários encontros e convenções para os direitos de todas as mulheres (DAVIS, 2016, p. 61-63), porém neles prevaleciam os direitos para as mulheres brancas, requerendo principalmente o voto, com a proposta do sufrágio, sendo derrotadas na primeira Convenção. Nesta, ficou evidente a ausência das mulheres negras devido ao racismo e supremacia racial branca. É considerável muitas contribuições das feministas brancas, como, por exemplo, a tentativa de incluir pessoas negras na educação, até mesmo de criar escolas exclusivas para a raça e universidade para formar professoras negras, cujas ações foram corriqueiramente combatidas. Do outro lado, há descrições de alianças de feministas brancas à estrutura racista, em defesa irrefutável pela supremacia e superioridade de sua raça e dos racismos.
O significado da emancipação para as mulheres negras é resultado de toda uma história de exploração e opressão sobre os corpos pretos, em que consta que a escravidão e o racismo continuam fortes no pós-abolição. As mulheres negras, ficaram restritas aos serviços domésticos das casas dos brancos, nos serviços pesados nas lavouras, nos trabalhos mais precarizados, seguindo a violência e estupros no trabalho, com a conivência muita das vezes das mulheres brancas. Entretanto, compreende-se que, o feminismo negro se impõe na sociedade de forma mais concreta nos anos 1980, aliando militância e academia. Nesse contexto, ganha força ao introduzir a questão da interseccionalidade.
O feminismo negro norte-americano surgiu, nessa perspectiva de resistência e organização, quando teóricas e militantes afrodescendentes como Patricia Hill Collins, Bell Hooks, Kimberle Crenshaw e Audre Lorde pontuaram que o feminismo tradicional não conseguia responder aos anseios das mulheres negras porque reduzia a categoria mulher a uma identidade única e fixa.
Na direção contrária, as mulheres negras apontavam a interseccionalidade como uma estratégia analítica necessária para uma melhor compreensão do entrelaçamento entre as múltiplas identidades – de gênero, racial, de classe, de orientação sexual etc. – passíveis de serem assumidas por um indivíduo ou grupo.
No Brasil, o feminismo negro nasce na década de 1970, dentro do movimento negro, no qual várias mulheres questionam a falta de protagonismo político, colocando a necessidade de debater desvios machista dentro do movimento e também a secundarização de suas pautas. Muitos grupos de mulheres sentiam necessidade de se organizar para fortalecer sua militância, porém encontravam contradições dentro do movimento negro, como a dificuldade de pautar as opressões machistas que sofriam. E no movimento feminista encontravam empecilhos para pautar a luta antirracista. Essa combinação de entraves políticos fez com que boa parte da militância de grupos de mulheres negras se desenvolvessem de forma independente e criassem referência na produção política de muitas intelectuais negras norte-americanas. O que diminui, nesse período, a potência política que esse movimento poderia ter dentro da história do feminismo no Brasil, haja visto o índice de mulheres negras na população brasileira. Um desses exemplos podem ser verificados principalmente no que diz respeito aos Encontros Nacionais de mulheres no Brasil e a participação das mulheres negras.
Em 1985, a relação das mulheres negras com o movimento feminista se estabelece a partir do III Encontro Feminista Latino-americano ocorrido em Bertioga. A partir daí, cresce o número de Coletivos de Mulheres Negras, época em que aconteceram alguns Encontros Estaduais e Nacionais de Mulheres Negras. A organização atual de mulheres negras com expressão coletiva emerge no sentido de adquirir visibilidade política no campo feminista, especificamente no referido encontro em Bertioga. O fato marcante tocado no relato de todas as participantes é a cena que se estabelece uma tensão quando chega um ônibus do Rio de Janeiro lotado de mulheres negras que não estavam inscritas no Encontro e queriam dele participar. Do total de 850 participantes, 116 mulheres inscritas se declararam como negras e/ou mestiças. Em momentos anteriores, porém, há vestígios de participação de mulheres negras no Encontro Nacional de Mulheres.
A apresentação do Manifesto das Mulheres Negras durante o Congresso de Mulheres Brasileiras em junho de 1975 marcou o primeiro reconhecimento formal de divisões raciais dentro do movimento feminista brasileiro. Porém, como o Manifesto de Mulheres Negras sugeriu, qualquer suposta unidade entre mulheres brasileiras de raças diferentes já era alvo de debate. O manifesto chamou atenção para as especificidades das experiências de vida, das representações e das identidades sociais das mulheres negras e sublinhou o impacto da dominação racial em suas vidas. Além disso, ao desmascarar o quanto a dominação racial é marcada pelo gênero e o quanto à dominação de gênero é marcada pela raça, o manifesto destacou que as mulheres negras foram vítimas de antigas práticas de exploração sexual (CALDWELL, 2000, p. 97-98).
Nubia Moreira afirma que, a partir do encontro ocorrido em Bertioga, se consolida entre as mulheres negras um discurso feminista, uma vez que em décadas anteriores havia uma rejeição por parte de algumas em aceitar a identidade feminista. Essa negação, embora persista após Bertioga, tende a ganhar menos força, pois, uma das reivindicações do movimento de mulheres negras durante o período de 1985 a 1995 era a construção de uma identidade feminina negra. E dois anos após o Encontro de Bertioga, já em 1987, no IX Encontro Nacional Feminista em Garanhuns/PE, a participação de mulheres negras foi quantificada em 200 que, além de denunciarem a ausência de debates sobre a questão racial, ainda promoveram reuniões no interior daquele encontro para discutir suas questões específicas.
As bandeiras do feminismo negro buscavam enegrecer as pautas feministas e debater as demandas cotidianas das mulheres negras. Isso está ligado com pautas que dizem respeito a moradia, educação, creches, desemprego, violência, etc. Em contrapartida, boa parte do movimento feminista não enxergava nessas pautas uma prioridade para o debate de mulheres. O que de certa forma negava a necessidade de sobrevivência das mulheres negras. Para as feministas negras, o debate de direitos ao corpo e direitos civilizatórios eram insuficientes pois, para elas, havia um debate anterior que a sociedade brasileira ainda não havia superado: o reconhecido das mulheres negras na condição social de mulheres com acesso a direitos e visibilidade política. Conquistas que, para as mulheres brancas, atualmente não são negadas.
A proximidade do movimento de mulheres negras com o movimento feminista apresenta alguns conflitos no que diz respeito a condução das demandas prioritárias; contudo é o feminismo que vai dar sustentação político-prático para as organizações das mulheres negras, “pois a mulher negra, ao perceber a especificidade de sua questão, se volta para o movimento feminista como uma forma de armar de toda uma teoria que o feminismo vem construindo e da qual estávamos distanciadas” (BAIRROS, 1988, s/p).
A tensão entre o movimento de mulheres negras e o feminismo “que faz uma leitura do cotidiano e do imaginário das mulheres de classe média” é contemporâneo à crítica ao modelo de identidade feminina universal abstrata que se instaura no interior do feminismo através das vozes de outras mulheres que não se sentiam representadas por essa identidade.
O avanço da luta das mulheres negras na década de 1980 representou um marco no avanço da luta do feminismo negro no Brasil, pois, os grupos organizados por mulheres negras passaram a ter uma intervenção mais ampla no cenário político nacional. No Rio de Janeiro, o grupo conhecido como Nizinga, que se formara em 1983, apresentava em sua composição mulheres de classe média, embora tivesse entre seus quadros mulheres pobres.
Segundo uma das suas militantes, esse grupo tinha como objetivo articular a discussão de gênero e raça. Sua duração encerra-se com a participação no II Encontro Feminista Latino-Americano e do Caribe (LEMOS 1997). Outro grupo que vai ter uma atuação forte também na cidade carioca é o Coletivo de Mulheres de Favela e Periferia (CEMUFP), que é marcado fortemente por um conteúdo classista. Já em São Paulo, a organização das mulheres negras é marcada com uma aproximação com as instâncias do Estado.
Ainda há registro de outros grupos autônomos e institucionais no Estado de São Paulo tais como: Coletivo de Mulheres Negras de São Paulo, Coletivo de Mulheres Negras da Baixada Santista; o grupo de Mulheres Negras do Movimento Negro Unificado (MNU); a Comissão de Mulheres Negras do Conselho Estadual da Comissão Feminina de São Paulo; o Programa da Mulher Negra do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.
Todas essas organizações estiveram presentes nos encontros e seminários nacionais de mulheres negras que foram realizados entre a segunda metade da década de 1980 e a primeira metade década de 1990. Porém, os encaminhamentos dos diversos questionamentos levantados por cada uma dessas organizações convergiram para a construção e realização do I e II Encontro Nacional de Mulheres Negras, respectivamente em 1988 no Rio de Janeiro e 1991 em Salvador.
O I Encontro Nacional de Mulheres Negras (1988) foi realizado no interior do estado do Rio de Janeiro na cidade de Valença, contando com a participação de 450 militantes de 17 estados da federação. Teve como principal eixo o debate dos 100 anos da falsa abolição da escravidão no Brasil. Esse encontro aponta para a construção da visibilidade e da representação da organização das mulheres negras frente à sociedade, ao movimento negro e ao feminismo; sendo esses dois considerados como os espaços de aprendizagem política da maioria das militantes. Contudo, do ponto de vista da organização das mulheres negras, o entendimento e a inter-relação de raça, classe e gênero tem sido objeto de um debate cheio de obstáculos.
O II Encontro Nacional de Mulheres Negras, com o tema “Organização, Estratégias e Perspectivas”, reuniu em Salvador 430 mulheres de 17 estados do país e teve como principal objetivo a definição de um Projeto Político Nacional que respondesse a situação da mulher negra, levando em consideração a diversidade social, cultural e política da sociedade brasileira.
É a partir desse Encontro, 1991, que a questão da unicidade de mulher negra é apresentada. Seguindo as concepções políticas presentes no relatório, transcrevemos:
“A nossa sociedade é plural, racista e machista. Todas nós somos frutos desta estrutura social e educacional que nos conduz a práticas e ações às vezes determinadas pela nossa formação. A organização de mulheres negras não está isenta destas interferências. Por isso, não constituímos um grupo unitário tanto em nível de concepção política, quanto de metodologias de trabalho” (RELATÓRIO DO II ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES NEGRAS, p. 4).
Nubia Moreira, relata que o movimento de mulheres negras demarcava sua identidade (abstraindo outros marcadores) através do contato e experiência de vida com o racismo. Para efeitos de comprovação, a pele negra (isto é, a condição de negras inscrita no corpo) era o elemento identificador dessa mesma condição, que em contraste com as feministas brancas, determinavam a diferença, ao mesmo tempo em que legitimava a representação no campo político.
A pauta das mulheres negras se fortaleceu dentro do que chamamos de terceira onda. Em 1989, Kimberlé Creenshaw introduziu à luta feminista a ideia de interseccionalidade enquanto uma ferramenta para que mulheres atingidas por vários tipos diferentes de opressão (raça, classe, sexualidade) pudessem analisar sua condição de forma a evitar a universalização do conceito de mulher e reconhecer as variedades de identidades e experiências de mulheres, rejeitando, de forma geral, quaisquer tentativas de identificação de objetivos comuns, padronizados, porque sequer se reconhece enquanto um movimento coletivo. A partir dos anos dois mil, até os dias atuais, as pautas feministas invadiram as redes sociais e todas os feminismos vieram a tona de uma só vez.
É atual o debate sobre gênero, sexualidade, direito ao corpo e, principalmente, quem são as mulheres do mundo contemporâneo e que acesso aos direitos essas mulheres têm. Nesse debate, o corpo de mulher preta e o reconhecimento das mulheres trans engrandeceram as pautas da terceira onda.
No nosso caso, o feminismo negro brasileiro tem adquirido inserção nas redes sociais, alcance e multiplicação de informação através do compartilhamento de textos políticos. Desprovidos de grandes análises intelectuais, os textos das redes buscam encontros de histórias e contextos de vidas próximos. Demandas que se encontravam e ecoavam para os diversos encontros. O local de fala da geração que se chamou de tombamento buscou um novo olhar de dentro para fora do reconhecimento do corpo preto como corpo feminino que se deve respeito, mas ligado a autoimagem de satisfação e orgulho das raízes e ancestralidade.
Nas redes sociais, muitas histórias pautaram o encontro das demandas feministas e racistas de forma muitas vezes combinada. Milhares de mulheres negras, principalmente jovens, têm utilizado as plataformas digitais para narrar histórias sobre a presença do racismo e do machismo em suas vidas: são blogs, sites, Twitter, canais de Youtube e páginas de Facebook que têm ganhado um alcance imensurável e formado uma rede de informações e compartilhamentos sobre tais histórias (MALTA, 2016). Através das redes sociais, os discursos e narrativas desse segmento têm saído da invisibilidade, ganhado notoriedade entre os mais diversos públicos e, com isso, tornado visíveis as suas demandas relacionadas ao combate ao racismo e ao machismo cotidiano.
Com as novas plataformas midiáticas e o aceleramento do surgimento de novas tecnologias da informação, as formas de sociabilidade também foram modificadas e ampliadas. O que estamos acompanhando nesse século XXI, mais especificamente desde o final do século passado, é a consolidação de uma sociedade em redes sociais onde inúmeras e variadas discussões sociais estão sendo pautadas e travadas. Relacionando-as aos processos de mudança, Sônia Aguiar (2008, p. 15) define as redes sociais da seguinte forma:
“São métodos de interação que sempre visam algum tipo de mudança concreta na vida das pessoas e/ou organizações envolvidas, seja na busca de soluções para problemas comuns, na atuação em defesa de outros em situações desfavoráveis, ou na colaboração em algum propósito coletivo. As interações de indivíduos em suas relações cotidianas – familiares, comunitárias, em círculos de amizades, trabalho, estudo, militância etc. – caracterizam as redes sociais informais, que surgem sob as demandas das subjetividades, das necessidades e das intensidades. Concordando com esta autora, entendemos que as redes sociais são uma ferramenta importante para que indivíduos e grupos possam atuar como agentes de transformação”.
Nesse contexto, diversas pautas do movimento negro se encontraram nas redes sociais através do que chamamos de do ciberativismo (como, por exemplo, os grupos de conversa no Facebook sobre cabelos crespos e cacheados que tem surgido nos mais diversos estados e cidades). A iniciativa partiu de um pequeno número de pessoas que, após fomentar um primeiro encontro, conseguiu congregar um número maior de pessoas atraídas pela discussão sobre cuidados capilares. Esse tema, por sua vez, fez emergir reflexões sobre raça e gênero, posto que não é possível dissociar essas questões quando se aborda a estética da mulher negra, que é historicamente rechaçada como modelo de beleza em uma sociedade racista. Além disso, a interação nos grupos deu origem a encontros presenciais, responsáveis por criar as conexões entre as participantes em momentos como as oficinas de turbante, a constatação de histórias africanas, a troca de produtos capilares e tantas outras atividades que contribuem para o empoderamento dessas mulheres e para o conhecimento da história da população afro-brasileira.
A Marcha do Empoderamento Crespo coloca em evidência outro perfil de militância antirracista. Formada em sua maioria pela juventude, a marcha reacende a estética como forma de enfrentamento e de reconhecimento social. No Brasil, onde sabemos que vigora o racismo denominado por Oracy Nogueira (2006) como racismo de marca – quanto mais características negróides a pessoa tiver, mais racismo ela sofre -, uma Marcha que se propõe a enaltecer as características da população negra e denunciar as diversas formas de racismo subverte a lógica hegemônica e coloca as pautas e anseios das mulheres negras na ordem do dia.
É importante evidenciar que o uso das redes sociais pelos diversos movimentos negros retomou demandas e campanhas que surgiram no início dos anos 1980, no âmbito do MNU, como a “Reaja ou Será Morto”, que denunciava a violência policial e o extermínio da população negra. Apesar de se tratar de um mote do movimento negro como um todo, sabemos que o extermínio atinge sensivelmente as mulheres negras, pois quando estas não são vítimas diretas desse extermínio, são vítimas indiretamente, quando vêm seus filhos, maridos, irmãos e outros homens de sua família serem exterminados.
Os anos de 2014 e 2015 foram marcados por marchas que aconteceram em todo país, exigindo o fim do extermínio da juventude negra. Foi nesse contexto que a campanha “Reaja ou Será Morto” e “Reaja ou Será Morta” ressurgiu. Ela vem sendo organizada através das redes sociais, impulsionada principalmente pelos movimentos de mulheres negras. A 1ª Marcha Nacional de Mulheres Negras, realizada em novembro de 2015, em Brasília, foi organizada e planejada em reunião presencial com diversas organizações e movimentos sociais. Contudo, foi através das redes sociais que ela conseguiu arregimentar militantes dos mais diversos estados. Além disso, as informações eram difundidas por meio das páginas do Facebook, o que facilitou a comunicação entre a comissão organizadora e as militantes.
Nossos passos vem de longe: o que é ser mulher negra no Brasil
Embora as cicatrizes provenientes das correntes e chicotes não marquem mais fisicamente o povo negro, atrofiam sua liberdade a partir das consequências do sangrento e vexatório período escravista brasileiro. O papel delegado à negritude na história do Brasil foi o da servidão compulsória, independente das histórias, culturas e desejos desses povos. Em decorrência da estruturação racial hierárquica, suas angústias foram suprimidas e, desde então, situados na base da pirâmide social, estão vulneráveis às senzalas modernas e a novas formas de segregação, marginalização e genocídio.
As feridas, que seguem abertas e latentes, hoje sangram pelo descaso. As heranças patriarcais e racistas limitaram a existência da negritude à luta por sobrevivência, ao ceifarem vidas direta ou indiretamente, seja com o encarceramento, com o assassinato naturalizado nas periferias ou com a retirada de direitos. Os vestígios dos 358 anos de desumanização ganham novos contornos e, a casa grande, novos senhores.
A eleição de Bolsonaro, o mesmo que afirma não ter havido escravidão no Brasil após relativizar o tráfico humano durante esse período, é a prova de que ainda há, no imaginário coletivo de grande parcela da sociedade, uma hierarquização racial legitimada pelas consequências da condição social da negritude. Essa inversão lógica, a qual distorce a realidade a fim de encaixá-la nas análises conservadoras, vem sendo cara para negras e negros: o país que elegeu Bolsonaro é o mesmo que revela desigualdades raciais gritantes tanto no âmbito trabalhista, quanto no econômico e social.
Nesse contexto, as mulheres negras se tornam alvo principal. Adoecidas, pois todos os ataques à classe trabalhadora e a juventude as atingem substancialmente. Morrem, pois sentem o sangue escorrer de tais feridas abertas ao confronto cotidiano com racismo, machismo e sexismo em todas suas relações – sejam estas pessoais ou profissionais. De acordo com o balanço sobre os 10 anos da Central de Atendimento à Mulher (180), elaborado pelo então Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, as mulheres negras representam a maioria das vítimas que utilizaram o serviço em 2015 (58,55%). Além disso, segundo o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência (IVJ) de 2017 pontua que jovens negras têm 2,19 vezes mais risco de serem assassinadas no Brasil do que jovens brancas.
A suscetibilidade à violência e à feminicídios é mais uma consequência do descaso histórico com o desenvolvimento socioeconômico dessas mulheres. As políticas econômicas prioritárias, em contrapartida, tanto de Temer quanto de Bolsonaro, como a reforma trabalhista e a lei das terceirizações, revelam-se enquanto estratégias cruéis de aprisionamento a novas correntes e, no âmbito familiar, as mulheres negras são condicionadas à relações abusivas, nas quais há não somente a dependência financeira, mas também emocional.
Por isso, a emancipação das mulheres negras passa não somente pela luta antirracista e feminista, é preciso que seja também anticapitalista. Simone de Beauvoir, filósofa feminista branca, reiterou que as mulheres deveriam se manter vigilantes pois, em toda crise política, econômica ou religiosa, os seus direitos, não permanentes, entravam em situação de risco. Expandindo essa análise para a realidade de mulheres negras brasileiras, há como afirmar que não é sequer necessária uma crise para direitos estejam em risco no capitalismo: o mais interessante para os de cima, inclusive, é que meninas e mulheres negras se mantenham sem direitos, para que eles sejam permanentemente usurpados enquanto moeda de troca.
Entre 2014 e 2017, no período de recessão econômica, as mulheres negras foram as mais demitidas, por exemplo. A taxa de desocupação desse grupo passou de 9,2% para 15,9% segundo o IBGE, 80% maior do que no período anterior à crise econômica, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Essa última pesquisa ainda sinaliza que as mulheres negras são 50% mais suscetíveis ao desemprego do que outros grupos. Em outras palavras, esses dados atestam não somente sua localização na pirâmide social, mas revelam que as mulheres negras correm sério perigo frente à reestruturação do capitalismo a partir do processo das terceirizações.
Quando as empresas terceirizam e transferem os riscos e os custos com a contratação da força de trabalho para outra empresa, transferem a responsabilidade também em relação aos direitos dos trabalhadores. E para as mulheres negras essa realidade é ainda mais dura, uma vez que aproximadamente 70% dessas mulheres, localizadas nas maiores capitais do Brasil, ocupam os setores de serviços terceirizados, de acordo com a Pesquisa e Emprego e Desemprego (PED).
Tais dados se agravam quando relacionados com a relação estabelecida no ambiente de trabalho entre homens e mulheres. De acordo com o estudo “Violência e Racismo” do instituto Patrícia Galvão, nós constituímos a maioria das vítimas de assédio moral e sexual no trabalho. Essa estatística é mais um agravante quando inserida na realidade das terceirizações, uma vez que o vínculo empregatício empresa versus trabalhador é substituído por empresa versus empresa, retirando dessas mulheres qualquer possibilidade de denunciar casos de assédio, racismo, violência e abusos.
Assim como a reforma trabalhista, que abriu espaço para as terceirizações, a Reforma da Previdência – prioridade total do governo Bolsonaro em 2019 – é inimiga número 1 das mulheres negras. Ao retirar a diferença entre o tempo de contribuição e aumentar a idade mínima, tal reforma ignora como um todo que, na divisão sexual do trabalho, as mulheres negras ocupam uma posição de maior desgaste físico e mental, com a dupla e às vezes tripla jornada de trabalho, cuidando do lar e dos filhos, além de ocuparem, em grande maioria, os subempregos.
A reforma da previdência coloca nas costas das mulheres negras uma responsabilidade que não é sua: reduzir o déficit público, retirando um direito histórico dos trabalhadores. E em um país em que a expectativa de vida das mulheres negras não chega aos 70 anos (IPEA), essa reforma as sentencia à morte trabalhando. Em manutenção nesse processo encontra-se, então, os privilégios da Casa Grande, políticos, militares, juízes, e a localização da negritude nas senzalas modernas.
Famílias pretas: da maternidade à luta por justiça
O cenário de retirada de direitos trabalhistas, pouca abertura de oportunidades e falta de perspectiva de futuro para a juventude retira, também das mulheres negras, o direito à família. Além da exaustiva jornada de trabalho, em sua maioria precarizado, o acesso à saúde pública é também deficitário, especialmente durante a maternidade. Dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/MS) indicam que 62,8% das mortes maternas são negras, em decorrência de situações que poderiam ser evitadas com maior atenção no pré-natal e durante o parto.
Esses índices atestam o quanto o racismo institucional está enraizado na sociedade brasileira. O atendimento à saúde, deficitário em diversas perspectivas, é aflorado pelas desigualdades raciais e afastam, assim, as mulheres negras de sua procura. A limitação do cuidado se dá, por exemplo, após a violência. E também nesse quesito são as mulheres negras as principais vítimas: de acordo com a mesma pesquisa do SIM/MS, 65% dos casos de violência obstétrica foram relatados por mulheres negras.
O governo Bolsonaro colocou, no entanto, como um dos pilares de sua campanha e agora de seu mandato, a defesa da família. O ministério que outrora se chamava Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos agora adquiriu um novo nome: Mulher, Família e Direitos Humanos. Além de retirar de seu nome a igualdade racial (o que é muito simbólico para um presidente que acredita que a população quilombola que resiste bravamente há séculos é inútil), reduziu todas as mulheres a um singular, uma classificação única do que é ser mulher.
Hoje essa pasta está nas mãos de Damares Alves, uma mulher vítima de violência sexual na infância que, ao não receber o apoio psicológico e jurídico adequado, internalizou a violência, criou uma narrativa cruel em relação a tudo o que lhe é estranho e externalizou suas dores culpabilizando as vítimas e quem luta por justiça. Damares, embora defenda exatamente o contrário, é o exemplo de quão danosa pode ser uma violência curada com doutrinação.
Entretanto, como bem demarcado pelo filósofo Vladimir Safatle, o modelo de sofrimento psíquico da população é também um modelo de gestão econômico da sociedade. Damares, enquanto ministra de direitos humanos e família, agirá como uma trava para as lutas pelas famílias reais, as famílias brasileiras, especialmente as famílias negras e indígenas. Sua defesa de família perpassa por colocar enquanto prioridade determinar papéis de gênero e atacar diretamente quem não se enquadrar em suas análises fundamentalistas, ignorando que na maioria das famílias hoje as principais demandas são, na verdade, de cunho socioeconômico e psicológico.
É sabido, por exemplo, que 77% dos jovens vítimas de homicídio por ano são negros, segundo a Anistia Internacional. Com todo esse contexto de violência, surge uma incansável luta pelo direito à vida e por justiça: a luta das mães das favelas e periferias. E essas mães são em maioria mulheres negras, que são as “chefes” da casa e que sustentam seus filha/os sozinhas.
Outra questão em cerne para essas mães é a falsa guerra às drogas, que tem endereço e também tem cor. Como um ciclo vicioso recorrente nas periferias, jovens e crianças entre 10 e 16 anos acabam abandonando a escola por falta de incentivo público, uma vez que estas são precarizadas. Há falta de investimentos em suas infraestruturas, carência de materiais e professora/es, além de pouca (ou nenhuma) perspectiva de inserção no mercado de trabalho – o que ajudaria também nas despesas de casa. Enquanto poucos buscam cursos profissionalizantes, os quais o acesso também é restrito, outros são iludidos pelo tráfico de drogas por vislumbrarem uma vida melhor enquanto se está vivo.
Porém, esses jovens não estão sozinhos: com eles, adoecem as mães pretas, especialmente por possuírem a certeza de que essa batalha teria solução, se não houvesse tantas pessoas ganhando com isso. A cada corpo que tomba, chora uma mãe, pois o medo aterrorizador de que a próxima vítima da “bala perdida” seja o seu filho é constante, uma vez que essas balas só acham os corpos pretos das favelas. Enquanto isso, ainda na distorção da realidade para que ela caiba nas análises rasas do conservadorismo, o atual governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirma que é preciso dar tiro na “cabecinha” de quem estiver com fuzil na mão – condenando a morte não somente jovens (que podem, na realidade, estar portando guarda-chuvas, como o jovem trabalhador morto no Rio de Janeiro) mas também famílias inteiras, em especial as mães.
O genocídio desses jovens e, consequentemente, a morte simbólica das mães e da família, reflete em suma o racismo estrutural que corrói o sistema punitivo brasileiro. A seletividade racial que enclausura jovens no Brasil é constante na história de um país que enjaulou, por séculos, a população negra, a vendeu como mercadoria e hoje parece não estar satisfeitos com sua liberdade. As escolhas são simples: drones com metralhadoras ao invés de educação e cultura, extermínio em massa ao invés de cuidado e acolhimento, milícias ao invés de desmilitarização da polícia.
A naturalização da violência condiciona a sociedade ao não questionamento do encarceramento e assassinato em massa da juventude negra periférica, especialmente pois quem mais sofre de forma substancial essas perdas são mulheres negras. E a possibilidade de defesa radical dos direitos humanos, a fim de tornar inaceitáveis tais práticas, não encontrou espaço nos últimos anos e definitivamente não encontrará no governo Bolsonaro.
Marielle não morreu: virou semente
A morte de Marielle Franco acontece em um momento de muitos levantes pelo mundo. Ocuppy Wall Street, Primavera Árabe, Indignados da Espanha e as Jornadas de Junho são exemplos de batalhas contemporâneas que incendiaram a segunda década do novo milênio em todo o mundo. Movidos por indignações semelhantes, o que essa juventude tinha em comum era a certeza de que em suas mãos havia força e capacidade de mover as estruturas de poder. Assim como em todos esses processos, a Primavera Feminista ditou uma nova página do feminismo em todo o mundo. Todos os continentes entraram em sincronia no questionamento ao patriarcado, cada um de sua maneira, reservadas suas devidas demandas e marcos históricos.
No entanto, a Primavera Feminista, que tomou conta do Brasil em 2015, não somente foi vitoriosa em suas reivindicações, como também deixou sementes. A Marcha das Mulheres Negras, que reuniu 50 mil pessoas em Brasília de gerações distintas, demarcou que o movimento negro havia assumido novas formas e faces distintas: tinha o rosto de mulher preta. Em marcha, reivindicaram o direito à vida e à luta contra a violência, por respeito, direitos e valorização. A luta contra a retirada de direitos impulsionou o mote “Pílula Fica, Cunha Sai”, acelerando o desgaste de Eduardo Cunha (presidente da Câmara Federal nesse momento) e seus aliados políticos, e fortaleceu jovens meninas que se tornaram lideranças em outros processos de luta, como nas ocupações de escolas e universidades. Essas lideranças políticas também tinham novas formas: tinham, também, o rosto de mulher preta.
A movimentação do feminismo em direção a disputa de poder, na micro e na macro política, elegeu, no ano seguinte, rostos desconhecidos para ocuparem a política nas maiores cidades do país. A esperança na nova política, fruto das mobilizações e rua e em contraposição ao abandono das grandes cidades chegou à câmara dos vereadores. Em São Paulo, Sâmia Bomfim entrou na última vaga. Reeleita, Fernanda Melchionna no Rio Grande do Sul já havia provado de que lado estava, sendo a mais votada em Porto Alegre. Em Belo Horizonte, Áurea Carolina enegrecia a política, assim como em Niterói, com Talíria Petrone. E no Rio de Janeiro, Marielle Franco representava o que havia de mais efervescente da Primavera Feminista: jovens negras movendo as estruturas – como se chamou a última atividade a qual ela participou, em 14 de março de 2018.
Passado quase um ano de seu assassinato, os mandantes e os executores do caso Marielle ainda não foram presos. O que a justiça conseguiu identificar até agora é que dois milicianos envolvidos no Escritório do Crime suspeito no caso, foram homenageados pelo então Deputado Flávio Bolsonaro, que segue acusado de corrupção sem nenhuma indicação de investigação mais profunda por parte do poder público.
A luta por Justiça por Marielle assume o antagonismo ao projeto de poder do governo Bolsonaro. Ela agrega a luta por justiça dos setores mais oprimidos da sociedade brasileira desde quando nos entendemos por Brasil. A luta das mulheres trabalhadoras, filhas de mulheres indígenas e negras, alvo da misoginia, que estupra uma mulher a cada 13 minutos no Rio de Janeiro. A luta pela vida das mulheres negras que são guerreiras do nosso país, que sustentam suas famílias mesmo com toda precariedade, que burlam a morte e o descaso com a vida de seus filhos e maridos para fazer do luto, luta. Exigir justiça por Marielle é enfrentar e exigir a prestação de contas com a história de uma país profundamente racista, misógino e escravocrata que quer esquecer a escravidão para continuar a sugar o suor e sangue negro para seus lucros.
O movimento feminista negro brasileiro tem uma tarefa gigante nesse momento: o legado de Marielle não é apenas o de pedido de justiça, mas de uma nova forma de ocupar todos os fronts da política. As mulheres negras que estão nos piores postos de trabalho são, ao mesmo tempo, a maioria da população. Para Angela Davis, mulheres negras são, em si, resistência ao capitalismo. É preciso fazer sair dos cafés e universidades o debate sobre o feminismo, que já agita o país e o mundo cada vez mais, e chegar cada vez mais longe. O feminismo classista e revolucionário é a arma para que seja possível mudar as estruturas misóginas e racistas do capitalismo. Hoje, o racismo é central para a perpetuação do capitalismo como sistema de exploração da classe trabalhadora. Sem ele, não é possível justificar postos de trabalho precarizados, super exploração, educação de qualidade para poucos.
As mulheres negras podem e devem ser a chave para uma nova sociedade. Justiça para Marielle Franco e Anderson não se trata apenas de descobrir quem matou e quem mandou matar, mas também lutar para uma sociedade em que Marielles não sejam mais executadas. E é dentro dessa perspectiva também que é preciso lutar pela mudança estrutural do sistema. As mulheres negras não são apenas a chave de sua própria libertação, mas sim de uma nova sociedade.
Referências bibliográficas
CARNEIRO, S. “Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero”. In: ASHOKA EMPREENDIMENTOS SOCIAIS; TAKANO CIDADANIA (orgs.). Racismos contemporâneos. Rio de Janeiro: Takano Editora, 2003.
CARVALHO, Salo . O Encarceramento Seletivo da Juventude Negra Brasileira: a decisiva contribuição do Poder Judiciário. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, v. 67, p. 623-652, 2016.
CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. Estudos Feministas, v. 10, n. 1, p. 171-188, 2002.
DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016 [1981].
DUTRA, Israel ; CORRÊA, Bernardo. “Novo congresso toma posse: a luta recém começa”. Disponível em: <https://movimentorevista.com.br/2019/02/novo-congresso-toma-posse-a-luta-recem-comeca/> Acesso em 09 de fevereiro de 2019.
FRANCO, Marielle. UPP. A redução da Favela a três letras. Uma análise da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. São Paulo: N-1 edições, 2018.
GENRO, Luciana. “Da caça as Bruxas ao maio de 68: o corpo da mulher como terreno de luta”. Disponível em
<https://movimentorevista.com.br/2018/06/da-caca-as-bruxas-ao-maio-de-68-o-corpo-da-mulher-como-terreno-de-luta/ Acesso em 11 de fevereiro de 2019.
GONZALEZ, Lelia. Racismo e Sexismo na cultura brasileira. Rio de Janeiro, 1980.
MALTA, Renata. “Enegrecendo as redes: o ativismo de mulheres negras no espaço virtual”. Disponível em
<http://www.revistagenero.uff.br/index.php/revistagenero/article/view/811. Acesso em 06 de fevereiro de 2019.
MARCONDER, Mariana M.; PINHEIRO, L. S. (Org.); QUEIROZ, C. M. (Org.); A. C. Querino (Org.); VALVERDE, D. (Org.). Dossiê mulheres negras: retrato das condições de vida das mulheres negras no Brasil. 1a. ed. Brasília: IPEA, 2013.
MOREIRA, Núbia Regina. “Representação e identidade no feminismo negro brasileiro.Seminário Internacional Fazendo Gênero 7. Agosto de 2006 na UFSC. 2006.
_______.O Feminismo Negro Brasileiro. Um estudo do movimento de mulheres negras no Rio de Janeiro e São Paulo. Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de 179 Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP, 2007.
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.
PINHEIRO-MACHADO, Rosana. “A extrema direita venceu, as feministas, antirracistas e LGBT também”. Disponível em> <https://theintercept.com/2019/01/08/extrema-direita-feministas-antirracistas-lgbts/> Acesso em 09 de fevereiro de 2019
RODRIGUES, Petrônio. “Movimento Negro Brasileiro: alguns apontamentos históricos”. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/tem/v12n23/v12n23a07.pdf Acesso em de fevereiro de 2019.
VIANA, Cleia. “Feminismo cresce entre as mulheres negras e indigenas e diminui entre brancas aponta pesquisadora”. Disponível em <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/565155-FEMINICIDIO-CRESCE-ENTRE-MULHERES-NEGRAS-E-INDIGENAS-E-DIMINUI-ENTRE-BRANCAS,-APONTA-PESQUISADORA.html Acesso em 09 de fevereiro de 2019.
Este artigo faz parte da edição da Revista Movimento n. 11-12. Para ler todos os textos que compõem a edição, compre a revista aqui!