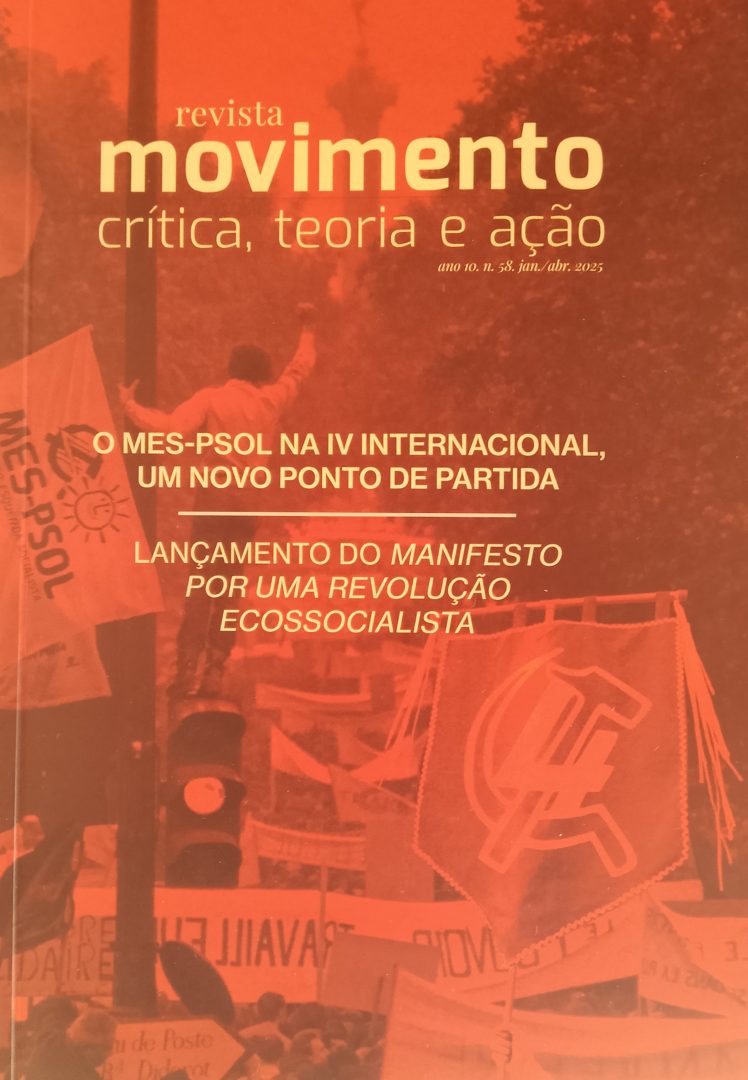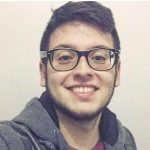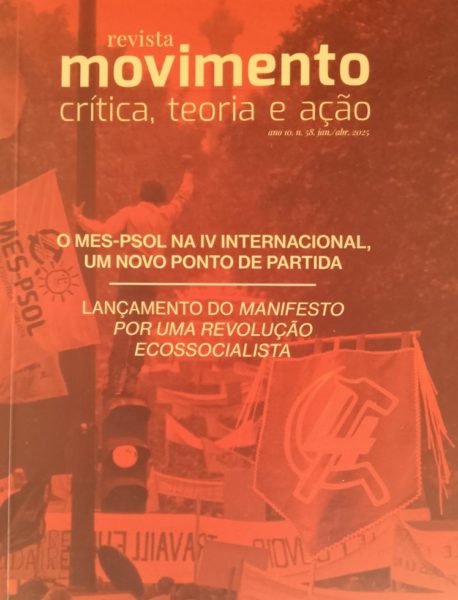Crise global, conflitos e guerras: que internacionalismo para o século XXI?
Entrevista com Pierre Rousset, ativista da IV International e coordenador do Europe Solidaire Sans Frontières, sobre a complexa situação mundial
Via Viento Sur
Pierre Rousset é coordenador do Europe Solidaire Sans Frontières (ESSF) e militante da Quarta Internacional. Ele é autor de obras e artigos sobre política internacional e, em particular, sobre a região do Leste Asiático, alguns deles publicados em viento sur. Conversamos com ele sobre a evolução da situação mundial nesses tempos particularmente turbulentos, que representam enormes desafios para a esquerda anticapitalista e ecossocialista.
Jaime Pastor: Parece claro que nos encontramos no contexto de uma crise mundial multidimensional, que tem como uma de suas características um relativo caos geopolítico, no qual estamos testemunhando uma multiplicação de guerras e um agravamento dos conflitos interimperialistas. Como você definiria esta fase?
Pierre Rousset: Você fala de uma “crise mundial multidimensional”, eu falaria de uma crise planetária. Acho que é importante parar e pensar sobre isso antes de abordar questões geopolíticas. Na verdade, essa crise está determinando tudo e não podemos mais nos contentar em fazer política como fazíamos antes. Estamos atingindo o ponto de inflexão que há muito temíamos – e muito mais cedo do que o esperado.
Jonathan Watts, editor de Meio Ambiente Global do The Guardian, soa o alarme com a manchete de seu artigo de 9 de abril ” O décimo recorde consecutivo de calor mensal alarma e confunde os cientistas do clima”. De fato: “Se a anomalia não se estabilizar em agosto, o mundo entrará em um cenário desconhecido, diz um especialista em clima (…). Isso pode significar que o aquecimento global já está mudando o funcionamento básico do sistema climático, e muito antes do que os cientistas previram”.
O especialista citado acima acredita que a estabilização ainda é possível em agosto, mas, seja qual for o caso, a crise climática já faz parte do nosso presente. Estamos em meio a ela e seus efeitos (o caos climático) já estão sendo sentidos de forma dramática.
A crise global que estamos enfrentando afeta todas as áreas da ecologia (não apenas o clima) e suas consequências sobre a saúde (incluindo pandemias), a ordem internacional dominante (as disfunções insolúveis da globalização neoliberal) e a geopolítica das potências, a multiplicação de conflitos e a militarização do mundo, o tecido social de nossas sociedades (enfraquecido pela precariedade generalizada resultante de tudo isso)….
O que todas essas crises têm em comum? No todo ou em grande parte, sua origem humana. A questão do impacto humano sobre a natureza certamente não é nova. No que diz respeito ao aumento das emissões de gases de efeito estufa, ele remonta à revolução industrial. Entretanto, essa crise geral está intimamente relacionada ao desenvolvimento do capitalismo após a Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, à globalização capitalista. Ela é caracterizada pela sinergia entre um conjunto de crises específicas que nos levam a uma situação sem precedentes, à beira de vários territórios inexplorados, e a um ponto de inflexão global.
Para descrevê-la de forma concisa, gosto do termo policrise. Ele pode ser um pouco confuso e estranho à linguagem cotidiana, mas ressalta o fato de que estamos falando de UMA crise multifacetada, resultado da combinação de várias crises específicas. Portanto, não estamos lidando com uma simples soma de crises, mas com sua interação, que multiplica sua dinâmica, alimentando uma espiral de morte para a espécie humana (e para grande parte das espécies vivas).
O que é particularmente ultrajante agora, e francamente surpreendente, é que as potências estabelecidas estão revertendo as poucas medidas que foram tomadas para tentar limitar minimamente o aquecimento global. Esse é particularmente o caso dos governos francês e britânico. É também o caso dos grandes bancos e empresas petrolíferas dos EUA. E isso em um momento em que estava claro que essas medidas precisavam ser reforçadas, e muito reforçadas. Os muito ricos estabelecem a lei. Eles pouco se importam com o fato de estarmos todos no mesmo barco. Regiões inteiras do planeta estão prestes a se tornar inabitáveis, onde os aumentos de temperatura são combinados com níveis muito altos de umidade no ar. Eles não se importam, vão viver onde o clima ainda é bom.
Entramos totalmente na era das pandemias. A destruição de ambientes naturais criou condições de promiscuidade favoráveis à transmissão de doenças entre espécies, das quais a Covid se tornou emblemática. O degelo do permafrost siberiano foi anunciado, o que poderia liberar bactérias ou vírus antigos contra os quais não há imunização ou tratamento. Aqui também corremos o risco de entrar em um território desconhecido: a crise climática está criando uma crise de saúde multidimensional.
A catástrofe era previsível e prevista. Sabemos agora que, em meados da década de 1950, as grandes empresas petrolíferas encomendaram um estudo que descrevia o aquecimento global vindouro com notável precisão (embora tenham negado o fato por décadas).
Ainda não terminamos de explorar as inúmeras facetas da policrise, mas talvez seja hora de tirar algumas conclusões iniciais.
É em torno dos polos que o impacto geopolítico do aquecimento global é mais dramático, especialmente no Ártico. Uma rota marítima interoceânica para o norte está se abrindo, juntamente com a perspectiva de explorar as riquezas do subsolo. A concorrência inter-imperialista nessa parte do mundo está assumindo uma nova dimensão. Como a China não é um país costeiro do Ártico, ela precisa da Rússia para operar lá. Ela está fazendo com que Moscou pague o preço por sua solidariedade na frente ocidental (Ucrânia), garantindo-lhe o uso gratuito do porto de Vladivostok.
Em termos de geopolítica global, gostaria de destacar a importância de duas questões que não foram mencionadas nas perguntas a seguir.
Primeiro, a Ásia Central. Ela ocupa uma posição central no coração do continente eurasiano. Para Vladimir Putin, ela faz parte da zona de influência privilegiada da Rússia, mas para Pequim é uma das principais rotas terrestres de sua nova Rota da Seda para a Europa. Atualmente, um jogo complexo está se desenrolando nessa parte do mundo, mas nossas análises não levam isso em consideração.
Por outro lado, o aquecimento global também nos lembra da importância crucial dos oceanos, que cobrem 70% da superfície da Terra, desempenham um papel decisivo na regulação do clima e abrigam ecossistemas vitais, todos eles ameaçados pelo aumento da temperatura do mar. Como já sabemos, a superexploração dos recursos oceânicos é um grande problema, assim como a expansão das fronteiras marítimas, que apresentam tantos problemas quanto as fronteiras terrestres. O pensamento geopolítico global não pode ignorar os oceanos e os polos.
Outro aspecto fundamental da crise multidimensional que estamos enfrentando obviamente tem a ver com a globalização capitalista e a financeirização. Isso levou à formação de um mercado mundial mais unificado do que nunca, para garantir a livre circulação de mercadorias, investimentos e capital especulativo (mas não de pessoas). Vários fatores interromperam essa globalização feliz (para os grandes proprietários): a estagnação do comércio, o aumento das finanças e dívidas especulativas, a pandemia de Covid que revelou os perigos da divisão internacional das cadeias de produção e o grau de dependência do Ocidente em relação à China, o que contribuiu para a rápida mudança nas relações entre Washington e Pequim (de entente cordial para confronto).
Foram as grandes empresas ocidentais que quiseram transformar a China na oficina do mundo, para garantir a produção de baixo custo e acabar com o movimento operário em seus próprios países. Era a Europa que estava na vanguarda da generalização das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), à qual Pequim havia aderido. Todos estavam convencidos de que o antigo Império do Meio seria definitivamente subordinado a elas, e talvez tenha sido. Se isso não aconteceu, é porque, uma vez que a resistência popular foi quebrada com sangue (1986), a ala dominante da burocracia chinesa teve sucesso em sua mutação capitalista, dando origem a uma forma original de capitalismo de Estado.
O capitalismo de Estado tem uma longa história no Leste Asiático, sob a égide do Kuomintang (Guomindang) na China ou em Taiwan, na Coreia do Sul… Devido à sua história, a formação social chinesa é obviamente única, mas combina de forma bastante clássica o desenvolvimento do capital privado e a apropriação capitalista das empresas estatais. Esses não são dois setores econômicos separados (uma economia fundamentalmente dual); na verdade, eles estão intimamente ligados por meio de várias cooperações, bem como por meio de clãs familiares presentes em todos os setores.
Em primeiro lugar, a China, sob a égide de Deng Xiaoping, que se converteu ao capitalismo, começou discretamente sua decolagem imperialista e pôde se beneficiar da distância geográfica dos Estados Unidos, que por muito tempo não conseguiu voltar a se concentrar na Ásia (só conseguiu fazer isso com Joe Biden, depois do desastre afegão).
Para concluir sobre esse ponto, observemos que:
- A situação geopolítica internacional ainda é dominada pelo confronto entre o imperialismo dominante (EUA) e o imperialismo em ascensão (China). É claro que eles não são os únicos competidores no grande jogo global entre grandes e pequenas potências, mas nenhuma outra potência tem tanto peso quanto as duas superpotências.
- Uma característica especial desse conflito é o alto grau de interdependência objetiva. É verdade que a crise da globalização neoliberal é evidente, mas seu legado ainda está presente. Não existe uma globalização feliz, mas também não existe uma desglobalização (capitalista) feliz. Os conflitos geopolíticos são o sintoma dessa crise estrutural e, por sua vez, acentuam suas contradições. Até certo ponto, aqui também entramos em um território inexplorado e sem precedentes.
- Embora ainda seja a principal superpotência, a hegemonia dos EUA sofreu um declínio relativo. O país não pode mais policiar o mundo sem a ajuda de aliados confiáveis e eficazes, que estão em falta. Eles foram enfraquecidos pela crise política e institucional provocada por Donald Trump e suas consequências diplomáticas duradouras (perda de confiança entre seus aliados). Dada a extensão da desindustrialização pela qual o país passou, pode-se dizer que o imperialismo clássico não existe mais. Joe Biden está atualmente mobilizando recursos financeiros e jurídicos consideráveis para tentar corrigir a situação, mas não é uma tarefa fácil. Lembremos que um país como a França era incapaz, mesmo diante de uma emergência vital (Covid), de produzir gel hidroalcoólico, máscaras cirúrgicas e FFP2, batas para a equipe de enfermagem. E isso não era tecnologia de ponta!
- Nessa área, a China estava em uma posição muito melhor. Ela herdou uma base industrial autóctone da era maoista, uma população com uma alta taxa de alfabetização em relação ao Terceiro Mundo e uma classe trabalhadora instruída. Tendo se tornado a oficina do mundo, o país garantiu uma nova onda de industrialização (parcialmente dependente, mas não exclusivamente). Enormes recursos foram investidos na produção de tecnologias de ponta. O partido-estado foi capaz de organizar o desenvolvimento nacional e internacional do país (havia um piloto no avião). Dito isso, o regime chinês está agora mais opaco e secreto do que nunca. Sabemos como a crise política e institucional está afetando o imperialismo dos EUA. É muito difícil saber o que está acontecendo na China. Entretanto, a hipercentralização do poder sob Xi Jinping, que se tornou presidente vitalício, parece ser um fator da crise estrutural.
- O declínio relativo dos EUA e a ascensão incompleta da China abriram um espaço no qual as potências secundárias podem desempenhar um papel significativo, pelo menos em sua própria região (Rússia, Turquia, Brasil, Arábia Saudita, etc.). Acredito que a Rússia não deixou de apresentar à China uma série de fatos consumados nas fronteiras orientais da Europa. Ao agirem em conjunto, Moscou e Pequim eram, em grande parte, os donos do jogo no continente eurasiano. Entretanto, não houve coordenação entre a invasão da Ucrânia e um ataque real a Taiwan.
Nesse contexto, podemos considerar que a invasão russa da Ucrânia e o apoio das potências ocidentais à Ucrânia em resposta a ela fazem dessa guerra uma guerra interimperialista que nos leva a evocar a política de Zimmerwald (guerra contra a guerra) como resposta? Ou, ao contrário, estamos lidando com uma guerra de libertação nacional que, embora apoiada pelas potências imperialistas, força a esquerda ocidental a se solidarizar com a resistência do povo ucraniano contra a invasão russa?
A política de Zimmerwald era pedir a paz sem anexações. Agora, alguns dos que se apresentam como herdeiros de Zimmerwald propõem ceder este ou aquele pedaço da Ucrânia para a Rússia, organizando referendos para validar sua separação da Ucrânia, etc.; vamos deixar isso de lado.
A maneira mais fácil de responder a essa pergunta é revisar a sequência de eventos. Uma invasão é preparada com a mobilização de recursos militares consideráveis nas fronteiras, o que leva tempo e é visível. Foi isso que Putin fez. Na época, a OTAN, após a aventura no Afeganistão, estava em meio a uma crise política e a maior parte de suas forças operacionais na Europa não havia sido redistribuída para o Oriente. A principal preocupação de Biden era a China e ele ainda estava tentando colocar Moscou contra Pequim. Os serviços secretos dos EUA foram os primeiros a alertar sobre a possibilidade de uma invasão, mas o aviso não foi levado a sério nem pelos países europeus nem pelo próprio Zelenski.
A maioria de nós, europeus ocidentais de esquerda, tinha pouco contato com nossos companheiros da Europa Oriental (especialmente da Ucrânia) e muitos de nós analisamos os acontecimentos em termos puramente geopolíticos (um erro que nunca deve ser cometido), pensando que Putin estava simplesmente exercendo forte pressão sobre a União Europeia para alimentar a dissidência pós-Afeganistão dentro da OTAN. Se fosse esse o caso, a invasão não deveria ter ocorrido porque teria tido o efeito oposto: teria dado um novo significado à OTAN e permitido que ela cerrasse fileiras. E foi exatamente isso que aconteceu. Além disso, antes da invasão russa, a maioria da população ucraniana queria viver em um país não alinhado. Hoje, apenas uma minoria muito pequena vê sua segurança como algo diferente de uma aliança estreita com os países da OTAN.
De minha parte, somente muito pouco antes da invasão, e alertado por meu amigo Adam Novak, tive a sensação de que ela estava chegando.
Agora sabemos muito mais: a invasão estava sendo preparada há anos. Ela fazia parte de um grande plano para restaurar o Império Russo dentro das fronteiras da URSS stalinista, tendo Catarina II como ponto focal. [Para a Rússia,] a existência da Ucrânia não passava de uma anomalia pela qual Lênin era culpado (segundo as próprias palavras de Putin) e tinha de ser reintegrada ao domínio russo. Na verdade, os ucranianos chamam isso de invasão em grande escala e apontam que a subversão e a ocupação militar de Donbass, Luhansk e Crimeia em 2014 foi a primeira fase da invasão. A Operação Especial (a palavra guerra foi proibida até recentemente e ainda é proibida na prática) deveria ser muito rápida e continuar até Kiev, onde um governo subordinado deveria ser estabelecido. As forças ocidentais, pegas de surpresa, só podiam se curvar ao fato consumado, e foram pegas de surpresa. Até mesmo Washington demorou a reagir politicamente.
O grão de areia que parou a máquina de guerra foi a escala da resistência ucraniana, imprevista por Putin, mas também pelo Ocidente. Podemos realmente falar de uma resistência popular maciça, em osmose com as forças armadas. Foi uma resistência nacional, envolvendo muitos falantes de russo (e todo o espectro político, exceto aqueles leais a Moscou). Para aqueles que duvidavam disso, não havia prova mais clara do que esta: a Ucrânia ainda existe. Esse é o segundo cenário que você aponta.
O tempo não pode apagar essa verdade original nem nossa obrigação de solidariedade. Uma dupla obrigação de solidariedade, eu acrescentaria. Com a resistência nacional do povo ucraniano e com as forças de esquerda que continuam a lutar, na própria Ucrânia, pelos direitos dos trabalhadores e dos sindicatos, pela liberdade de associação e expressão, contra o autoritarismo do regime de Zelensky e contra as políticas neoliberais (defendidas pela União Europeia)…
Naturalmente, a Ucrânia se tornou um ponto crítico no conflito entre as potências, entre a Rússia e o Ocidente. Sem o fornecimento de armas, principalmente dos Estados Unidos, os ucranianos não teriam conseguido manter nenhuma frente. No entanto, o fornecimento de armas sempre ficou aquém do que seria necessário para derrotar Moscou de forma decisiva. Até o momento, o controle aéreo dos militares russos não foi combatido. E os países da OTAN estão mais uma vez divididos, enquanto a crise pré-eleitoral nos Estados Unidos está bloqueando uma votação sobre o financiamento para a Ucrânia.
Depois de ter tido a oportunidade de fortalecer as defesas em profundidade e se reorganizar, Moscou continua a ser a força motriz por trás da escalada militar na Ucrânia, com a ajuda de projéteis norte-coreanos e financiamento fornecido pela Índia ou pela China (por meio da venda de produtos petrolíferos), e leva a política do fato consumado ao ponto da ignomínia: a deportação de crianças ucranianas e sua adoção por famílias russas.
Como responder àqueles que acreditam que apoiar a resistência significa subordinar-se às potências ocidentais, que (com a aprovação do governo de Zelenski) têm interesse em prolongar a guerra, independentemente da devastação (humana e material) que ela está causando, e que, portanto, é necessário promover uma política ativa em defesa de uma paz justa?
Não participo ativamente do movimento de solidariedade à Ucrânia. Estou envolvido em minhas atividades de solidariedade com os países asiáticos e estou imerso na questão israelense-palestina (muito crua). Portanto, serei cauteloso.
Todos nós estamos cientes da escala da devastação causada por essa guerra, ainda mais porque Putin está travando uma guerra que é descaradamente dirigida contra a população civil. Isso é insuportável.
No entanto, não é o nosso apoio, mas o de Putin, que está prolongando essa guerra. É importante não diluir as responsabilidades. Se por paz justa entendermos uma trégua indefinida na atual linha de frente, isso condenaria cinco milhões de ucranianos nos territórios ocupados a viver sob um regime de assimilação forçada, com milhões de outros deportados para a Federação Russa propriamente dita.
Acredito que o papel do nosso movimento de solidariedade é, antes de tudo, ajudar a criar as melhores condições para a luta do povo ucraniano e, dentro dele, para a atividade da esquerda social e política ucraniana. Certamente não cabe a nós determinar quais serão os termos de um acordo de paz. Acredito que devemos ouvir, entre outros, as demandas da esquerda ucraniana, do movimento de mulheres, dos sindicatos, do movimento tártaro da Crimeia e dos ambientalistas, e responder a seus apelos.
Também devemos ouvir a esquerda e os movimentos contra a guerra na própria Rússia. A maioria dos setores da esquerda anticapitalista russa acredita que a derrota da Rússia na Ucrânia pode ser o gatilho que abrirá as portas para a democratização do país e o surgimento de vários movimentos sociais.
Aqueles da esquerda ocidental que afirmam que a esquerda na Europa Oriental quase não existe estão errados.
Acreditar que um compromisso ruim nas costas dos ucranianos poderia pôr fim à guerra é uma ilusão que me parece perigosa. É esquecer os motivos pelos quais Putin iniciou a guerra: liquidar a Ucrânia e continuar a reconstituição do Império Russo, além de se apoderar de sua riqueza econômica (incluindo a agricultura) e estabelecer um regime colonial nas áreas ocupadas.
O aparato estatal de Putin está repleto de homens do serviço secreto (KGB-FSB). Ele já interveio em toda a sua periferia, desde a Chechênia até a Ásia Central e a Síria. Ele só existe internacionalmente graças à sua capacidade militar e à venda de armas, petróleo e produtos agrícolas…
Desconfio totalmente de nossos imperialismos, cujos pontos fortes conheço bem e contra os quais nunca deixo de lutar. Jamais confiarei neles para negociar ou impor um acordo de paz – basta ver o que aconteceu com os Acordos de Oslo na Palestina!
Para mim, portanto, não se trata de movimentos de solidariedade “entrando na lógica dos poderes” (sejam eles quais forem). Eles devem manter sua total independência dos estados e governos (incluindo o de Zelenski). Repito: prestemos atenção ao que as forças da esquerda ucraniana e da esquerda antiguerra na Rússia estão nos dizendo.
Os EUA e a UE estão usando a guerra russa na Ucrânia e o aumento das tensões internacionais como álibi para o rearmamento e o aumento dos gastos militares. Podemos falar de uma nova guerra fria ou até mesmo da ameaça de uma guerra mundial na qual o uso de armas nucleares não está excluído? Qual deve ser a posição da esquerda anticapitalista diante desse rearmamento e dessa ameaça?
Sou contra o rearmamento e o aumento dos gastos militares dos Estados Unidos e da União Europeia. Dito isso, acho que devemos ter uma visão mais ampla. Uma nova corrida armamentista está em andamento, na qual a China (e até mesmo a Rússia) parece ter a iniciativa em várias áreas, incluindo armas supersônicas que tornariam ineficazes os escudos antimísseis existentes ou permitiriam que a armada de um porta-aviões fosse atingida de longe. Até onde eu sei, essas armas ainda não foram testadas, e não sei o quanto é real e o quanto é ficção científica sobre o assunto, mas outros companheiros estão, sem dúvida, mais informados do que eu nessa área.
Entretanto, a corrida armamentista em si é um grande problema. Pelas razões usuais (militarização do mundo, captura pelo complexo militar-industrial de uma parcela exorbitante dos orçamentos públicos etc.), mas também por causa da crise climática, que torna ainda mais urgente sair da era das guerras permanentes. Os gastos com armamentos e seu uso não estão incluídos no cálculo oficial das emissões de gases de efeito estufa. Uma terrível negação da realidade.
Putin ameaçou repetidamente usar armas nucleares, sem de fato fazê-lo (não peço que ele seja coerente com suas declarações). Duvido que a ameaça de guerra nuclear seja um resultado direto do atual conflito ucraniano (espero estar certo), mas, ainda assim, acredito que, infelizmente, é um problema real. Aqui também vou me aprofundar no assunto.
Já existem quatro pontos críticos nucleares localizados. Um está no Oriente Médio: Israel. Três estão na Eurásia: Ucrânia, Índia-Paquistão e península coreana. Essa última é a única que está ativa. O regime norte-coreano testa e lança mísseis regularmente em uma região onde a força aérea naval dos EUA está estacionada e onde está localizado o maior complexo de bases dos EUA no exterior (no Japão, especialmente na ilha de Okinawa). Joe Biden já está ocupado com a Ucrânia, a Palestina e Taiwan, e gostaria de dispensar um agravamento da situação nessa parte do mundo (e também na China), uma situação na qual Trump e também o último descendente da dinastia hereditária norte-coreana têm grande responsabilidade.
Um pequeno problema: um míssil nuclear norte-coreano leva vinte minutos para chegar a Seul, a capital da Coreia do Sul. Nessas condições, o compromisso de não usar armas nucleares primeiro é difícil de ser implementado.
A França é um dos países que está preparando politicamente a opinião pública para o possível uso de uma bomba nuclear tática. Devemos nos opor veementemente a essa tentativa de generalizar as armas nucleares. Infelizmente, há uma espécie de consenso político nacional que faz com que nosso arsenal nuclear não seja uma questão de princípio para acordos políticos, mesmo na esquerda e mesmo quando somos a favor de sua abolição.
A questão do rearmamento, da nova corrida armamentista, da energia nuclear, deve ser uma parte imperativa das atividades dos movimentos antiguerra de todos os lados. Por exemplo, apesar da terrível violência intercomunitária que acompanhou a divisão da Índia em 1947, as esquerdas paquistanesa e indiana estão fazendo campanha juntas pelo desarmamento.
Podemos falar de uma nova Guerra Fria? Essa expressão sempre me pareceu muito eurocêntrica. Na Ásia, a guerra foi tórrida (a escalada dos EUA no Vietnã). Que significado ela pode ter hoje, em um momento em que a Rússia está travando uma guerra na Ucrânia? Entendo seu uso na imprensa e em debates, mas não acho que devamos usá-lo, por dois motivos principais:
- Ela reduz a análise a uma abordagem muito restrita da geopolítica. A guerra só é fria porque não há confronto direto entre grandes potências. Isso não impede, mas também não contribui para uma análise concreta dos conflitos quentes.
- Em geral, não gosto de analogias históricas: “estamos em…”. Nunca estamos “em…”, mas no presente. Sei que a história ajuda a explicar o presente e que o presente ajuda a revisitar o passado, mas a frase nova Guerra Fria ilustra minhas dúvidas. A primeira Guerra Fria colocou o bloco ocidental contra o bloco oriental. Naquela época, o bloco soviético e a China tinham apenas relações econômicas limitadas com o mercado mundial capitalista. A dinâmica revolucionária ainda estava em andamento (Vietnã, etc.).
Hoje, o mercado mundial capitalista se universalizou. A globalização está presente. A China se tornou um de seus pilares. Há uma estreita interdependência econômica entre a China, os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental. É impossível entender a complexidade do conflito sino-americano sem levar esse fator totalmente em consideração. Então, por que recorrer a uma fórmula antiga e depois acrescentar: mas, é claro, tudo é diferente?
Eu diria que o tema da nova Guerra Fria é adequado para os campistas de ambos os lados. Aqueles que querem justificar seu apoio a Moscou e Pequim. Ou aqueles que querem ficar do lado da democracia e dos valores ocidentais contra os autocratas.
Um pequeno contraponto para concluir: Biden é um homem do passado. Ele aprendeu a negociar ameaças nucleares durante várias crises importantes. Essa experiência ainda pode lhe ser útil hoje.
O que está em jogo na guerra de extermínio de Israel em Gaza? Por que os EUA continuam a apoiar Israel, apesar de sua recente abstenção no Conselho de Segurança da ONU? Que papel deve desempenhar nossa solidariedade internacionalista com o povo palestino?
O que está em jogo nessa guerra? A própria sobrevivência do povo de Gaza. Um especialista nessas questões (a eliminação de populações) usou uma fórmula que me parece muito adequada. Nunca vi uma situação tão grave em sua intensidade. Em outras ocasiões, mais pessoas foram mortas, mas Gaza é um território minúsculo sob um ataque multifacetado de intensidade sem precedentes. Mesmo que os bombardeios parem e a ajuda maciça chegue, as mortes continuarão ao longo do tempo.
Toda a população viverá com estresse pós-traumático repetido, a começar pelas crianças, cuja taxa de mortalidade é impressionante. As crianças mais novas, vítimas de desnutrição, nunca terão direito a uma vida normal.
Outra questão é a própria existência da Cisjordânia, onde a população palestina sofre diariamente com a violência dos colonos supremacistas judeus, apoiados pelo exército e por paramilitares. Os habitantes de Gaza que sobreviverem serão forçados ao exílio pelo Egito ou pelo mar? A população palestina sobrevivente da Cisjordânia será expulsa para a Jordânia? O projeto da Grande Israel se consolidará?
A colonização da Palestina pode ser vista como um processo de longo prazo, mas este é um terrível ponto de inflexão. Netanyahu nunca definiu seus objetivos de guerra (além da destruição total do Hamas, um empreendimento sem fim). Não tentarei defini-los para ele, até porque a situação é volátil.
O bombardeio do consulado iraniano em Damasco em 1º de abril é um exemplo da fuga de Netanyahu para além das fronteiras da Palestina. É uma violação flagrante da Convenção de Viena que protege as missões diplomáticas. O alvo do ataque foram os líderes seniores do Hezbollah que estavam lá, mas isso não justifica nada. Sempre há inimigos para escolher nas missões diplomáticas, inclusive altos funcionários. Os israelenses sabem bem disso, pois agentes do Mossad disfarçados de diplomatas já assassinaram ou sequestraram mais de uma pessoa em países estrangeiros. É curioso e preocupante que esse ataque não tenha provocado mais protestos.
Teerã não quer guerra, mas precisa reagir. Estamos no fio da navalha [a entrevista foi realizada antes do recente ataque do regime iraniano a Israel].
Joe Biden armou sua própria armadilha ao declarar desde o início seu apoio incondicional ao governo israelense, ao seu próprio sionismo e sem consultar os especialistas de seu próprio governo, o que levou a uma série de demissões surpreendentes. Ele não pode mais apoiar o insuportável, mas continua a fornecer armas e munição para Israel. Posso estar enganado, mas tenho a impressão de que ele simplesmente perdeu o controle diplomático sobre o mundo árabe e agora está ocupado com acordos de defesa com o Japão e as Filipinas, caso Trump vença a próxima eleição presidencial.
Vamos agora à última pergunta. Na minha opinião, quais são as tarefas da solidariedade internacionalista com o povo palestino?
Em primeiro lugar, a urgência absoluta, sobre a qual pode haver uma unidade muito ampla: cessar-fogo imediato, fluxo maciço de ajuda por todas as rotas de acesso à Faixa de Gaza, proteção de comboios e trabalhadores. Isso inclui um cessar-fogo imediato, a entrada de ajuda maciça por todas as rotas de acesso à Faixa de Gaza, a proteção dos comboios e dos trabalhadores humanitários (muitos dos quais foram mortos), a retomada da missão da UNRWA, cujo papel é insubstituível, o fim dos assentamentos na Cisjordânia e a restauração dos direitos dos palestinos despossuídos, a libertação dos reféns israelenses e dos prisioneiros políticos palestinos, e assim por diante.
Defendemos o direito do povo palestino à resistência, inclusive à resistência armada, sem qualquer exceção; no entanto, isso não implica apoio político ao Hamas ou negação de que crimes de guerra foram cometidos em 7 de outubro, conforme atestado por muitas fontes independentes. Essas fontes incluem a Physicians for Human Rights-Israel (PHRI); aldeões beduínos no Negev que Israel se recusa a proteger, mas que foram repetidamente atacados pelo Hamas; ativistas israelenses que dedicaram suas vidas à defesa dos direitos palestinos….
O Hamas é hoje o principal componente militar da resistência palestina, mas será que ele tem um projeto emancipatório? Sempre analisamos os movimentos envolvidos nas lutas de libertação que apoiamos. Por que deveria ser diferente hoje?
Nosso papel como internacionalistas também é traçar uma linha, mesmo que tênue, entre as tarefas atuais e um futuro emancipatório. Defendemos o princípio de uma Palestina na qual os habitantes dessa terra histórica “entre o mar e o rio” possam viver juntos (com o retorno dos refugiados palestinos). Isso não ocorrerá sem uma profunda reviravolta social na região, mas podemos dar substância a essa perspectiva apoiando as organizações que hoje estão agindo juntas, judeus/judeus e árabes/palestinos, contra todas as probabilidades. Todas elas estão correndo grandes riscos para continuar a demonstrar essa solidariedade judaico-árabe no contexto atual. Devemos a eles nossa solidariedade.
A solidariedade entre judeus e árabes também é uma das chaves para o desenvolvimento de mobilizações internacionais, especialmente nos Estados Unidos, onde o movimento Jewish Voice for Peace (Voz Judaica pela Paz) desempenhou um papel muito importante no combate à propaganda de grupos de pressão pró-Israel e na abertura de espaço para protestos.
Mudando para outra região: Como você analisa a estratégia de política externa da China e seu conflito com Taiwan?
Acredito que a prioridade de Xi Jinping seja continuar a expansão e a consolidação global da China, competir com os EUA no campo da alta tecnologia para uso civil e militar, buscar alianças diplomáticas significativas (um calcanhar de Aquiles em relação aos EUA), desenvolver suas próprias zonas de influência em regiões consideradas estratégicas no momento (como o Pacífico Sul) e fortalecer suas capacidades militares aéreas e espaciais ou sua capacidade de vigilância e desinformação. Uma invasão de Taiwan não estaria na agenda.
Os planos de expansão da China são diferentes dos de seus antecessores. Os tempos mudaram. Pequim tem apenas uma grande base militar convencional, em Djibuti. No entanto, está assinando acordos com um número crescente de países para acesso a seus portos. Melhor ainda, está se apropriando de todos ou parte deles, o que lhe proporciona uma extensa rede marítima de pontos de junção para uso civil e militar. Os serviços de segurança das empresas chinesas no exterior são dirigidos por militares, o que permite a obtenção de informações e o estabelecimento de contatos.
A política chinesa é imperialista por natureza, e é difícil ver como poderia ser diferente. Qualquer grande potência capitalista deve garantir a segurança de seus investimentos e comunicações, bem como a lucratividade política e financeira de seus compromissos.
Pequim proclamou sua soberania sobre todo o Mar do Sul da China, uma importante zona de trânsito internacional, que foi militarizada sem levar em conta os direitos marítimos dos países vizinhos. Ela se apropriou dos recursos pesqueiros e explorou o fundo do mar. Um regime autoritário usa métodos autoritários sempre que acha que pode. É claro que um regime imperialista supostamente democrático pode fazer o mesmo….
Além das situações de guerra prolongada na Síria, no Iêmen, no Sudão e na República Democrática do Congo, há uma guerra na Birmânia sobre a qual pouco se fala no Ocidente. Você poderia comentar sobre a situação atual desse conflito?
Primeiro, uma palavra sobre o Sudão: há uma grande experiência de resistência popular no Sudão, em condições extremamente difíceis, que merece ser mais conhecida (e apoiada).
A Birmânia foi um caso exemplar. Em 1º de fevereiro de 2021, os militares tomaram o poder em um golpe de Estado. No dia seguinte, o país entrou em dissidência na forma de uma ampla paralisação do trabalho e de um enorme movimento de desobediência civil. O golpe foi abortado, mas o exército não pôde ser derrubado por falta de apoio internacional imediato. Os militares recuperaram gradualmente a iniciativa por meio de uma repressão implacável. Na região central, inicialmente pacífica, a resistência popular teve de passar à clandestinidade e depois à resistência armada. Ela buscou apoio de movimentos étnicos armados que operavam nos estados da periferia montanhosa do país.
É difícil imaginar um movimento de resistência cívica mais amplo do que o da Birmânia, mas a luta armada tornou-se uma necessidade vital, baseando sua legitimidade no teste da autodefesa. Isso permitiu que ele resistisse ao teste de fogo e se organizasse gradualmente como guerrilheiros independentes ou ligados ao Governo de Unidade Nacional, uma expressão do parlamento dissolvido pelos militares e (finalmente) aberto às minorias étnicas.
O conflito assumiu formas terrivelmente duras, principalmente com o monopólio da aviação pelo exército. Ele também é complexo, pois cada estado étnico tem suas próprias características e escolhas políticas. Gradualmente, porém, a junta perdeu o controle. Ela contava com o apoio dos vizinhos China e Rússia, mas se mostrou incapaz de garantir a Pequim a segurança de seus investimentos e a construção de um porto de acesso ao Oceano Índico. Seu isolamento internacional se aprofundou e seus aliados da ASEAN se dividiram.
Os militares agora estão perdendo terreno em muitas regiões e a frente de oposição contra a junta se ampliou. A Birmânia tem uma história rica, mas infelizmente é pouco conhecida no Ocidente.
Por fim, o agravamento da crise econômica e a multiplicação dos conflitos, tanto em nível internacional quanto regional, parecem indicar um ponto de inflexão no contexto internacional que nos obriga a repensar a política de solidariedade internacionalista. Quais são as formas de construir um internacionalismo alinhado com a natureza mutável dos conflitos internacionais no século XXI?
Estamos testemunhando uma profunda recomposição com a oposição entre campismo e internacionalismo como a principal linha de diferenciação. Podemos ter muitas diferenças de análise, mas a questão é se defendemos todas as populações vítimas.
Cada poder escolhe as vítimas que lhe convêm e abandona as outras. Nós nos recusamos a entrar nesse tipo de lógica. Defendemos os direitos dos canaques em Kanaky [colônia francesa de Nova Caledônia, NT], independentemente da opinião de Paris, os sírios e os povos da Síria contra a ditadura implacável do clã Assad, a população ucraniana sob o dilúvio de fogo russo, os porto-riquenhos sob o domínio colonial dos EUA, os haitianos aos quais a chamada comunidade internacional negou proteção e asilo, os palestinos sob o dilúvio de bombas dos EUA, os povos da Birmânia mesmo quando a junta é apoiada pela China.
Não abandonamos as vítimas em nome de considerações geopolíticas. Apoiamos seu direito de decidir livremente seu futuro e, quando a situação exigir, seu direito à autodeterminação. Apoiamos os movimentos progressistas em todo o mundo que rejeitam a lógica do principal inimigo. Não estamos do lado de nenhuma grande potência, seja ela nipo-ocidental, russa ou chinesa. A ocupação é um crime tanto na Ucrânia quanto na Palestina.
Em face da militarização do mundo, precisamos de um movimento global contra a guerra. Isso é fácil de dizer, mas difícil de fazer. Podemos contar com a solidariedade transfronteiriça local (Ucrânia-Rússia, Índia-Paquistão) para conseguir isso? Ou com o enorme movimento de solidariedade palestina? Ou com fóruns sociais como o que acabou de ser realizado no Nepal?
Também precisamos integrar a questão climática às questões dos movimentos contra a guerra e, por outro lado, os movimentos ambientais militantes ganhariam, se ainda não o fizeram, ao integrar a dimensão contra a guerra em sua luta. O mesmo pode ser dito sobre as armas nucleares.
A personalidade de Greta Thunberg me parece encarnar o potencial da geração mais jovem confrontada com a violência da policrise. Mas seus compromissos exigem tenacidade, o que certamente não lhe falta, e a capacidade de agir a longo prazo, o que não é fácil. Minha geração de ativistas foi colocada em órbita pelo radicalismo dos anos 60 e, para nós na França, pela experiência seminal de maio de 68. Como estamos hoje?