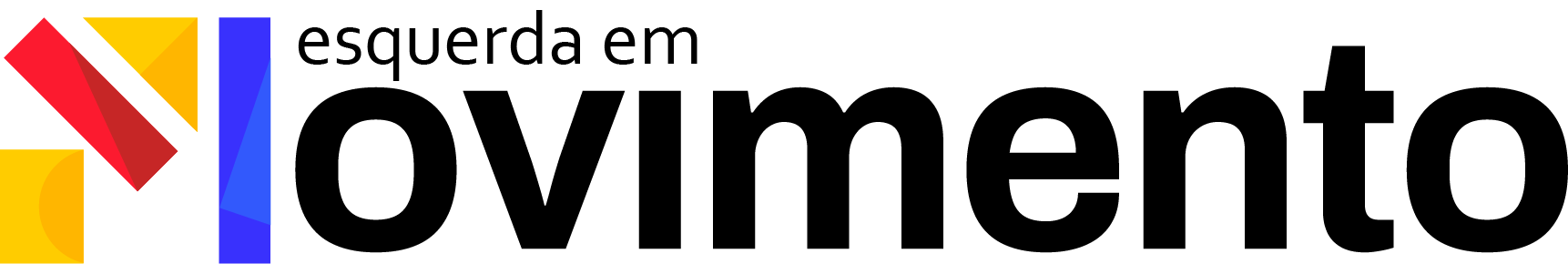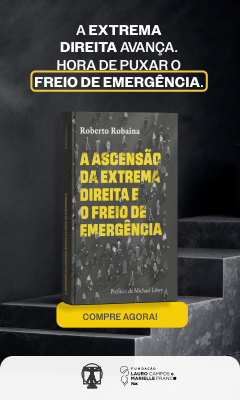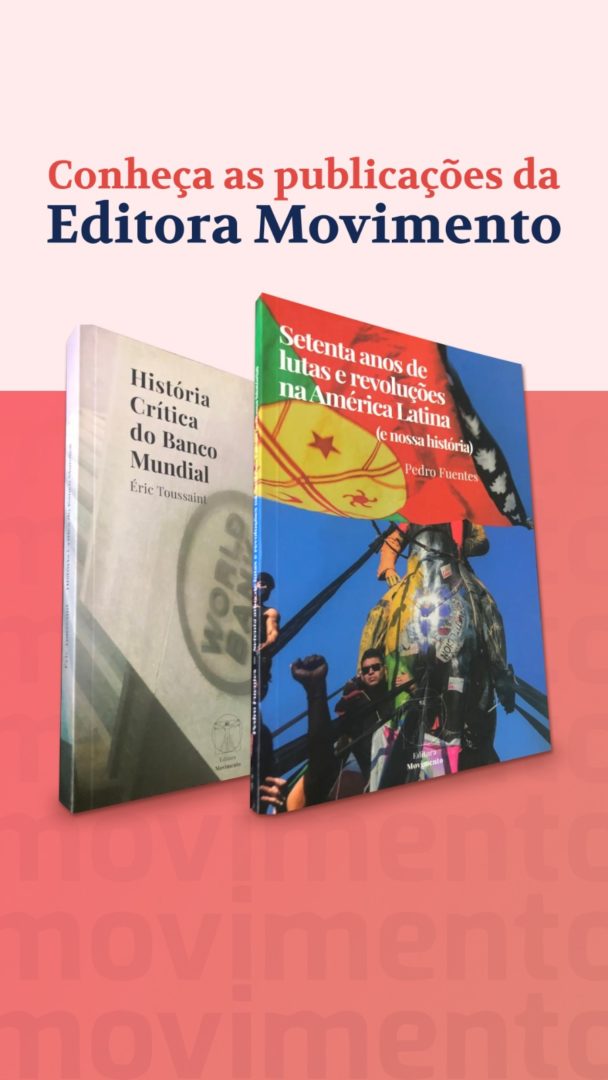Entre Tarifas e Canhões: Polanyi e os sintomas de um colapso anunciado
A crise do liberalismo econômico a partir das reflexões de Karl Polanyi
Foto: Impacto da guerra tarifária de Trump atingiu bolsas de valores de todo o planeta. (Foto: Spencer Platt/NPR)
Nos últimos dias, o mundo assiste perplexo à escalada da guerra comercial promovida por Donald Trump e seus desdobramentos mais recentes. Muitos interpretam esse movimento como fruto do temperamento instável de um líder autoritário, atribuindo os tarifaços a decisões impulsivas ou desvios individuais de conduta. No entanto, essa leitura personalista encobre algo mais profundo: um movimento estrutural, que revela fissuras no modelo de globalização econômica construído nas últimas décadas. Poucos conseguem conectar o avanço das tarifas ao aumento dos gastos militares, à erosão das instituições multilaterais, como a ONU, e à reorganização das relações de poder no cenário internacional.
Para provocar uma reflexão mais ampla sobre o tempo que vivemos, proponho lançar um olhar sobre a obra seminal A Grande Transformação1, de Karl Polanyi. Publicada em 1944, no calor dos grandes conflitos mundiais, a obra oferece elementos fundamentais para compreender como as crises do mercado podem gerar instabilidade política, autoritarismo e guerras — e como a sociedade, em meio ao caos, busca formas de se proteger. A leitura de Polanyi nos ajuda a ir além dos eventos imediatos, revelando as lógicas profundas que colocam em tensão mercado, Estado e sociedade, ontem e hoje.
A crise do liberalismo econômico e a eclosão das guerras: reflexões a partir de Karl Polanyi
Karl Polanyi argumenta que o sistema liberal construído ao longo do século XIX, baseado no padrão-ouro, no livre-comércio e em Estados mínimos, colapsou não apenas por fatores econômicos, mas sobretudo por seus efeitos desagregadores sobre os alicerces sociais das nações. A tentativa de organizar a sociedade a partir de um mercado autorregulado, em que trabalho, terra e dinheiro fossem tratados como mercadorias, resultou em instabilidade política, degradação das condições de vida e ruptura das formas tradicionais de integração social.
Essa organização artificial da vida econômica desconsiderava que os mercados, historicamente, sempre estiveram inseridos em instituições sociais e culturais. Ao “desincrustar” a economia da sociedade — ou seja, ao retirar da economia seu vínculo com as normas e estruturas sociais —, o liberalismo transformou relações humanas complexas em meras trocas mercantis. O resultado foi um processo de desproteção social em massa, que atingiu especialmente os trabalhadores, os camponeses e as populações marginalizadas.
Polanyi chama esse processo de expansão do mercado de primeiro movimento da “grande transformação”. Em resposta, surgem reações sociais e políticas que buscam reproteger a sociedade, por meio da organização sindical, da legislação trabalhista, do fortalecimento de movimentos comunistas e anarquistas e do aumento do controle estatal. Nos casos mais extremos, contudo, essa reação assume formas autoritárias — como no caso clássico do fascismo. Esse é o “duplo movimento”: enquanto o mercado tenta se impor sobre todas as dimensões da vida social, a sociedade reage, buscando conter seus efeitos destrutivos. O problema é que, quando os mecanismos democráticos de defesa falham — como ocorreu em diversos países europeus no período entre guerras —, a proteção assume feições autoritárias: fascismo, nazismo, nacionalismos radicais.
A leitura de Polanyi sobre o século XX é direta: as guerras mundiais não foram apenas conflitos geopolíticos, mas respostas violentas à tentativa de impor uma lógica mercantil totalizante à vida humana. A Primeira Guerra Mundial marcou, segundo ele, “o colapso da civilização de oitocentos” — isto é, o fim de um projeto de modernidade liberal que prometia progresso por meio do mercado, mas que na prática gerou desigualdade, instabilidade e exclusão.
Após a guerra, as tentativas de restaurar a ordem liberal fracassaram. A insistência na austeridade, na paridade cambial e no retorno ao padrão-ouro, aliada ao enfraquecimento das instituições de proteção social, agravou as tensões sociais. A crise de 1929 foi o ponto de ruptura. A desorganização econômica generalizada, o desemprego em massa e a desesperança criaram as condições para que regimes autoritários se apresentassem como solução.
Polanyi demonstra que o fascismo e o nazismo não foram aberrações isoladas, mas respostas estruturais a uma crise civilizatória provocada pela radicalização do mercado. A promessa desses regimes era, em essência, devolver à sociedade um senso de coesão, identidade e proteção — ainda que a um custo brutal. Assim, a guerra e a violência política são compreendidas como expressões extremas de um processo mais amplo de desagregação social.
Foi justamente o processo de liberalização excessiva da economia que corroeu os vínculos sociais, desorganizou as formas tradicionais de proteção coletiva e abriu espaço para o surgimento do fascismo como uma resposta autoritária. Esse movimento buscava garantir a continuidade dos rendimentos e das posições de poder das elites econômicas, cujos privilégios haviam sido contestados nos ciclos anteriores de mobilização popular e crise social.
Guerra comercial, crise e ascensão do militarismo
Vivemos hoje um momento de inflexão histórica. O que à primeira vista parece uma sucessão de eventos isolados — disputas tarifárias entre potências, sanções cruzadas, corrida por semicondutores, aumento dos gastos militares — revela-se como parte de um novo ciclo de reação ao projeto neoliberal consolidado após a queda da União Soviética e ao ressurgimento do idealismo liberal. Trata-se, nos termos de Karl Polanyi, de uma nova manifestação do “duplo movimento”, fenômeno em que a expansão desregulada do mercado provoca respostas sociais e políticas que buscam conter seus efeitos destrutivos. A guerra comercial entre Estados Unidos e China, os conflitos em torno de tecnologia e energia, e o enfraquecimento das instituições multilaterais de cooperação não são desvios pontuais, mas sintomas estruturais de um sistema em crise. No centro dessa crise está o esgotamento do modelo liberal-globalizante que, desde os anos 1980, promoveu a desregulamentação dos mercados, a financeirização da economia e o enfraquecimento dos Estados nacionais. O que se vendeu como progresso e integração produziu, em muitos países, desindustrialização, aumento da desigualdade, precarização do trabalho e exclusão social em massa. O mercado global, em vez de impulsionar uma prosperidade compartilhada, transformou-se em ameaça à coesão interna das nações, gerando ressentimento, insegurança e perda de controle sobre as economias domésticas. Fenômenos frequentemente atribuídos ao avanço de lideranças populistas ou ao impacto das redes sociais, na verdade, devem ser compreendidos como expressões de uma crise mais profunda: a do próprio modelo estrutural vigente.
Hoje, essa dinâmica se repete com novas roupagens. A perda de legitimidade do liberalismo econômico impulsiona governos a adotarem políticas protecionistas, nacionalismo econômico, reindustrialização forçada e militarização de suas estratégias de defesa e desenvolvimento. A retórica da “cooperação global” dá lugar à lógica da “guerra”: comercial, tecnológica, informacional — e até mesmo bélica.
É interessante notar que, frequentemente, a ideologia liberal busca despersonalizar os fluxos de capital, atribuindo-lhes uma lógica própria, impessoal e inevitável — como se estivessem acima de escolhas políticas e interesses concretos. No entanto, a crise atual revela justamente o oposto. Ainda que o processo de acumulação capitalista ocorra em escala internacional, as burguesias continuam sendo nacionais, e recorrem ativamente aos seus respectivos Estados como instrumentos fundamentais para garantir e expandir seus interesses. O alinhamento das big techs com estratégias estatais — seja na regulação, na segurança ou na geopolítica digital — evidencia esse movimento, em que bilionários utilizam o aparato estatal para proteger seus lucros e ampliar sua influência.
Nesse contexto, o recente relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS) é revelador: os gastos militares globais atingiram, em 2023, o maior nível desde o fim da Segunda Guerra Mundial, chegando a US$ 2,2 trilhões. Os Estados Unidos, sozinhos, respondem por 41% desse total, seguidos por China e Rússia. Além disso, os países da OTAN, pressionados pela guerra na Ucrânia e pela percepção de ameaça vinda do Leste, ampliaram seus orçamentos de defesa em quase 40%. Países como a Polônia projetam destinar 4% de seu PIB à área militar. Esses números revelam mais que investimentos: apontam para uma reorganização profunda das prioridades políticas globais, em que a segurança — em seu sentido mais bélico — volta a ocupar o centro do tabuleiro.
Ao contrário do que se poderia imaginar, essa militarização não representa um retorno a um passado superado, mas sim um desdobramento direto do modelo de globalização que se pretendia pacificador. A guerra comercial entre Estados Unidos e China, por exemplo, vai muito além de tarifas ou impostos sobre produtos: ela envolve tecnologias estratégicas, cadeias produtivas vitais, controle de dados e disputa por hegemonia global. A tentativa de “desacoplamento” das economias, ou de criação de zonas de influência protegidas, expressa a crise de confiança nas regras do mercado global. Nesse cenário, o questionamento ao processo de globalização neoliberal, longe de abrir caminho para alternativas democráticas, tem sido frequentemente apropriado por respostas autoritárias que buscam garantir a continuidade dos lucros e a segurança dos grandes capitais, mesmo à custa da coesão social e das instituições democráticas.
Como Polanyi antecipou, o mercado autorregulado é uma utopia perigosa, pois, ao ignorar os anseios populares e priorizar exclusivamente a garantia dos lucros dos grandes capitais, acaba gerando tensões sociais profundas. Incapaz de oferecer estabilidade ou justiça, esse modelo tende a produzir, no limite, conflitos como respostas inevitáveis — e, em sua forma mais extrema, esses conflitos assumem a face da guerra. A desorganização social resultante da submissão cega à lógica do mercado gera rupturas políticas e abre espaço para movimentos autoritários que prometem restaurar a ordem e a soberania, muitas vezes por meio da violência e da repressão.
A deterioração do sistema ONU, a fragilização da OMC, o descrédito do multilateralismo e a ascensão de novos blocos regionais são manifestações dessa transição. Em vez da cooperação internacional que marcou o pós-guerra, prevalecem alianças estratégicas excludentes, zonas de influência militarizadas e acordos bilaterais centrados na segurança e no controle de recursos. Multiplicam-se as sanções, os embargos, os controles sobre exportação de tecnologias e os investimentos estatais em setores considerados “vitais” à soberania nacional. O Estado, outrora enfraquecido pelos dogmas do livre-mercado, retorna com força — mas agora, muitas vezes, como agente da competição, e não da proteção social.
Embora distante de uma abordagem marxista, Polanyi, a partir de sua perspectiva crítica, nos mostra como o liberalismo das décadas anteriores não gerou democracia nem melhoria das condições sociais. Ao contrário, degenerou-se em formas autoritárias e, em seu limite, provocou guerras entre potências movidas pela obsessão em preservar os lucros e privilégios acumulados em ciclos anteriores. Se não formos capazes de construir uma resposta que coloque em primeiro plano as condições de vida das camadas populares, corremos o risco de repetir, com novos atores e tecnologias, os mesmos erros que levaram o mundo ao colapso há menos de um século.
Permitir que o mecanismo de mercado seja o único dirigente do destino dos seres humanos e do seu ambiente natural, e até mesmo o árbitro da quantidade e do uso do poder de compra, resultaria no desmoronamento da sociedade. […] nenhuma sociedade suportaria os efeitos de um tal sistema de grosseiras ficções, mesmo por um período de tempo muito curto, a menos que a sua substância humana natural, assim como a sua organização de negócios, fosse protegida contra os assaltos desse moinho satânico. (POLANYI, 1980: 85)
Nota
- POLANYI, Karl. A grande Transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Campus, 1980. ↩︎