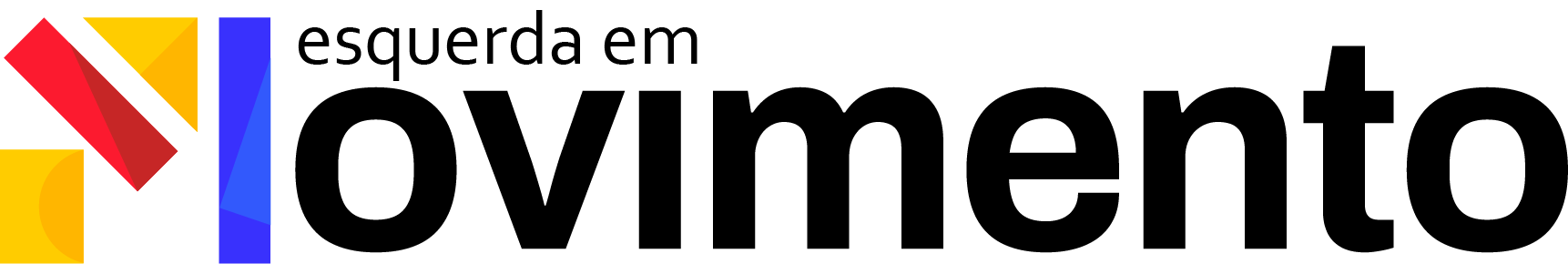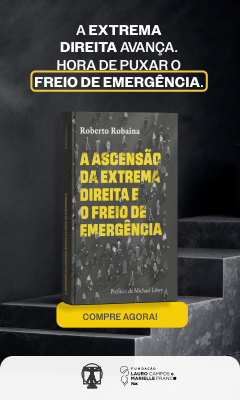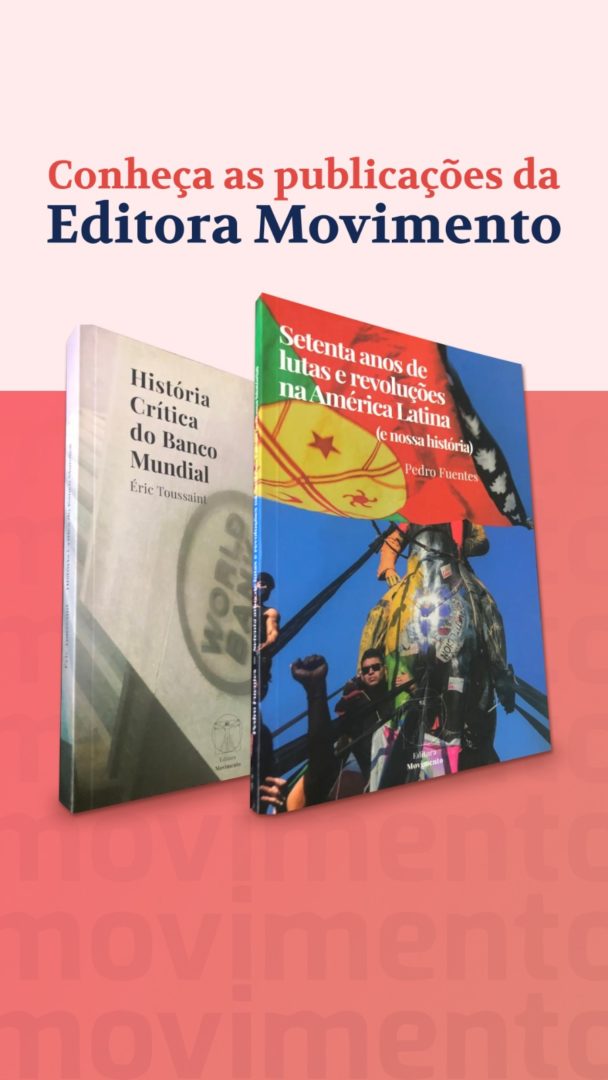Privatização do orçamento e a farsa da inovação na educação
A plataformização da educação, cujo laboratório mais avançado está em São Paulo, expressa novas formas de acumulação baseadas na transferência de orçamento público para setores privados
Nos últimos dias, me deparei com a publicação da Nota Técnica do GEPUD (Grupo Escola Pública e Democracia), em parceria com a REPU (Rede Escola Pública e Universidade), que analisa os impactos da política de plataformização implementada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O estudo demonstra, com base em dados oficiais e relatos de educadores, que não há correlação significativa entre o uso massivo de plataformas digitais e a melhoria do desempenho escolar dos estudantes. Pelo contrário: os efeitos observados sobre o trabalho docente e a dinâmica escolar são majoritariamente negativos — incluindo a perda de autonomia pedagógica, o aumento da pressão burocrática e a conversão da escola em um ambiente de vigilância e performance.
Essa leitura imediatamente me remeteu ao artigo anterior que escrevi, no qual busquei refletir sobre como a educação está historicamente ancorada nas transformações do capitalismo contemporâneo. As reformas educacionais não se dão à parte das dinâmicas estruturais do sistema econômico; ao contrário, estão profundamente articuladas aos ciclos de reestruturação do capital, respondendo às novas exigências do mercado de trabalho, às formas de produção flexível e à financeirização da vida social. A difusão da meritocracia, da responsabilização individual e da competição entre escolas e sujeitos não é apenas um fenômeno cultural, mas parte constitutiva de um novo regime de acumulação que demanda subjetividades adaptadas à lógica da produtividade permanente, da obediência aos algoritmos e da gestão por dados.
No entanto, percebo que aquele texto não foi suficiente para aprofundar um aspecto fundamental desse processo: as formas materiais pelas quais a educação pública tem sido mobilizada como campo de extração de valor dentro da lógica da acumulação por espoliação, conceito central no pensamento de David Harvey. Ao contrário da clássica produção de mais-valor na fábrica, a espoliação opera pela captura de bens comuns, fundos públicos e patrimônios coletivos que são transferidos à iniciativa privada sob o manto da “eficiência” ou da “inovação”. No caso da educação, essa dinâmica se manifesta na transferência progressiva de recursos para empresas de tecnologia educacional, ONGs gerencialistas, fundações empresariais e plataformas digitais, que se apresentam como soluções universais para uma escola pública precarizada — mas que, de fato, operam como vetores de extração de valor e homogeneização pedagógica.
Neste artigo, busco, portanto, aprofundar a análise sobre como a plataformização e o discurso da modernização têm operado como mecanismos de espoliação do fundo público e desmonte do projeto emancipador de educação.
Educação não pode ser uma mercadoria
Para compreender os processos em curso na educação pública brasileira, é fundamental retomar como diferentes formas de trabalho são tratadas dentro da lógica capitalista. Na tradição marxista — especialmente conforme desenvolvida por Ricardo Antunes em O privilégio da servidão —, há atividades diretamente inseridas no processo de geração de lucro e valorização do capital, e outras que, embora não gerem retorno financeiro imediato, são indispensáveis para manter a sociedade funcionando e o próprio sistema operando. É o caso da saúde, da educação e da cultura: áreas essenciais à reprodução da vida social e da força de trabalho, mas que, quando prestadas pelo setor público, não produzem mercadorias nem geram lucros diretos.
A educação, nesse contexto, ocupa uma posição ambígua. Ela não gera ganhos imediatos para o mercado, mas é fundamental para formar os sujeitos que vão ingressar no mundo do trabalho, internalizar normas sociais e difundir valores da ordem vigente. Assim, mesmo não estando diretamente a serviço do lucro, a escola é uma engrenagem central na reprodução das relações capitalistas. No entanto, como analisamos no artigo “Entre algoritmos e tutores”, essa função formadora está sendo profundamente reconfigurada. A escola pública tem sido atravessada por um modelo tecnocrático e gerencial que transforma professores em operadores de plataformas digitais, submete estudantes a métricas de desempenho e esvazia o sentido da experiência educativa. Para os estudantes, isso significa a perda do vínculo pedagógico, da escuta atenta e do espaço coletivo de construção do saber. Em seu lugar, instala-se uma lógica de treinamento automatizado: tarefas repetitivas, conteúdos fragmentados e avaliações padronizadas. Os jovens são tratados como usuários de sistemas, cobrados por resultados que pouco revelam sobre sua aprendizagem real e muito menos sobre sua formação como sujeitos críticos. A ambiguidade da educação se aprofunda: ainda que sua lógica não seja orientada para o lucro, ela passa a ser organizada segundo os mesmos imperativos da produtividade, da mensuração e da performance.
As transformações recentes nas políticas educacionais, especialmente com o avanço da plataformização, radicalizam essa lógica. Como mostra a Nota Técnica do GEPUD/REPU (2025), a imposição de plataformas digitais na rede estadual paulista tem servido não à melhoria do aprendizado, mas à reorganização do orçamento público em favor de empresas privadas. A retórica da inovação e da eficiência camufla contratos milionários com grupos de tecnologia que impõem aplicativos e sistemas de controle, convertendo o cotidiano escolar em objeto de vigilância algorítmica. Nesse novo arranjo, a educação pública é mobilizada não por seu potencial formativo, mas como engrenagem no processo de valorização do capital digital.
A privatização como mecanismo de acumulação capitalista não é um fenômeno recente. No Brasil, esse processo se intensificou nas décadas finais do século XX, especialmente com a adoção das políticas neoliberais nos anos 1990. Sob o discurso da modernização e da racionalização do Estado, assistiu-se à entrega de empresas estratégicas como a Vale do Rio Doce, a Embraer, a Companhia Siderúrgica Nacional, além de companhias de telecomunicações e bancos estaduais, a conglomerados privados nacionais e estrangeiros — frequentemente em operações marcadas por falta de transparência e favorecimento de grupos já consolidados. Nessa conjuntura, o Estado não se retirou das dinâmicas econômicas, mas assumiu um novo papel: o de reorganizador dos marcos institucionais, jurídicos e regulatórios que viabilizaram a financeirização e a concentração de capital. Tornou-se, como apontam diversos estudiosos, um verdadeiro corretor de ativos, promovendo o desmonte das políticas públicas e convertendo bens comuns em mercadorias.
Nas últimas décadas, esse modelo de acumulação assumiu contornos mais difusos, mas não menos agressivos, especialmente com a expansão da chamada plataformização e da acumulação por espoliação no orçamento do Estado. Diferentemente do ciclo anterior, centrado na venda direta de ativos estatais, o momento atual caracteriza-se pela transferência indireta e contínua de recursos públicos para o setor privado. Isso ocorre por meio de contratos de gestão, convênios, parcerias público-privadas, fundações empresariais e, sobretudo, plataformas digitais. No campo da educação, esse processo se manifesta na contratação de empresas de tecnologia e consultorias que operam sob a lógica da produtividade e da padronização, subordinando o sentido público da escola às exigências do capital. Embora a educação pública ainda não tenha sido formalmente privatizada, sua estrutura é cada vez mais reconfigurada para funcionar como instrumento de valorização privada, com o Estado atuando como operador técnico de um projeto de espoliação orçamentária permanente.
Esse processo está diretamente vinculado ao que David Harvey denomina acumulação por espoliação: a apropriação de bens comuns, fundos públicos e patrimônios sociais por meio de mecanismos institucionais, legalmente constituídos, mas orientados pela lógica da pilhagem. Na educação, essa dinâmica se concretiza na transferência sistemática de recursos para plataformas digitais, ONGs gerencialistas e fundações empresariais, que capturam fatias crescentes do orçamento público sob o discurso da inovação e da eficiência. A espoliação, no entanto, é também simbólica: a função formadora da escola é reduzida a uma operação técnica orientada por dados, metas e relatórios. O conteúdo crítico, o pensamento autônomo e os vínculos pedagógicos são substituídos por fluxos automatizados e protocolos padronizados, minando o caráter emancipador da prática educativa. Instaura-se, assim, uma forma híbrida de privatização — não pela venda direta das escolas, mas pela sua submissão aos imperativos da lógica algorítmica e da rentabilidade empresarial.
Essa dinâmica não se sustenta apenas em abstrações teóricas — ela se materializa de forma concreta nas contratações realizadas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. A Nota Técnica do GEPUD/REPU (2025) apresenta uma tabela que ilustra com precisão esse processo de espoliação do fundo público:
Valores desembolsados pelo governo paulista para a aquisição de plataformas educacionais – 2024
| PLATAFORMA | VALORES (R$) |
| Alura | 30.845.897,55 |
| Education First (EF) | 55.294.560,00 |
| Elefante Letrado | 6.509.880,00 |
| Khan Academy | 0 (cedida) |
| Leia SP | 10.458.000,00 |
| Livros digitais para a plataforma “Leia SP” | 3.900.000,00 |
| Matific | 72.208.354,68 |
| Me Salva! | 0 (cedida) |
| Redação Paulista e Tarefa SP | 65.780.121,96 |
| Super BI, Apoio Presencial e Edu.Profissional | 115.916.625,75 |
| Wizard Pearson (programa “Prontos pro Mundo”) | 110.160.000,00 |
| TOTAL | 471.073.439,94 |
Fonte: Elaboração do GEPUD, a partir de dados fornecidos pela Seduc-SP via Lei de Acesso à Informação (2025)
Esses contratos, firmados sem participação efetiva das comunidades escolares, impõem modelos prontos, desconsideram as especificidades locais e reconfiguram o cotidiano pedagógico com base na lógica da performance, da vigilância e da obediência algorítmica. Sob o discurso da “inovação”, ocultam-se os efeitos pedagógicos deletérios dessas políticas, que aprofundam a captura do fundo público e comprometem diretamente a qualidade da formação oferecida aos estudantes.
Estamos falando de quase meio bilhão de reais da educação paulista transferido para empresas e plataformas digitais, muitas vezes apenas para a gestão de aplicativos e sistemas que não geram impacto comprovado na aprendizagem — mas que garantem lucros expressivos e rentismo puro para o setor privado.
A educação, no capitalismo contemporâneo, pois expressa novas formas de acumulação baseada na transferência do orçamento público para setores privados. Ainda que, em sua essência, não produza mercadorias nem gere lucro direto, ela é indispensável à reprodução das relações sociais e à formação da força de trabalho. Essa ambiguidade é explorada pelas dinâmicas de acumulação atuais, que reorganizam o fundo público, capturam o trabalho docente e moldam as subjetividades estudantis conforme os valores da performance e da obediência. Plataformas digitais e sistemas de gestão transformam a experiência escolar em um processo de treinamento técnico e monitoramento permanente, esvaziando a educação de seu conteúdo humanizador. Resistir a essa lógica exige mais do que denunciar abusos privatistas: é necessário reconstituir a escola pública como espaço de formação crítica, de autonomia docente e de construção coletiva do saber.
Diante desse cenário, é fundamental reconhecer que o desmonte da educação pública não ocorre de maneira repentina, mas como parte de um processo gradual e sistemático de reconfiguração do papel do Estado. A lógica da financeirização, longe de se limitar aos setores já capturados pelo mercado, avança sobre áreas ainda parcialmente preservadas, como a educação básica. Enquanto a assistência social foi amplamente delegada a ONGs, a saúde transferida para organizações sociais e planos privados, e a previdência pública reestruturada para abrir espaço à previdência complementar, os cerca de 180 bilhões de reais destinados à educação permanecem como um dos últimos grandes fundos públicos ainda não plenamente explorados pela iniciativa privada. Lutar contra a espoliação desses recursos, portanto, não é apenas uma disputa orçamentária, mas a afirmação de um projeto político-pedagógico comprometido com a justiça social, a autonomia intelectual e a formação crítica. Essa resistência se insere em uma luta mais ampla contra a financeirização dos direitos sociais e a conversão do bem comum em ativo rentável sob domínio do mercado.
Neste cenário, mais do que nunca, é preciso transformar a denúncia em mobilização. A defesa da escola pública não pode se restringir à resistência passiva ou à nostalgia de um passado idealizado — ela exige ação organizada, alianças sociais amplas e um horizonte de transformação radical. Reverter a lógica da espoliação e da plataformização significa enfrentar os interesses do capital financeiro e das corporações tecnológicas que hoje moldam a política educacional. Mas também significa reconstruir coletivamente o sentido da educação como direito, como bem comum e como prática emancipadora. Cada escola ocupada, cada professor mobilizado, cada estudante consciente representa uma trincheira contra a mercantilização da vida e a subordinação da formação humana aos algoritmos da eficiência. A luta em defesa da educação pública é, em última instância, a luta por outro projeto de sociedade.