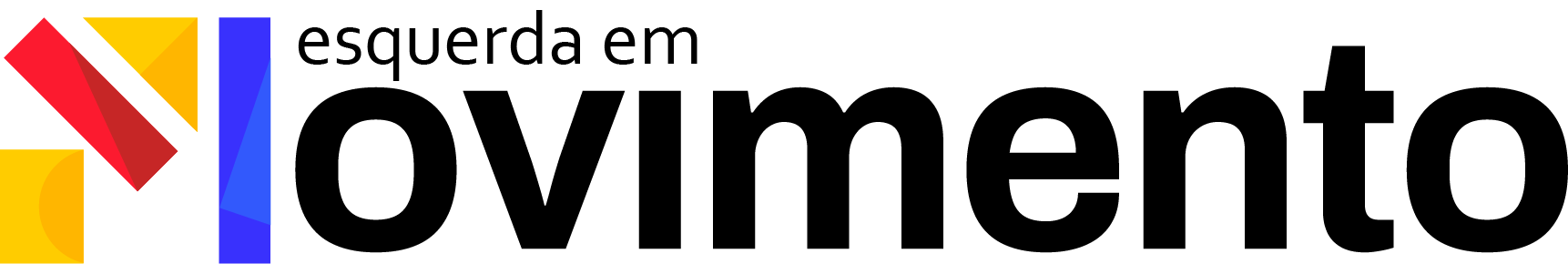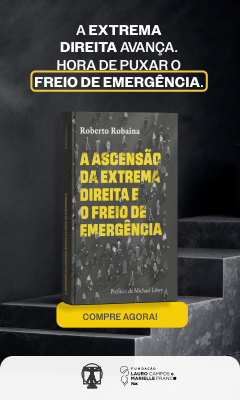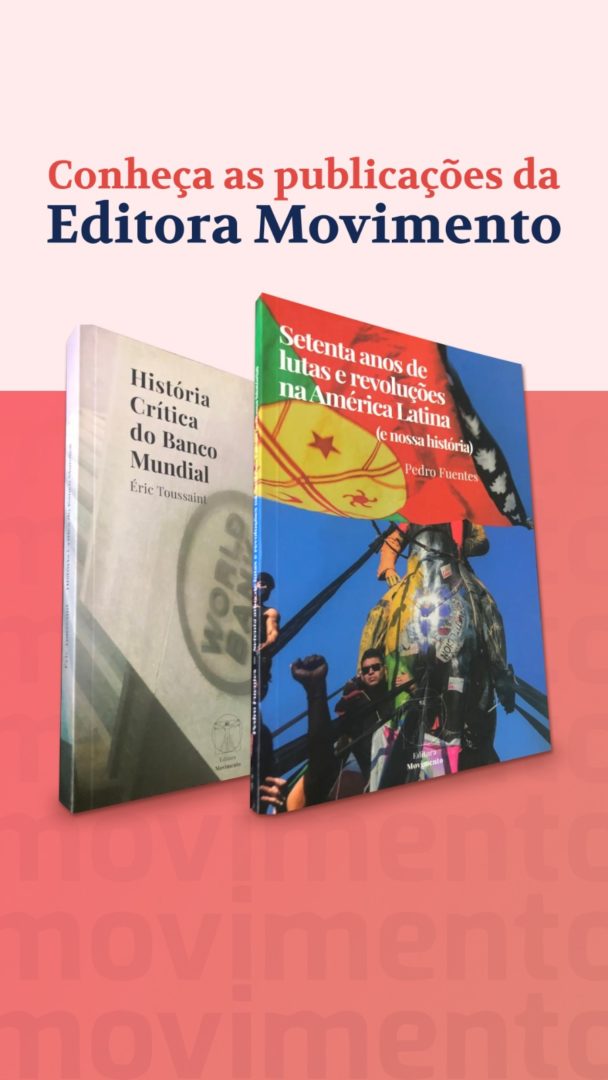Mamadou Ba: “Há um impasse estratégico à esquerda sobre a questão racial”
O dirigente do SOS Racismo alerta para o crescimento da extrema-direita e para a sua influência nas políticas do Governo, determinando neste momento as “questões migratórias e de diversidade étnica”
Nascido em 1974 em Kolda, Senegal, Mamadou Ba é uma das figuras mais destacadas na militância antirracista em Portugal. Estudou Língua e Cultura Portuguesa na Universidade Cheikh Anta Diop, em Dakar, e concluiu o curso de Tradutor na Universidade de Lisboa. É dirigente do SOS Racismo e foi assessor do Bloco de Esquerda, partido do qual se desfiliou no final de 2019. O luso-senegalês vive hoje no Canadá, onde está a tirar um doutoramento e mestrado na University of British Columbia, em Vancouver, no Institute for Gender, Race, Sexuality and Social Justice, onde também dá aulas.
A sua intervenção no espaço público não tem sido imune a polémicas ou à criação de anticorpos. Em janeiro de 2019, após criticar a atuação da PSP no Bairro da Jamaica, foi alvo de ameaças físicas por grupos de extrema-direita. Mais tarde, teve proteção policial, devido às ameaças a que continuou a ser sujeito. Enfrentou também processos judiciais, como a condenação por difamação a Mário Machado — posteriormente anulada —, depois de ter afirmado que o militante neonazi foi “uma das figuras principais do assassinato de Alcindo Monteiro”. Mais recentemente, foi alvo de uma queixa do sindicato dos guardas prisionais, na sequência de publicações nas redes sociais onde associava a violência nas prisões a mortes de reclusos. É autor do livro Antirracismo — a nossa luta é por respeito, amor e dignidade. Foi por videoconferência para Vancouver que o PÚBLICO conversou com Mamadou Ba.
Por que foi para o Canadá?
A necessidade de segurança no sentido lato da palavra: sentir-me seguro comigo próprio. Sentir-me livre. A experiência da proteção policial foi muito traumática. Sentia-me cansado e precisava de preservar as pessoas à minha volta. Queria voltar a estudar e fazer investigação. Interessava-me pôr em diálogo o ativismo e a academia. Achei que também podia ser um contributo sair de cena. É importante que o movimento aprenda a reciclar-se. Se não tens a humildade de perceber que tens de te apagar um pouco para que outras figuras surjam, não alargamos horizontes. Queria respirar e estou muito feliz no Canadá, porque ninguém me conhece.
A partir de que momento passou a ter proteção policial e quanto tempo durou?
Pedi pela primeira vez quando fui alvo de uma emboscada do PNR em frente ao Picoas Plaza [Lisboa], em janeiro de 2019. Tive sorte, porque podia ter morrido naquele dia. Mas não me deram proteção, achavam que estava a exagerar. Na semana seguinte, fui atacado na estação de comboios do Barreiro por cinco skinheads, antes de ir a um debate na Escola Superior de Educação de Setúbal. Depois de ter participado nessa iniciativa, fui logo à Polícia Judiciária apresentar queixa e pedir proteção policial, que mais uma vez não me foi dada. Senti-me completamente abandonado naquele período, do ponto de vista dos partidos. Por um lado, o Bloco de Esquerda fugia com o rabo à seringa para não ser colado a mim; por outro, o PCP e o PS diziam estar do lado da polícia. Exceto o movimento social, fiquei sozinho. Os partidos políticos abandonaram-me completamente. Em fevereiro do mesmo ano, dois skinheads tentaram agredir-me no autocarro 727.
Havia muita gente preocupada comigo. Para os meus filhos, tornou-se uma coisa muito chata. Telefonavam para saber onde estava e se estava acompanhado. Quando não tens liberdade, as pessoas à tua volta também não [têm]. Isso não era agradável de viver. Aconteceu várias vezes as pessoas irem a minha casa, escoltarem-me com dois ou três carros, íamos fazer uma atividade e voltávamos. Agradeço muito a toda a gente porque houve uma corrente de solidariedade muito grande.
No Verão de 2020, houve uma pichagem nas paredes da sede do SOS Racismo em que se escreveu “Guerra aos inimigos da minha terra”. A seguir, houve a parada Klu Klux Klan em frente à sede do SOS e depois foram dirigidas ameaças a várias pessoas, entre as quais a Joacine Katar Moreira e a Mariana Mortágua. Acho que por estarem envolvidas pessoas que representavam órgãos de soberania, no caso duas deputadas, o Estado acordou e atribuiu-nos proteção policial.
Durou cerca de cinco meses, mas já não aguentava mais aquilo e fiz de tudo para acabarem com a proteção policial. Deixei de cumprir com o protocolo. Era preciso dizer onde ia, como, de que horas a que horas, com quem. Era uma imensa infelicidade não poder andar sozinho na rua ou de transportes públicos. Quando, por exemplo, estive no júri do IndieLisboa, foi uma experiência muito dolorosa. Tanto no visionamento de um filme, como na reunião e discussão a seguir, estava sempre com aqueles polícias atrás. Quando fizeram a reunião de avaliação, acharam que não queria mais proteção e a ameaça tinha baixado, então acabámos com ela.
E como foi a experiência depois de deixar de ter proteção policial?
Era um sentimento misto. Libertei-me do peso da proteção policial, mas havia sempre um sentimento de perigo iminente. Pela desconfiança que tenho da presença de elementos da extrema-direita dentro da polícia, que sabia que já não estava mais sob proteção policial, tinha algum stress. E porque houve vários episódios em que fui insultado na rua ou em esplanadas. Aumentou a pressão social junto das pessoas perto de mim que não queriam que andasse sozinho. Tinha sempre de andar de Uber, não podia andar de táxi [tradicional].
Uma vez apanhei um Uber e o motorista perguntou se eu era o Mamadou. Com medo de ser reconhecido, disse que não, mas ele insistiu em perguntar. Durante a viagem revelou-se, dizendo que era da comunidade cigana, e queria demonstrar solidariedade. Até ele dizer aquilo havia uma dúvida se podia ser, por exemplo, um skinhead. Porque muitas vezes apanhei taxistas, que depois me insultaram ou que se recusaram a levar-me. Tudo isto se tornou um peso porque as pessoas à minha volta estavam sempre a querer saber como estava e do que precisava. Tive grandes discussões com amigos que ficaram zangados quando sabiam que tinha saído sozinho por estar a pôr a minha vida em risco, mesmo quando não se justificava.
No último 10 de Junho, um ator do teatro A Barraca foi agredido por neonazis, tal como voluntárias que distribuíam comida a sem-abrigo no Porto. O xeque David Munir também foi insultado. Tendo em conta a sua experiência, já esteve envolvido em processos judiciais e teve de mudar de casa três vezes após a sua morada ter sido exposta nas redes sociais. No momento político que vivemos, qual é o efeito que estes episódios podem ter na disponibilidade das pessoas darem a cara e estarem ativas em movimentos, partidos ou outras organizações? O medo pode paralisar?
O objetivo é esse. Não digo que não tenho medo, isso seria demasiado pretensioso. Todos nós temos. O medo é uma arma quando o sabemos mobilizar, porque catalisa o alerta, a consciência de que algo não está bem e de que é preciso erguer-se perante o que vai contra a nossa dignidade. A intimidação tem efeito, porque tem consequências devastadoras para a saúde mental. Há toda uma energia e tensão negativa que surge à volta de qualquer ativista. E quando se é alvo de atenção pública, ela reverbera no nosso meio e contamina todos os aspetos da nossa vida. Os nossos filhos, companheiros, amigos são todos afetados por aquela circunstância.
Isto cria dúvidas sobre o que é mais importante — fazer frente ou encolher-se. O propósito é que as pessoas se encolham por medo ou cansaço. Isso aconteceu comigo. Mudei três vezes de casa. Isto tem impacto nas pessoas com quem se vive, que começam a perguntar: “Será que vale mesmo a pena? Será que estamos safos disso?” Quando estas questões apareciam em casa, costumava usar uma frase do pai do Ondjaki, o comandante Juju, que dizia na altura da Guerra Colonial aos seus camaradas: “Estamos cercados, mas vamos sair desta.”
Acho que eles fazem isso para termos medo, criar entropias e engrenagens no movimento, mas quando nós olhamos para a história da tradição radical negra, percebemos que não viemos do nada. Cada um de nós é resultado de um pedaço de luta. Somos uma continuidade, sempre. É por isso que o projeto de criar medo não consegue vingar. Há uma capacidade cíclica de regeneração.
Uma reportagem de 2022 feita por um consórcio de jornalistas denunciou o discurso de ódio de 591 agentes de forças de segurança. O Mamadou era, a seguir a André Ventura, a pessoa mais visada, no caso sendo alvo de discurso de ódio. Qual a perspetiva que tem sobre a sua persona pública e ter sido alvo de chacota?
Eu era apenas um pretexto. Simbolizava o que essas pessoas que se alimentam do ódio ao que é diferente carregam dentro de si. Criaram esta ideia do Mamadou como uma personagem hostil às instituições. Isso é uma forma de desviar o debate e impede que discutamos de forma séria a questão racial. O ódio na polícia é uma coisa muito antiga. É uma herança colonial. Só não havia quem o denunciasse na praça pública, como eu e outras pessoas começámos a fazer no final do século passado.
Basta ir ler os autos das primeiras notas de acusação do Ministério Público sobre jovens negros das periferias, dos finais de 1990 até agora, para perceber que este discurso de ódio que a polícia mobiliza contra pessoas negras é real. Tivemos a morte do “Toni” em 2005 e do “Kuku” em 2014, que era uma criança de 14 anos, mas foi tratado na imprensa como se fosse o maior gangster da história da polícia.
Hoje há uma maior visibilidade da denúncia e ela é mais instantânea e acessível por causa das redes sociais. Aumentou a capacidade de confrontação política no espaço público das pessoas negras contra as instituições de forma geral e a polícia em particular.
O que o levou a querer estudar de novo?
Há uma necessidade de disputa do discurso hegemónico sobre a questão racial que é altamente colonial. É preciso descolonizar o saber. Para combatermos o privilégio branco, temos de combater o privilégio epistémico e o privilégio doutrinário.
Há um impasse estratégico à esquerda sobre a questão racial, porque a branquitude é uma coisa que é transversal a todo o espectro político ocidental. Quem quer perceber o mal-estar que pessoas como eu sentem, e que são filiadas à esquerda, basta ir ler a carta de demissão do Aimé Césaire do Partido Comunista Francês, em 1956. É uma carta límpida e que podia ser transportada para a realidade de hoje.
Muitas vezes, as pessoas que estão no movimento antirracista são acusadas injustamente de serem identitárias, de não terem densidade ideológica, de serem sectárias. Todas essas acusações levaram-me a querer pôr em diálogo aquilo que aprendi enquanto ativista e sujeito político negro com aquilo que se vai produzindo de narrativa hegemónica.
Se quisermos combater o avanço da extrema-direita que usa a identidade para excluir, nós — antirracistas de todo o mundo — temos de saber que a identidade é uma adição, não uma subtração. Porque é que uma empregada de uma unidade fabril da área metropolitana de Lisboa, de Setúbal ou do Porto detesta um colega seu não branco quando, em teoria, estão submetidos pela mesma ordem?
Porque na cabeça dessa pessoa instalou-se uma falácia: por ser branca tem uma vantagem sobre a pessoa não branca ao seu lado. Isto é o privilégio simbólico. A ideia da superioridade é um certificado de aforro para determinadas pessoas. Vivemos numa sociedade da competição, em que se criou uma hierarquia.
Estou muito obcecado com as categorias, porque elas são necessárias para demonstrar o quão estrutural é a questão racial; e para podermos identificar onde, como e quando as desigualdades atuam; e perceber como criar políticas públicas para responder a essas desigualdades, sobretudo quando têm um fator racial por detrás.
Como é que, através do vocabulário existente, é possível ultrapassar as próprias categorias?
É o conteúdo político que lhes aplicamos. Nós demos uma carga política à categoria “trabalhador”, por exemplo. Fanon disse que o branco não existe e tão-pouco o negro, nesse sentido do racialismo. Ser negro não me define como pessoa, mas determina o lugar que ocupo numa sociedade que é racista. Por isso, posso não aceder a uma discoteca ou não conseguir arrendar uma casa porque o proprietário pode não gostar de negros. Há toda uma força hegemónica dentro da qual foi atribuída cada categoria que é preciso desconstruir — e que a academia tem preguiça de fazer.
Em 2018, escreveu no PÚBLICO uma crítica ao livro Políticas de Inimizade, de Achille Mbembe, onde relembra o teórico nazi Carl Schmitt afirmando que “a inimizade se tornou um aspeto central da vida política contemporânea onde a busca do inimigo é uma parte integrante da vida das democracias”. Porque é que discursos anti-imigração, que têm como alvo um inimigo, estão a ter tanto sucesso?
É uma questão de poder. A xenofobia, a retórica anti-imigração, o racismo identitário, tem que ver com quem controla o quê. Vemos o que está a acontecer na Palestina, e percebemos que toda a retórica sobre a “humanidade partilhada” é um logro. Não há humanidade partilhada perante a barbárie que está a acontecer aos nossos olhos.
Estive em Lampedusa em 2013, na altura em que chegavam todos os dias centenas de corpos mortos às praias. Uma coisa que me chamou à atenção foi um cemitério de barcos, que estava muito bem tratado. Levaram-me para um matagal dentro do cemitério. Não havia placas, nomes, nada. Parecia uma vala comum. Mesmo na morte, os imigrantes não pertencem. As fronteiras da Europa metem fora da humanidade uma parte importante do mundo. A normalização da indignidade que se comete em relação a pessoas “diferentes” é o que explica uma coisa que não se fala muito: o Ocidente está assombrado com a ideia do fim da história.
Não é por acaso que a extrema-direita ocidental mobiliza a ideia da “grande substituição” — está obcecada com isso. Em Portugal, quando ouvimos os políticos de extrema-direita populista sobre terem orgulho na sua história, sobre não terem de pedir desculpas sobre nada, tem que ver com isso, tem que ver com essa obsessão. Criámos uma ideia na sociedade portuguesa de que fomos excecionais do ponto de vista da nossa história colonial. Toda essa quimera lusotropicalista explica a questão do discurso da retórica anti-imigração, porque, segundo essa retórica, é preciso garantir que os cidadãos nacionais tenham acesso aos recursos que estão a ser disputados por uma ordem de invasores. É o inimigo perfeito.
Quando acusamos os imigrantes, estamos a desresponsabilizar as elites pela falta de habitação, a degradação dos serviços públicos. É uma estratégia de contrafogo perante o fracasso das políticas neoliberais. É por isso que o discurso anti-imigração vai continuar. Ele procede de uma incapacidade de assumir o fracasso político do modelo económico vigente, que já mostrou os seus limites. As elites querem salvar-se a si próprias.
O Chega cresceu de uma forma bastante rápida desde 2019. Foi algo que o surpreendeu?
Nada. O fascismo deixou marcas profundíssimas na sociedade portuguesa. A sua derrota simbólica em 1974 foi uma derrota política, mas não foi uma derrota ideológica. Há um fenómeno específico que pouca gente fala em Portugal que só é idêntico a França: os retornados. Há um fantasma do regresso [das ex-colónias] que marca os espíritos e está obsessivamente presente no imaginário coletivo português.
Nunca deixou de existir um espaço grande de fascismo em Portugal do ponto de vista político. O que não havia era alguém capaz de o mobilizar e de o disputar no poder. Essa estratégia foi muito bem montada. Ele começou por aquilo que é um denominador comum em Portugal, que é a ciganofobia. Quando ele se instala e normaliza esse discurso ciganófobo, vai buscar os recursos retóricos do Estado Novo e moderniza esses discursos à volta da segurança, da corrupção e da ética para atacar o sistema político que em larga medida fracassou.
Esse discurso vingou também através de um pilar muito importante que foi a mobilização do descontentamento policial. A rampa de lançamento do André Ventura foi o Movimento Zero, uma organização parassindical dentro das forças de segurança. Não é por acaso que ele é amigo dos setores mais reacionários e filiados às forças da extrema-direita dentro das forças da segurança. Ou enfrentamos esta questão do fascismo que quer usar a democracia para a reverter ou então é uma questão de tempo até termos muito em breve um governo fascista.
Qual é a sua perspetiva sobre como o resto do arco político-partidário, nomeadamente o Governo, tem convivido com a extrema-direita?
Neste momento, quem determina a política do Governo sobre questões migratórias e diversidade étnica é a extrema-direita. Nos anos 1990, em França, a direita implodiu porque achou que podia higienizar o discurso da Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen e que ao fazê-lo podia recuperar o descontentamento mobilizado pela extrema-direita para derrotar a esquerda. É o que a direita portuguesa está a fazer. Isso já deu provas de que não funciona. As pessoas preferem o original à cópia. As perspetivas são sombrias e temos de nos mobilizar.
No dia 10 de Junho, a escritora Lídia Jorge fez um discurso que abordou o passado colonial português e afirmou: “A falácia da ascendência única não tem correspondência com a realidade: cada um de nós é uma soma, tem sangue do nativo e do migrante, do europeu e do africano, do branco e do negro e de todas as cores humanas.” Que opinião tem sobre este discurso?
Valorizo o discurso e entendo o seu alcance estratégico e político, mas não fiz parte dos que o aclamaram. Para percebermos que ninguém é puro em Portugal, é preciso que assumamos as consequências daquilo que cristalizou a ideia da pureza racial: o défice de igualdade com que pessoas negras ou não brancas vivem em democracia, que resulta dessa ideia de que o colonialismo já passou, foi uma dor, e agora temos de pensar no futuro. Essa ferida precisa de ser curada e ainda está muito aberta.
Também não me esqueço da circunstância em que foi pronunciado e quem o pronunciou.
Este país tem um problema com a memória e não se faz política sem ela. Quando se colocou o debate sobre o museu das Descobertas, Lídia Jorge fez parte do grupo de figuras públicas que se indignou com quem se ergueu contra a sua construção e do debate à volta do legado da história colonial. Não podemos fazer este salto no vazio como se no meio não existisse nada.
Não se trata de julgar a história. Ela julgou-se a si própria. As responsabilidades também estão mais do que estabelecidas. Há crimes que são imprescritíveis. Devemos organizar a sociedade de forma a que esse crime não se repita mais.
Como é que esta nova vaga de imigração, nomeadamente do Sudoeste asiático, e a perceção dos portugueses sobre ela podem estar a criar novas dinâmicas e conflitualidades para com minorias étnicas e religiosas, na forma como o racismo se manifesta em Portugal?
O que está a acontecer com as comunidades indo-asiáticas é uma continuidade histórica. Nos anos 1970/80, o foco era contra as comunidades negras, essencialmente lusófonas, porque havia um laço e uma circunstância histórica que determinou que fossem mais numerosas. Nos finais da década de 1990, o foco mudou, passaram a ser os brasileiros — toda a gente se lembra do episódio das “mães de Bragança”. Agora mudou. A lógica de importação de mão-de-obra barata virou-se mais para pessoas oriundas do espaço indo-asiático.
Também tem que ver com ciclos económicos. Se olharmos para os setores onde há maior precariedade laboral: a distribuição, agricultura e a hotelaria. No passado, era construção e hotelaria. Quem critica os movimentos identitários devia perceber o porquê da extrema-direita, a direita conservadora, e a direita higiénica conseguir mobilizar a ideia de perigo à identidade nacional. A extrema-direita di-lo com clareza, mas o resto da direita di-lo de uma forma subtil.
A presença dessas pessoas pode ser uma ameaça à identidade nacional. O “Português Branco da Fonseca” já não existe há muito tempo. O mundo é uma composição mosaica de vários arquivos da humanidade. Todas as pessoas obcecadas com a pureza étnica vão sofrer e criar mais sofrimento, porque vão mobilizar a sua obsessão de pureza contra pessoas que não têm nada que ver com as suas dores de existência e o seu medo do fim da história.
Vai ser difícil combater este discurso se quem luta por valores democráticos começar a relativizar esses ataques. Estamos a viver coisas muito próximas do que se viveu nos anos 1930. Os pogroms começaram assim. O que aconteceu em Espanha (em Torre Pacheco) aconteceu já em França e aconteceu em Portugal, mas numa escala menor. Em Montemor, os imigrantes foram perseguidos; em Setúbal, um imigrante foi morto em casa; no Porto, imigrantes foram caçados e perseguidos. A caça ao judeu e a caça ao preto continuam na caça ao imigrante.
Nos últimos anos, a discussão sobre o racismo ganhou novos protagonistas, seja através da música, da política ou movimentos como o Vida Justa. Qual a sua perspetiva sobre o que mudou na capacidade de afirmação política e cultural?
Mudou muita coisa pela positiva. As nossas organizações deixaram de ser apenas resquícios folclóricos de um olhar condescendente de determinados setores da sociedade portuguesa que tinham alguma preocupação com ideias de justiça social. As organizações têm personalidade política, capacidade de confrontação e proposta. Deram conteúdo programático às lutas. Foi um tabu durante muitos anos e hoje discute-se abertamente. Concorda-se, discorda-se, mas há um debate. Isso é importante.
Mas as pessoas acham que o haver mulheres negras na política é uma novidade. Não é. As dirigentes das maiores associações de imigrantes na década de 1990 eram mulheres. A Alcestina Tolentino foi a presidente da Associação Cabo-Verdiana, que foi a maior associação de imigrantes em Portugal; a Amina Lawal, que foi a presidente da Associação Moçambicana; a Carla Marejano, que foi presidente do Centro Cultural Africano; a Olga Santos, da associação Moçambique Sempre. Todas estas figuras foram muito importantes na década de 1990. São mulheres de peso e de grande capacidade política que marcaram a luta política do movimento social antirracista.
Aproveito para prestar homenagem a uma figura que desapareceu e de que não se fala muito: o Fernando Ka, que foi deputado do PS. Foi um dos primeiros cronistas no PÚBLICO e assinava as suas crónicas como português negro. Ele e o Manuel Correia do PCP foram pessoas muito importantes. Depois veio a leva das novas gerações de mulheres negras públicas — Joacine [Katar Moreira], Beatriz Gomes Dias, Romualda Fernandes. Mas também figuras do debate intelectual, como Cristina Roldão, Kitty Furtado, Sheila Khan, Sónia Vaz Borges e Raquel Lima. Começámos a preencher todos os campos. Antes delas, havia a Inocência Mata ou a Iolanda Évora.
Todas essas personagens foram preenchendo os espaços de debate teórico e político. Cada uma delas se mostrava no seu campo e ao mesmo tempo integrava a luta na militância. Isso é fundamental, e acho que abriu a adesão aos artistas. O hip-hop teve um papel importantíssimo para a consolidação desse movimento. Nos anos 1990, tivemos o General D, que merece uma homenagem nacional que não foi feita ainda. Poucas pessoas sabem que foi dos primeiros candidatos negros às europeias. Antes dele, havia a Lena Lopes da Silva, que foi a primeira mulher negra a ser candidata às eleições europeias em democracia; e depois dela, a Anabela Rodrigues, que também se candidatou.
Outra figura que se destacou no hip-hop foi o Xullaji, pela sua capacidade propositiva, mas também disruptiva. Depois disso, vieram as pessoas mais conceituadas, do mainstream: o Dino, por exemplo, que fez um ato corajoso no 31.º aniversário do PÚBLICO, quando o então primeiro-ministro António Costa me colocou em comparação com o André Ventura. Dedicou-me o concerto todo e à luta antirracista.
Tudo isso são passos que mostram o avanço das coisas. A Vida Justa agora é o novo espaço onde se encontram as lutas para a dignidade e que abarcam outros aspetos: a violência policial, o acesso à habitação. Esse é o paradigma que tem de prevalecer para as lutas não ficarem capturadas. Porque é que a polícia mata nos bairros? Porque é que mata pessoas negras? Porque é que espaços e corpos habitados por pessoas negras são alvo da violência do Estado? Porque é que as casas das pessoas quando são demolidas como aconteceu no Talude não suscita nenhuma comoção coletiva? Porque ela é muito seletiva quando se trata de pessoas negras ou ciganas. É o racismo. Não pode haver nenhuma agenda de luta política, por mais profunda e estrutural que ela seja, no contexto atual em Portugal, que não tenha em conta a questão racial. O futuro passará por termos a capacidade de percebermos a dimensão interseccional dessa condição.
Escreveu no PÚBLICO em 2019 que “o debate em Portugal sobre estratégias e alianças no combate ao racismo está cada vez mais marcado por uma tensão entre militantes racializados e apoiantes brancos”. Qual a análise que faz sobre a aliança dos movimentos antirracistas aos partidos, nomeadamente os de esquerda?
É uma aliança fraca, desleal e, em larga medida, desonesta politicamente. Mas é indispensável. A esquerda tem de perceber que por ser a nossa primeira aliada é com ela que somos mais exigentes. Muitas vezes há essa falta de perceção. Não tenho nenhuma esperança de fazer qualquer aliança com a direita que resulte numa alteração substancial da condição das pessoas racializadas. Na minha perspetiva, a esquerda é um aliado, mas às vezes pode ser um adversário. A direita é sempre um adversário, quando não é um inimigo. Todos os partidos de esquerda têm uma agenda antirracista, em graus e formas muito distintas, mas não têm ainda programa antirracista. Sem programa, não há política. A agenda é a da ordem da disputa, da retórica e do discurso; o programa é da ordem da prática e do combate efetivo contra a desigualdade com fator racial. É preciso que a esquerda tenha capacidade de se expor às fragilidades doutrinárias que marcam o nosso espaço de pensamento sem cair na tentação de acusar logo quem a levante como identitário ou sectário.
É preciso haver sinceridade na nossa aliança e perceber que a derrota do capitalismo não partirá nunca do centro, mas das periferias. E quem ocupa as periferias? Pessoas não brancas. Estou profundamente ancorado na esquerda e, se há um segmento social no Ocidente em particular que não precisa de ter lições sobre o que é ser de esquerda, são as pessoas não brancas. Porque vivem o significado e o impacto da desigualdade de classe no quotidiano: no acesso ao trabalho, aos bens e serviços e ao próprio território.
Tem de haver uma disposição em não instrumentalizar as lutas. A esquerda habituou-se a olhar para o movimento como um obstáculo. Não é uma coisa nem outra. O movimento antirracista é um dos dispositivos essenciais que a esquerda tem para combater a desigualdade. É preciso que o movimento antirracista não seja um apêndice, mas uma força.
O que o levou a escolher o mestrado em Comunicação? Como é que isso se relaciona com o contexto atual marcado pelo impacto das redes sociais e estas novas dinâmicas da comunicação?
Se há uma pessoa em Portugal que foi alvo de chacota, de perseguição por via da comunicação fui eu. Os media e as redes sociais foram mobilizados para criar uma persona que coincide com uma agenda que a extrema-direita e o sistema quiseram que existisse.
Vivemos numa espécie de plutocracia, que é o veículo principal do capitalismo digital, que é também um capitalismo racial. As grandes corporações digitais controlam completamente a comunicação e determinam como o jornalismo clássico se comporta, atrelando-o às novas formas de comunicação, e constroem todo um reportório narrativo de consolidação de uma ideia fascista de sociedade. O Twitter, o Facebook, o Instagram, a própria Google são armas de destruição maciça da democracia; e são espaços planetários de normalização do absurdo, da indecência, da violência e da impunidade. Nunca ninguém pensou que viveríamos numa altura em que se podia assistir em direto a um genocídio. É nessa normalização que se constrói um discurso dos mais racistas que temos ouvido nos últimos 40 anos sobre palestinianos. Tudo isto me levou a querer compreender melhor estes fenómenos.
Quis também dialogar comigo próprio. Muitas vezes, queremos falar com as outras pessoas e esquecemo-nos de falar connosco sobre o que pensamos que é uma via, uma forma de pensamento, as nossas certezas e as nossas incertezas. Este curso tem uma coisa interessante porque permite duas opções: escrever uma tese; ou um produto final a partir de uma reflexão baseada em casos concretos, na tua história de vida ou na vida de outras pessoas — uma análise circunstanciada de um fenómeno qualquer que se possa relacionar com reflexões mais abrangentes.
Voltando a Mbembe. Em Políticas de Inimizade, o autor sugere a alteração de um paradigma democrático a que chama “a democracia do vivo”, na qual cabem todos os seres vivos, humanos, animais, vegetais para que os ecossistemas que os sustentam possam ser preservados. Como chegar até lá?
Duas coisas: livrarmo-nos definitivamente da ideologia da posse e da ideia de que precisamos de extrair tudo e mais alguma coisa da natureza; a segunda é percebermos que somos uma ínfima parte do ecossistema. Até agora, como disse Mbembe, o que norteou os modelos de organização social é a ideia de que nos parecemos uns aos outros, onde podemos tratar-nos bem. Mas é preciso que tratemos bem de tudo aquilo que está à nossa volta. Em vez da “democracia do semelhante”, que é só entre os que acham que são parecidos e próximos, a “democracia do vivo” é uma ideia de convivência horizontal e de necessidade de autopreservação e preservação. É por isso que digo sempre que justiça climática, justiça racial e justiça económica estão completamente interligadas. Uma sem a outra é inviável.
Entrevista ao Jornal Público, 7 de setembro de 2025 https://www.publico.pt/2025/09/07/sociedade/entrevista/mamadou-ba-ha-impasse-estrategico-esquerda-questao-racial-2142785