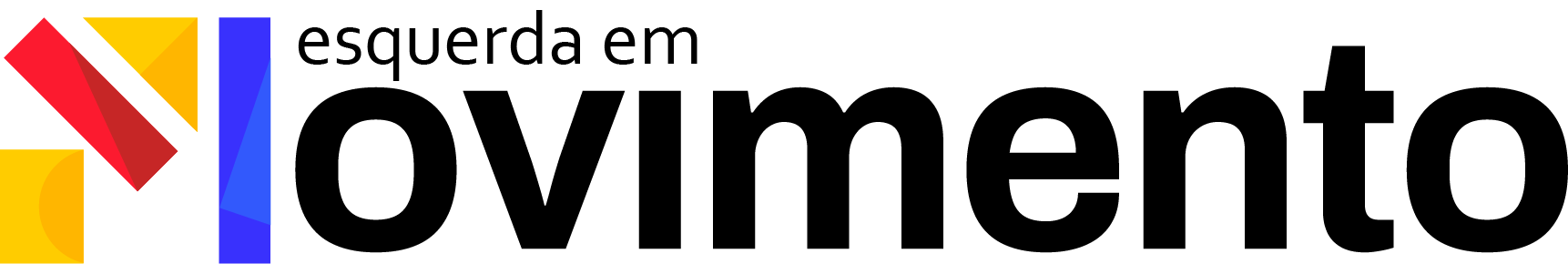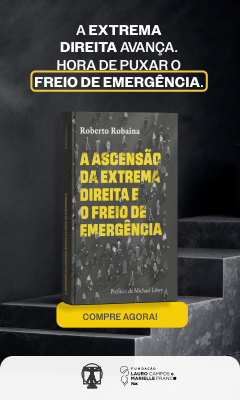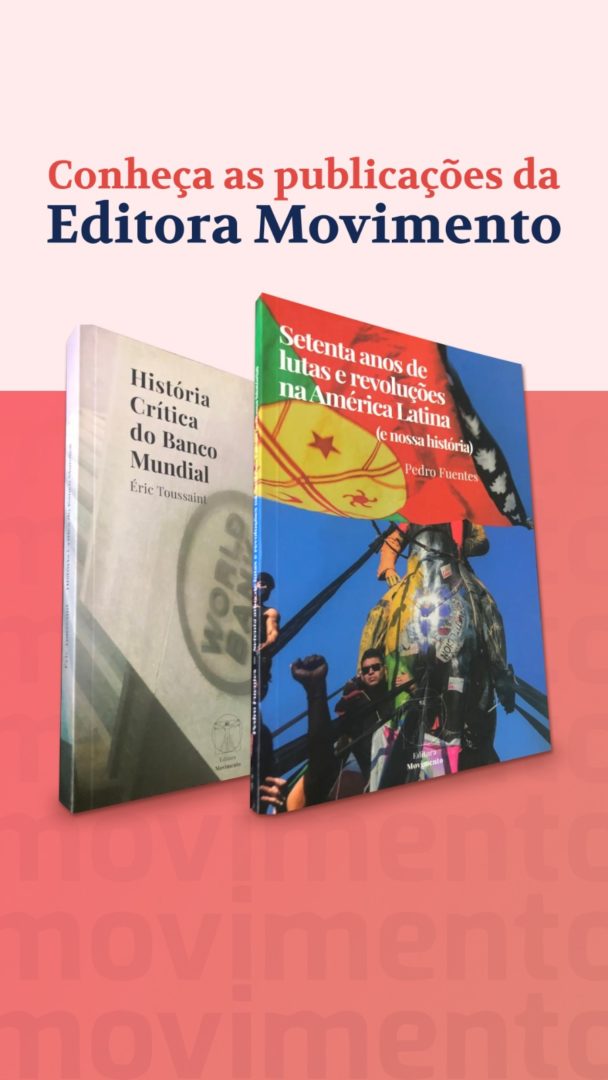Política de morte como projeto de poder e a chacina nos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio
Analisando essa chacina a partir do conceito de Necropolítica, podemos falar de uma racionalidade estatal com o poder de decidir quem pode viver e quem deve morrer
Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
As recentes operações policiais realizadas nos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, que já ultrapassam a marca de 140 mortos, evidenciam a face mais brutal da política de segurança pública no Brasil. O conhecido discurso de guerra ao crime, guerra às drogas, ao narcoterrorismo, ou qualquer denominação que se dê, significam a mesma intenção de matar, porém, essa operação está sendo legitimada por amplos setores sociais em todo o Brasil, o que nos acende um sinal de alerta.
É preciso reconhecer que as facções são uma realidade na américa latina, que ocupam cada vez mais espaço, e que precisam sim ser enfrentadas e desmontadas. Porém, precisamos perguntar de que forma isso será feito. Diante desse cenário, a proposta de combater as facções a partir de uma política de guerra soa como algo legítimo para justificar as diversas operações policiais, porém, as razões para essas operações são outras.
A chacina que está acontecendo no Rio de janeiro, é um espetáculo que mobiliza o sentimento legitimo de insegurança da população e canaliza isso para o extermínio de um suposto inimigo, com sua imagem fictícia criada e amplamente divulgada, sendo essa imagem majoritariamente a do homem negro, jovem, de periferia.
Analisando essa chacina a partir do conceito de Necropolítica, de Achille Mbembe, podemos falar de uma racionalidade estatal com o poder de decidir quem pode viver e quem deve morrer. Diante disso, se opera, de modo seletivo e racializado, uma gestão da morte, exatamente o que estamos acompanhando nas operações policiais no Rio. Observamos uma relação de soberania, gestão, vida, morte e racismo operando em determinados territórios e decididos concretamente por agentes políticos, como o governador Cláudio Castro, a partir de um projeto político de extrema direita.
Como explica Mbembe, esse cenário de combate precisa ser antecedido por um estímulo a um sentimento permanente do medo, que alimenta o que o autor chama de “estado de insegurança”, criando uma sensação permanente de suspeitas e vigilância. A partir de então, a narrativa da necessidade de uma política de segurança, ou de um Estado de segurança, é imposta e se torna algo factível pelas pessoas, narrativa essa que, de forma complementar, atribui o problema a um inimigo, materializado na imagem do jovem, negro, de periferia, que precisa ser duramente combatido e eliminado. Está construída assim a narrativa perfeita em que o combate ao inimigo se torna uma ação, ou instrumento de governo, que mobiliza o desejo das pessoas de eliminação desse inimigo considerado um problema social. Esse desejo passa a legitimar a violência extrema e letal como resposta necessária à ameaça que nos ronda a todo momento.
As operações policiais seguem esse roteiro, em que o medo e o desejo de destruir o inimigo em uma situação de guerra é utilizado para justificar as ações letais, e para isso, a figura do inimigo, a imagem dele, do homem negro é constantemente reconstituída e veiculada, principalmente pela mídia, pelas redes sociais e por programas policialescos, para manter viva a sensação de perigo e, assim, sustentar uma política de morte sempre que for preciso que ela seja acionada.
Além desse contexto, as vítimas dessa política são consideradas por Mbembe como “mortos-vivos”, pessoas que ainda em vida estão em condições de morte e expostas o tempo inteiro à morte, tanto pela omissão do Estado, como pela ação direta, tendo suas mortes, seja o motivo que for, justificadas antecipadamente todas as vezes que for preciso matar. É por isso que vemos aplausos para as operações, pois não importa o que se diga, não importa o que se argumente, a vítima está no campo das que têm que morrer, e não das que podem ou devem viver. Essas pessoas não são dignas sequer do luto, pois eram vidas que não deveriam ser vividas.
Porém, por trás de toda essa arquitetura de gestão da morte, existem intenções políticas e projetos de poder muito conscientes. Essa política de morte faz parte da estrutura de Estado capitalista e neoliberal, em que as políticas sociais são cada vez mais desmontadas, e as pessoas que vivem nas periferias são jogadas cada vez mais para a pobreza e miséria enquanto a concentração de riqueza está nas mãos de poucos bilionários. Nessa crise do capitalismo, as pessoas vivem em condições cada vez mais precárias. Condições essas que são políticas e impostas, deixando comunidades inteiras à própria sorte, superexploradas e quase totalmente espoliadas pelo capitalismo ao vender seu trabalho (quando conseguem) se forma cada vez mais precarizada e sem nenhuma proteção.
Wacquant nos coloca que em todos os países onde o livre mercado se implantou, cresceu exponencialmente o número de pessoas encarceradas e cresceu também o número de operações policiais para “conter” uma suposta desordem produzida pelo desemprego em massa, pela imposição do trabalho precário e o encolhimento da proteção social. Porém, considero que estamos vivendo um momento posterior, e ainda mais grave.
É um erro considerarmos Claudio Castro um despreparado, ou um inútil, fraco, que não sabe o que faz. É preciso olharmos para seu governo com um projeto político muito bem estabelecido e consciente, considerando também que operações como a que estamos vivendo não podem ser tratadas como excessos ou acidentes operacionais, e sim são uma política de um projeto político. Parece óbvio, mas não é tão óbvio, principalmente se observarmos os aplausos que ele tem recebido do Brasil inteiro, inclusive, infelizmente, dos setores mais pobres.
Claudio Castro, nesse momento, ao ter em seu currículo de governo as operações mais letais do Rio de janeiro, sendo a do complexo do Alemão e da Penha a mais letal do Brasil, mostra exatamente o que Mbembe explica sobre necropolítica, pois promove uma política de extermínio tendo como alvo pessoas consideradas supérfluas, ou excedentes, que podem ser mortas as centenas todas as vezes que ele precisar promover o espetáculo midiático para dar respostas à narrativa criada de combate ao inimigo, enquanto tem relações com pessoas envolvidas no tráfico de drogas e no crime organizado.
Mesmo com o esforço de diversos movimentos, a partir de pesquisas científicas ou trabalhos acadêmicos mostrando a ineficiência dessa política de combate às drogas ou às facções, as operações policiais dessa magnitude continuarão sendo uma possibilidade a ser usada porque é uma política que faz parte de um projeto político de país. Temos exemplos de operações de combate ao crime organizado que foram realmente efetivas, pois interromperam principalmente o fluxo financeiro e de lavagem de dinheiro, combatendo quem realmente é o “cabeça” ou as “direções” destas organizações, que, importante dizer, nem moram nas periferias e favelas. O Estado e várias de suas instituições estão também diretamente envolvidos com o crime organizado, num grande negócio que envolve comércio de armas e milhões em dinheiro.
Precisamos disputar a narrativa, mesmo que nesse momento esteja difícil, que se de fato esses governos quisessem enfrentar o crime organizado, não seriam com intervenções policiais que matam muita gente e expõe também diversos policiais à morte, incentivados pelo discurso do herói da pátria. É preciso que as pessoas questionem as relações dos líderes das facções com os governos. É preciso que as pessoas questionem como essas armas chegaram às mãos das facções, e que isso envolve muito dinheiro, utilizados, inclusive, em campanhas eleitorais.
Porém, o que é mais preocupante, e precisamos estar atentos, é ao apoio massivo dado para essas operações e ao governador Cláudio Castro, pois com a legitimidade demonstrada pelos aplausos à maior chacina da história recente do Brasil, isso nos mostra que a próxima operação sempre poderá ser a pior e a mais grave, porque esses setores de extrema direita entenderão que podem dar um passo a mais. E pior ainda, podem utilizar dessa política de morte para seus mais variados interesses, inclusive políticos eleitorais.
Isso nos mostra que o crescimento da violência policial em diversos estados, a exemplo da Bahia, São Paulo e também do Rio de Janeiro, são estratégicos para esse projeto de poder da extrema direita, que engana o povo com respostas fáceis e criam espetáculos de combate ao crime, matando dezenas de pessoas, em sua maioria negras, sempre que querem ou decidem que devem fazer, demonstrando força e poder a partir de corpos no chão. Não podemos permitir a consolidação de projetos de poder que se sustentam em chacinas.
As chacinas nos complexos do Alemão e da Pena não podem ser consideradas mais um fato isolado, e sim como um elemento crucial em nossas caracterizações da crise que vivemos, que têm como alvo, na grande maioria das vezes, pessoas negras e pobres. Sabemos que romper com essa lógica de morte exige mais do que reformas policiais, porém as polícias têm sido base importante para a demonstração de força que a extrema direita quer exibir como projeto político, e essa política não pode se tornar referência para todo o país.
É muito importante que possamos dar um recado nacional de que há questionamentos em relação a essas políticas de morte. É urgente abrirmos diálogo com os setores mais amplos da população de que essas operações são uma farsa e nada mexem nas estruturas de poder do crime organizado. Se continuarmos deixando espaço vazio sobre o que significa a violência policial no nosso país, quem avança é a extrema direita. É importante que todos possamos ir às ruas no dia 31 de outubro em todos os cantos do Brasil.
WACQUANT, Loïc. As duas faces do gueto. Tradução de André Telles. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
MBEMBE, Achille. Políticas da inimizade. Tradução de Marta Lança. São Paulo: n-1 Edições, 2018.MBEMBE, Achille.Necropolítica. Tradução de Renata Santini. São Paulo: n-1 Edições, 2018.