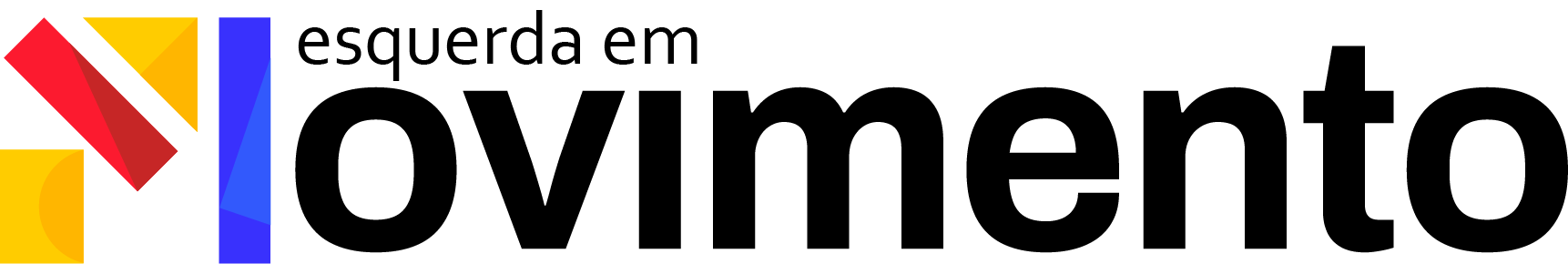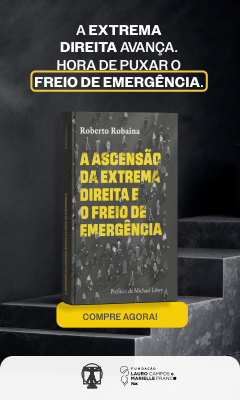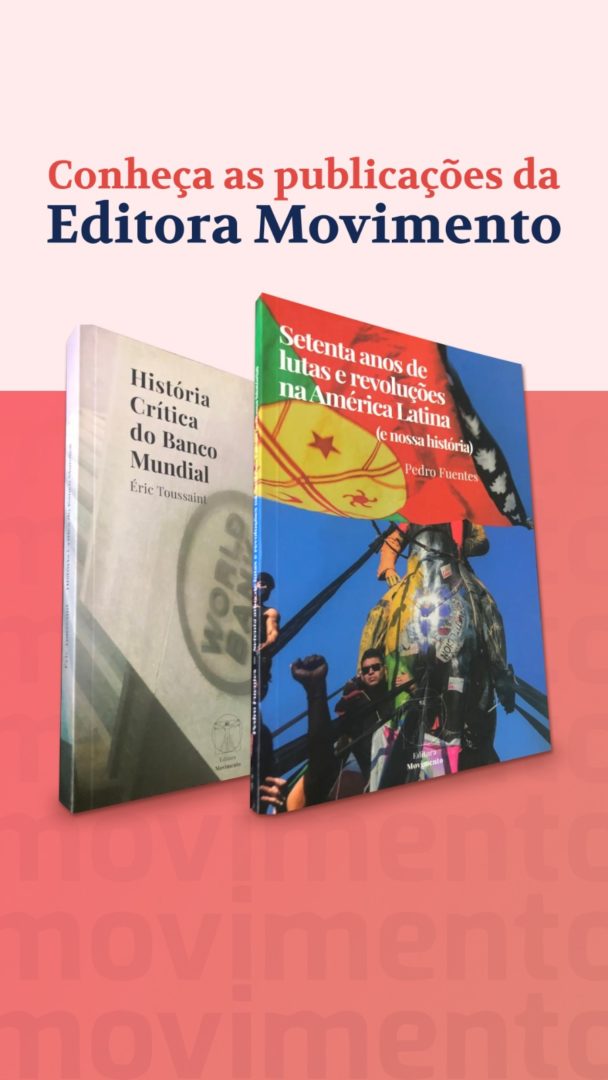NASCEMOS CONDENADOS: O Genocídio negro como projeto de Estado, a Necropolítica, a apatia cúmplice e a insurgência da negritude
A nação brasileira não é uma nação; é um projeto elitista de extermínio racial meticulosamente codificado e amparado por lei
No país tropical, nós negros nunca nascemos livres. Nascemos sentenciados. Condenados à bala, à fome, à prisão e à privação até do senso de humanidade. A assinatura da famigerada lei de abolição da escravatura não representou o fim da escravidão, mas sim a sua metamorfose. O que se denominou abolição foi apenas uma reestruturação jurídica do mesmo sofrimento, deslocando-o da senzala para as periferias, morros e comunidades. A liberdade prometida foi apenas uma encenação: eles abriram uma porta, mas fecharam todas as outras, dando início ao que o sociólogo Florestan Fernandes chamou de “revolução burguesa incompleta”, em que a ordem social mantém a cor como critério de exclusão.
Do ventre à vala: A continuidade da condenação e o mapa do extermínio
A nação brasileira não é uma nação; é um projeto elitista de extermínio racial meticulosamente codificado e amparado por lei. A legislação brasileira é a prova cabal de que o Estado é um criminoso contumaz, e o racismo estrutural, além de seu alicerce, é a sua mais rentável política pública de controle social. É materialização do que Abdias do Nascimento denunciou como o Genocídio do Negro Brasileiro, um projeto que visa não apenas a morte física, mas a anulação cultural e política da negritude.
O crime fundacional da escravidão, que reduziu o corpo negro à “coisa” pelas Ordenações Filipinas, foi minuciosamente arquitetado para manter a base de lucro do Império. E quando a pressão internacional e a resistência negra tornaram a exploração insustentável, ele não colapsou: apenas se reconfigurou, com a frieza de um assassino que troca de arma. À medida que a exploração do negro tornou-se politicamente insustentável, houve um empenho coeso das estruturas elitistas em desenhar um novo modelo estrutural de iniquidade.
Após a Lei Feijó, de 1831, a famigerada lei para inglês ver, primeira lei brasileira a proibir formalmente o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil, e que na prática era só isso, “para inglês ver” e evitar sanções ou conflitos diplomáticos, criou-se a Lei Eusébio de Queirós, de 1850, que na teoria proibia o tráfico de africanos escravizados pelo Oceano Atlântico para o Brasil, em resposta à inglesa Bill Aberdeen, mas também devido a temores de revoltas, como a do Haiti e a Revolta dos Malês. Na prática, foi apenas uma cortina de fumaça, em suma, e, sobre uma corrupção sistematizada, se manteve o tráfico, tornando-o ainda mais lucrativo e dependente da cumplicidade estatal.
No mesmo fôlego, intenção e período, promulgaram a Lei de Terras (1850), como complemento perverso, negando moradia à população negra, convertendo a terra em mercadoria inacessível e incrustando a miséria hereditária. O recado era claro: vamos liberar, sem qualquer autonomia econômica. Não é por acaso que a cada nascimento negro neste país, o sistema já tenha predestinado o seu futuro: as margens serão seu lar, o subemprego sua fonte, o ensino deficitário sua herança e o extermínio seu trágico destino. Nossa construção federativa é herdeira direta do pelourinho, ela gere a cor como instrumento de opressão e a condição econômica como argumento para sua barbárie.
Vejamos, depois da maior farsa jurídica e política brasileira, chamada Lei Áurea, em 1888. Deram por fim, ao menos no papel e ainda que socialmente refutável, a escravidão, mas só; não houve reparação, não houve terra, não houve inserção mínima na sociedade. Pelo contrário, o processo de criminalização e desigualdade se perpetuaram. Não contentes em negar o chão e a dignidade, o Estado passou a criminalizar só por existirmos. O Código Penal de 1890, transformou a pobreza em crime, substituindo o chicote do senhor pelo cassetete e a bala da polícia. Sendo todo esse processo o propulsor para o genocídio atual da juventude negra e periférica e, consequentemente, a apatia social frente ao problema.
Ainda neste contexto, temos a Lei de Política sobre Drogas (2006), que na prática é o mecanismo mais eficiente para o encarceramento em massa e genocídio da juventude negra e periférica. Ela se manifesta hoje como a seletividade penal que nos aprisiona e mata com aval oficial.
“Bandido Bom é Bandido Morto”: A narrativa do extermínio e a necropolítica em ação
O bordão popular “bandido bom é bandido morto”, que ecoa nos ambientes sociais comuns e é frequentemente referendado pela extrema direita e sua retórica punitivista, está infinitamente distante de ser uma solução para o abismo da segurança pública. É uma expressão ideológica, uma visão maniqueísta de mundo e um desejo de justiça retributiva primitiva que configura a sociedade brasileira, a manifestação diária de uma política de morte disfarçada de senso comum, cuja expressão mais violenta se evidencia na necropolítica — a autoridade de determinar quem deve viver e quem deve morrer.
Embora historicamente seja uma adaptação de uma máxima americana de exclusão e extermínio do século XIX durante o genocídio dos povos originários, aqui surge como mote de campanha eleitoral de um membro de um esquadrão da morte em 1986, se mantém até hoje angariando votos sobre a mesma lógica e ótica. Essa falácia, que só reverbera quando o “bandido é pobre”, é o endosso a uma solução primitiva e ilegal, além de ser uma herança direta das estruturas coloniais e escravocratas. Em um país onde a pena de morte não existe, defender essa afirmação equivale, na prática, a aceitar a normalização de execuções extrajudiciais.
O Estado Democrático de Direito estabelece que todo indivíduo, ainda que culpado, deve ser detido, julgado e punido de acordo com a lei, respeitando o devido processo legal e a presunção de inocência, mas, no Brasil, a cor da pele e a localização geográfica atuam como uma suspensão irrestrita do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Aqui prevalece uma anomalia jurídica onde ao indivíduo negro(a) de pouco ou nenhum poder aquisitivo, se aplica a presunção da culpa. Em suma, a frase “bandido bom é bandido morto” é, na realidade, uma autorização social para o extermínio sistêmico seletivo e racializado. Ou seja, a necropolítica brasileira possui cor e CEP.
Ela se manifesta no encarceramento em massa que faz de nosso país a terceira maior população carcerária do planeta, nas chacinas de Cláudio Castro (PL) no Rio de Janeiro, de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Baixada Santista, mas também no astronômico saldo quantitativo de pessoas mortas em intervenções policiais de Jerônimo Rodrigues na Bahia (PT), mostrando que essa política de morte transcende filiações político-partidárias e se enraíza como uma política de segurança informal em diferentes administrações. É a pedagogia do medo. Cada corpo encontrado na mata do Complexo da Penha, nas vielas da Baixada Santista ou nas ruas de Salvador é um recado de um Estado de exceção permanente: matamos quanto, como e quando quisermos. Mas a necropolítica não se resume ao descarte. Ela é a garantia, pela via do terror, da manutenção de uma vasta reserva de mão de obra superexplorada e precarizada, essencial para a acumulação capitalista. O corpo negro ao ponto que é descartável é funcional ao lucro.
Esse terrorismo de Estado não é desvio, mas sim orientações de governo elitocrático. É o instrumento para intimidar territórios pobres, esmagar comunidades periféricas e reafirmar que, no Brasil, a liberdade prometida aos filhos da escravidão sempre foi uma farsa. Quando governadores comemoram seus “mórbidos resultados” em coletivas de imprensa, eles não combatem o crime — escancaram sua lógica de governança pelo medo. Eles negam tudo — direitos básicos, políticas públicas, condições mínimas e biológicas de vida — e, depois vêm com a força e o ódio, acorrentado os corpos e suprimindo vidas.
A apatia arquitetada, o silêncio como caminho e a lógica do medo
A morte de um negro e pobre no Brasil ressoa em um silêncio ensurdecedor — não o silêncio da dor, mas o da cumplicidade e da indiferença. Esse silêncio é fabricado. Ele anestesia, oculta e legitima. Funciona tanto como uma engrenagem quanto como uma estratégia de contenção social. A sociedade não é apática por lógica, mas por instrumento fabricado pela indústria do medo, a sociedade é instruída a trocar empatia por segurança percebida. A apatia, nesse sentido, é uma escolha induzida, carimbaram os atestados de óbitos e acabam por recompensar os agentes da matança com aumento de popularidade e pontos percentuais em intenção de voto, evidenciando que a violência letal se tornou um produto político de alto valor.
A Carta Magna garante a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à dignidade, ao devido processo legal, à presunção de inocência: mas o sistema penal (polícia, Ministério Público, Judiciário) recusa de forma seletiva. Essa recusa escancara o conluio “da farda, toga e do carimbo”, a Justiça, que deveria ser um mecanismo de garantias e proteção, vira apenas um instrumento de legitimação e reprodução da violência. É o chancelamento da necropolítica, fazendo do processo penal uma máquina de moer gente (negra e pobre). O cárcere é o novo tronco. O tribunal é a nova senzala. E a cada sentença, o Estado reitera: preto e pobre não é cidadão — é suspeito. As investigações não são imparciais: são escolhas políticas. Laudos “perfeitos”, versões “coerentes”, testemunhas desacreditadas — tudo alinhado para a burocratização da violência e o veredito final: não houve execução, houve confronto, “Resistência seguida de morte”, “Auto de Resistência”, “Legítima Defesa” e “Estrito Cumprimento do Dever Legal”.
A mídia hegemônica, por sua vez, não é um agente passivo ou mero interlocutor, mas um agente ativo e cúmplice que usa a dor e a violência para fins comerciais e de controle social, opera como um elo crucial na cadeia da Necropolítica: ela anestesia o público, oculta a responsabilidade estatal, legitima e faz coro com as versões oficiais, dá palco, lugar de fala e réplica de forma ininterrupta a elementos acusatórios, praticando a pedagogia do controle. No noticiário, criam o “inimigo interno”, criminoso tem rosto e endereço. Na grade de programação, a inclusão é para mercantilização, o corpo negro é utilizado para publicidade e entretenimento para simular diversidade e virtude corporativa. Eles consomem a imagem e descartam o sujeito, convertendo-o em estereótipos ou invisíveis, legitimando a violência e normalizando sua exclusão.
Do outro lado da “telinha” o telespectador cativo, atencioso e fiel. Consumindo cada minuto dessa abdução neural televisiva, a repetição, o sensacionalismo, domina a atenção e molda a sua percepção, se tornando apático não por falta de lógica, mas sim por ter sido instruído e convencido ativamente. Ele tem aquilo como interação, informação cabal, anestesia cavalar diária e, sobre uma cirúrgica estratégia emocional, é sobrecarregado e tem seu senso crítico profundamente comprometido, ao invés de raciocinar sobre as causas estruturais da violência, acaba compelido a dar dinamismo ao punitivismo, inundado pelo espetáculo do caos e incapaz de pensar de forma complexa, reduzido à sua reação primária (o medo). Instruído dessa forma, ele fecha o ciclo da violência institucional. Se torna o elo final que transforma o genocídio racializado em capital político, garantindo a manutenção do Estado de exceção permanente. Permitindo que a violência continue sob o disfarce de “ordem social” e “controle da segurança”.
Neste ponto cabe destacar que a burguesia — que também é apática ao corpo negro e pobre ensanguentado, que faz coro em alto e bom som com a falácia do “bandido bom é bandido morto” — não é um telespectador e consumidor da mídia hegemônica, pelo contrário, ela tem repulsa, mas é ela o agente produtor e controlador da ideologia, ela é a força motriz por trás dessa pedagogia do controle. A elite econômica do Brasil não é a vítima dessa abdução neural televisiva, mas o agente que a estuda e projeta. Ela é a origem e o beneficiário final do ciclo que transforma a política de morte em capital político e controle social.
Contra o projeto de morte, a insurgência da negritude
Se o pacto colonial que sustenta a necropolítica brasileira opera como engrenagem de morte, a resposta que emerge da negritude periférica não é mero contraponto — é ruptura histórica. A insurgência negra não nasce como reação ocasional, mas como herança política de séculos de enfrentamento ao projeto que tentou nos condenar ao silêncio. A recusa que atravessa nosso povo não é um gesto isolado: é o mesmo gesto que incendiou senzalas, que ergueu Palmares, que armou os Malês, que protegeu terreiros, que manteve viva a dignidade quando o Estado decretou que não éramos humanos.
É por isso que a violência do Estado se intensifica sobre nossa cultura, nossas expressões, nossas mobilizações e nossas formas de viver. Não porque configura qualquer tipo de crime, mas porque somos indomáveis. A máquina de extermínio se expande porque a juventude negra rompeu com o mandato colonial de submissão. Porque não pedimos permissão para existir. Porque não aceitamos o ritual da dispensa do “defeito da cor”, nem diante dos imperadores modernos, nem diante das instituições que decidiram que nossas vidas só importam como números na planilha do controle penal.
A cada território organizado, a cada marcha que rasga a cidade, a cada ocupação que devolve sentido político ao espaço público, o projeto de morte perde estabilidade. Nossos corpos, historicamente marcados como alvos, tornam-se agora fissuras no edifício da dominação. São os quilombos urbanos, os coletivos de educação, os terreiros que preservam memória, as redes de afeto que sustentam sobrevivências impossíveis, que desmontam a fantasia de que o genocídio é inevitável. A vida preta não é exceção. É insubordinação.
E é justamente essa insubordinação que o Estado tenta esmagar. A alta letalidade policial, o encarceramento em massa, a demonização midiática e a conivência das elites não são respostas à violência — são respostas à organização. O sistema reage porque perdeu sua pedagogia da submissão. Porque a juventude negra, alfabetizada politicamente pelas dores que o país nos impôs, transformou luto em estratégia, humilhação em denúncia, invisibilidade em poder coletivo.
O silêncio que tentaram nos impor também está ruindo. Ele se rompe nas vozes das mães que transformam a dor em acusação pública, nas comunidades que rejeitam a naturalização do massacre, nas pessoas negras que insistem em viver mesmo quando o país opera diariamente para matá-las. Cada corpo que se levanta desmente a narrativa oficial. Cada sobrevivência é um escândalo contra o Estado.
Não existe democracia onde o genocídio é política pública. Não existe liberdade onde o corpo negro é descartável. Não existe futuro enquanto a morte for projeto. Mas existe luta — e é essa luta que reorganiza o sentido da vida neste país. A batalha por existir nunca foi escolha nossa. Foi obrigação imposta pela história. E, ainda assim, fazemos dela um projeto coletivo, uma reconstrução do que nos foi negado, exigindo reparação histórica imediata: terra, demarcação de territórios quilombolas, educação e saúde de qualidade. Que este texto não seja lido como conclusão, mas como convocação. Como ruptura contra o pacto de silenciamento que protege o Estado. Como denúncia contra a cumplicidade que se mascara de normalidade. Como lembrança de que, se o Brasil insiste em administrar nossa morte, nós insistiremos em administrar a sua crise. Porque resistir nunca foi um gesto de coragem. Foi — e continua sendo — a nossa única forma de viver.