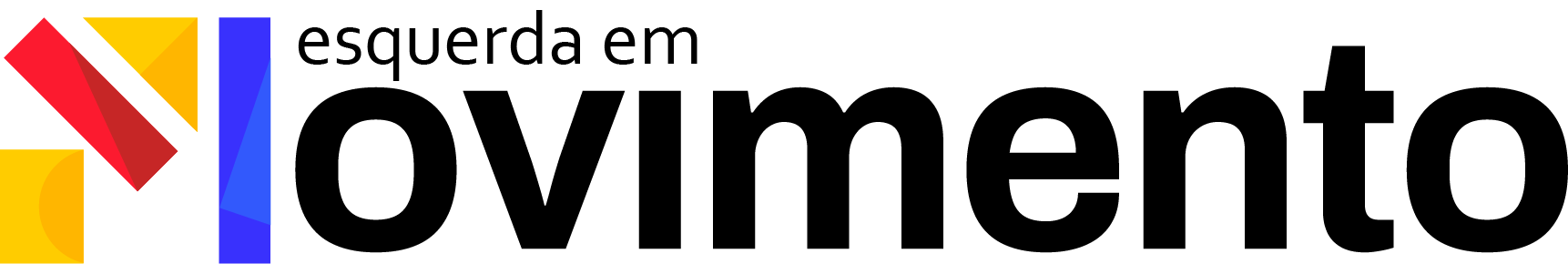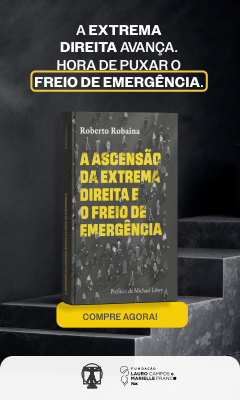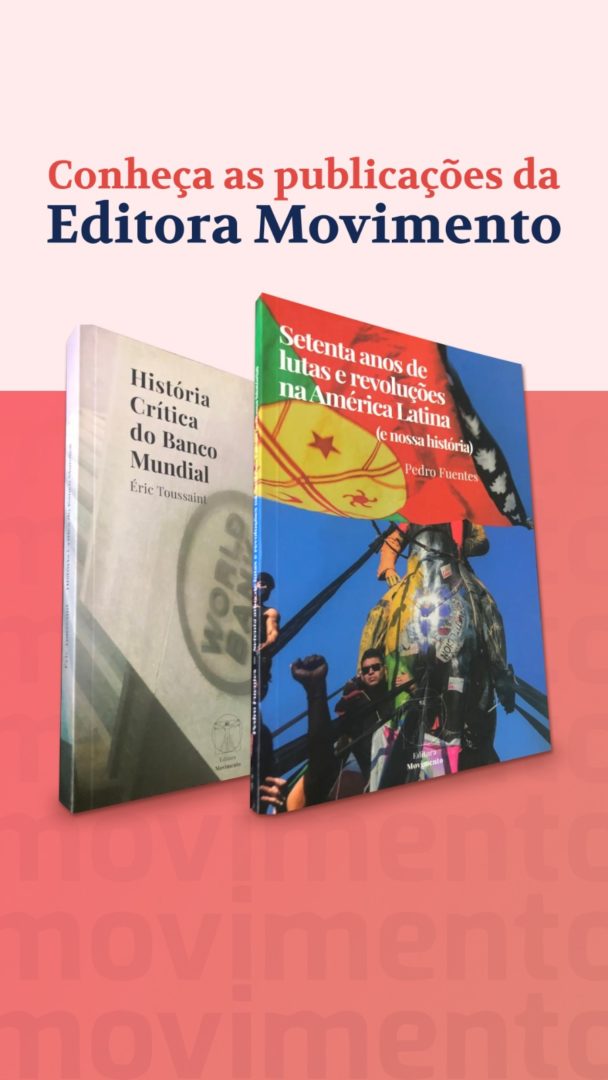A capitulação silenciosa: legalidade, cálculo e avanço autoritário
O avanço fascista frente à omissão e cooptação das instituições estatais
Foto: Cartaz do grupo neofascista italiano Casa Pound. (Brian Griffith/ Reprodução)
O símbolo da Sankofa nos lembra que não há vergonha em voltar atrás para buscar o que foi deixado. Em tempos de retrocessos travestidos de progresso, retornar ao passado é gesto de lucidez. É ali, nas lições esquecidas, que se encontra a chave para interromper o ciclo da barbárie repetida — agora com novos nomes, novos rostos e novas ferramentas, mas com a mesma lógica de destruição.
— Sabedoria ancestral na tradição da África Ocidental
Nos últimos anos, tornou-se comum, inclusive em setores expressivos da esquerda, tratar o bolsonarismo como um fenômeno restrito à figura de Jair Bolsonaro e ao comportamento de seus seguidores mais radicais. Essa abordagem, embora compreensível diante do peso simbólico do ex-presidente e da necessidade de responsabilização pelos atentados à democracia, tende a reduzir um processo muito mais profundo e estrutural. Ao focar exclusivamente nas manifestações mais visíveis do extremismo, corre-se o risco de ignorar as engrenagens que sustentam o avanço da extrema direita e o desmonte sistemático do Estado democrático no Brasil.
A ascensão de movimentos autoritários, no entanto, não é inédita. O início do século XX já nos ofereceu um cenário semelhante na Itália, onde o fascismo não emergiu de forma abrupta, mas foi sendo construído passo a passo, por meio da erosão institucional, da cooptação das elites, da violência legitimada e da inércia das forças democráticas. Revisitar esse processo histórico não é exercício nostálgico – é uma urgência.
O recente processo de tentativa de cassação do deputado Glauber Braga, figura conhecida por sua coerência e enfrentamento à extrema direita, é um alerta contundente. O que está em jogo não é apenas a punição de um parlamentar, mas a redefinição silenciosa dos limites do dissenso, da justiça e da legalidade no Brasil contemporâneo.
Neste texto, propomos uma travessia crítica entre passado e presente. Buscaremos compreender os caminhos percorridos pelo fascismo na Itália e identificar as similaridades inquietantes que esse processo encontra na experiência brasileira recente. Frente à ofensiva autoritária que se dissemina em linguagem jurídica, discurso moralizante e ataques à representação popular, é preciso retomar a história não como reencenação, mas como resistência.
Como a inércia política em tempo de crise abre caminho ao autoritarismo
Quando evocamos o fascismo, é comum remetê-lo a regimes totalitários já consolidados, como os de Mussolini ou Hitler. No entanto, essa imagem final tende a obscurecer um aspecto crucial: o fascismo não irrompe de forma súbita — ele se constrói. Ocupa espaços aos poucos, infiltra-se nas instituições, organiza afetos, destrói mediações democráticas e ganha legitimidade no processo. Essa dimensão processual é fundamental para compreender tanto o fascismo italiano quanto o fenômeno autoritário que se configurou no Brasil na última década.
O avanço do fascismo na Itália não se deu apenas nos gabinetes ministeriais ou nas grandes mobilizações de rua — ele se construiu nas frestas do cotidiano, na banalização da violência, na ocupação simbólica dos espaços e na corrosão silenciosa das instituições. Milícias fascistas atacavam sedes de sindicatos, queimavam jornais de esquerda, intimidavam intelectuais e professores. Nos pequenos municípios, impunham-se como mediadores dos conflitos locais, substituindo o Estado liberal por uma autoridade de base violenta, mas eficiente aos olhos de uma burguesia temerosa da revolução. O fascismo também se insinuava nas escolas, nos clubes, nos tribunais, promovendo uma estética da força e um discurso moralizador. Como lembra Gramsci, os fascistas atuaram como “funcionários da crise”, oferecendo ordem e disciplina onde antes havia conflito e negociação. Ao mesmo tempo, exploraram o medo da instabilidade e o ressentimento da classe média empobrecida para justificar cada novo passo repressivo. Dessa forma, o velho regime não foi destruído de uma vez — foi sendo corroído, convertido, desmontado sob a aparência de normalidade.
No Brasil contemporâneo, assistimos a um processo de natureza semelhante, ainda que com outras formas e tecnologias. A extrema direita bolsonarista não precisou de camisas-negras marchando pelas ruas — operou por meio de milícias digitais, redes sociais e discursos públicos violentos, capazes de deslegitimar adversários, destruir reputações e manipular afetos em larga escala. A produção sistemática de fake news, a militarização da política, o ataque cotidiano às universidades, aos artistas, aos povos indígenas e à imprensa foram naturalizados como “opinião”, “sinceridade” ou “anticorrupção”. Assim como na Itália dos anos 1920, as práticas autoritárias foram se instalando por meio de atos cotidianos: um indulto presidencial a um aliado condenado, uma live em que se ataca o sistema eleitoral, um decreto que facilita o acesso às armas, um corte orçamentário que paralisa pesquisas científicas ou políticas públicas.
A recente derrota da proposta de regulamentação dos motoristas de aplicativo no Congresso revela a incapacidade do Estado brasileiro em conter os interesses das big techs e proteger uma massa crescente de trabalhadores precarizados. A tentativa de garantir remuneração mínima, previdência e jornada foi derrotada por uma coalizão de empresas, desinformação e um discurso que traveste exploração de liberdade. Nesse cenário, a extrema direita ocupa o debate público com uma retórica que transforma a precarização em escolha, e a ausência de direitos em autonomia. Ao atacar a proposta como uma “ameaça ao emprego”, defende na prática a superexploração como horizonte aceitável, fortalecendo uma lógica de trabalho intermitente, individualizado e desvinculado de qualquer pacto coletivo. Como nos alertava Gramsci, em períodos de crise, as forças reacionárias não apenas resistem à mudança — elas organizam o caos em nome da ordem, oferecendo segurança simbólica onde o Estado se ausenta da proteção real.
O fascismo não triunfa apenas por suas forças internas. Ele avança, sobretudo, quando encontra portas abertas, hesitações cúmplices e resistências frouxas. Em suas análises incisivas do fascismo italiano, Antonio Gramsci não se limita a descrever o inimigo: ele volta seu olhar crítico para as forças que poderiam ter resistido — e não o fizeram. Entre elas, os liberais e os reformistas ocupam lugar central.
Desde os primeiros textos do L’Ordine Nuovo, Gramsci já alertava para os limites do liberalismo italiano, que considerava um regime oligárquico, incapaz de incorporar verdadeiramente o povo nas decisões do Estado. A Itália liberal, segundo ele, era uma estrutura parasitária, construída sobre compromissos entre elites regionais e setores dominantes. Quando os fascistas surgem, armados e dispostos a esmagar os sindicatos, é essa mesma elite que hesita, protege ou colabora.
Ao refletir sobre o fascismo como forma de revolução passiva, Gramsci compreende que, em contextos de crise, a burguesia é capaz de reorganizar o Estado sem participação popular, incorporando elementos da modernização apenas para preservar sua dominação. A esquerda que se prende à legalidade e à retórica formal, sem disputar a sociedade civil ou construir hegemonia, torna-se parte da conservação — mesmo contra sua vontade.
Essa lógica tem ressonância direta no Brasil contemporâneo. O bolsonarismo não cresceu apesar das instituições — mas por meio de sua omissão e cooptação. Magistrados que normalizaram a perseguição judicial seletiva, empresários que financiaram discursos golpistas, parlamentares que cederam ao orçamento secreto em troca de verbas, e uma imprensa que por anos validou o discurso da antipolítica.
Setores do Judiciário e do Ministério Público acreditaram poder “controlar” Bolsonaro, assim como Giolitti acreditou poder controlar Mussolini. Em ambos os casos, o resultado foi o fortalecimento do autoritarismo e o colapso do sistema de freios e contrapesos. O fascismo contemporâneo não precisa mais de tanques, porque opera com a “desorganização generalizada da institucionalidade e a sabotagem simbólica do espaço público” (COHN, 2022, p. 29). Como também analisa Wendy Brown (2019), o neoliberalismo criou as condições subjetivas para o autoritarismo, atacando os vínculos coletivos e promovendo uma razão política anti-institucional.
A passividade da social-democracia brasileira também ecoa o reformismo legalista italiano. Diante da escalada autoritária entre 2018 e 2022, assistimos à demora em nomear a ameaça, à aposta em estratégias moderadas e ao receio de um confronto direto. Assim como na Itália dos anos 1920, a confiança na resiliência da legalidade democrática não foi suficiente para contê-la. A ilusão de que “as instituições funcionarão” revelou-se tão frágil quanto a crença dos socialistas italianos no Parlamento de 1924. Do mesmo modo, acreditou-se que a eleição de Lula e a prisão de Bolsonaro seriam suficientes para estancar a sangria democrática — quando, em muitos momentos, é o próprio governo do PT que, pela via da conciliação com o capital e das concessões ao bloco conservador, reabre e escancara as fissuras que a extrema direita soube explorar com brutalidade.
Para desmoronar essas legalidades frágeis e as crenças que sustentam uma ideia ilusória de normalidade institucional, é necessário evidenciar o papel ativo — e muitas vezes nefasto — desempenhado pelo Judiciário brasileiro. O caso do Supremo Tribunal Federal expõe com nitidez essa contradição. Por um lado, a Corte se projeta como bastião da democracia, ao punir os envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro e ao garantir a responsabilização do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa atuação tem sido amplamente interpretada como sinal de resiliência institucional. No entanto, esse mesmo tribunal tem operado, de forma sistemática, como protagonista da normalização jurídica do desmonte de direitos sociais, especialmente no mundo do trabalho. Ao referendar a pejotização, flexibilizar normas laborais, desidratar a Justiça do Trabalho e validar acordos que reduzem conquistas históricas, o STF não apenas fragiliza os instrumentos de proteção dos mais vulneráveis, como também cria as condições materiais e simbólicas para o fortalecimento do discurso ultraconservador e antipolítica que sustenta a extrema direita.
Essa contradição se materializa em decisões como a suspensão, por parte do ministro Gilmar Mendes, de todas as ações sobre pejotização no país, sob a justificativa de que a Justiça do Trabalho estaria contrariando os entendimentos da Corte. O gesto revela mais do que divergência jurídica: trata-se de uma reafirmação do projeto de precarização estrutural das relações de trabalho. Em vez de frear a barbárie social que sustenta o ressentimento político, o Judiciário se alinha à lógica empresarial de desregulamentação, mascarando o avanço da desigualdade sob o discurso da segurança jurídica. Assim, enquanto pune os sintomas mais visíveis do autoritarismo, o STF contribui para o aprofundamento das condições que o alimentam, operando não como muralha de contenção, mas como engrenagem sofisticada da mesma máquina de desmonte.
A república das conveniências: silenciar para legislar
O papel do Legislativo nesse processo tampouco se afasta da lógica autoritária anteriormente descrita. A possível cassação do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) escancara um processo de deterioração institucional que vai muito além do caso individual. A justificativa formal — uma reação emocional, pontual, diante de uma provocação envolvendo sua mãe, que faleceu dias depois — é flagrantemente desproporcional. Mas essa desproporcionalidade não é erro: é método. O caso de Glauber evidencia um quadro mais amplo de corrosão das funções democráticas do parlamento brasileiro, que hoje atua, em grande medida, como instrumento de blindagem dos interesses dominantes e de repressão às vozes que ousam desafiá-los. O que está em curso não é o colapso das instituições, mas sua reorganização autoritária sob o disfarce da normalidade legal.
Enquanto figuras que incitam o golpismo, atacam o sistema eleitoral, flertam com milicianos digitais e promovem abertamente o autoritarismo seguem impunes ou protegidas por suas bancadas, Glauber é ameaçado de cassação por representar o incômodo. Não se trata de um gesto isolado: trata-se de um recado político. O que está em julgamento não é o “decoro”, mas a coerência de um mandato que confronta a ordem conservadora, desmascara os pactos do Centrão, denuncia o projeto neoliberal travestido de moderação. E, talvez mais importante, não negocia o silêncio.
Esse caso só se torna possível porque o parlamento brasileiro está muito distante de interesses populares ou da representatividade do nosso povo. Hoje, as decisões mais relevantes passam por fora dos debates públicos e são condicionadas por instrumentos como as emendas secretas, que mantêm parlamentares vinculados a projetos de poder e não às suas bases. O orçamento público se transformou em moeda de troca para fidelidade política, e os grandes debates nacionais se reduzem a negociações de bastidores. A política virou balcão, e a democracia virou espetáculo encenado por conveniência.
O que se desenha é um Legislativo que não apenas falha em representar os interesses da maioria, mas se converte ativamente em um agente do desmonte democrático. É ele quem trava pautas de proteção social, destrava retrocessos ambientais, esvazia os instrumentos de participação e agora se autoriza a julgar — e punir — quem ousa manter firme a crítica.
Glauber Braga se tornou símbolo não por escolha própria, mas por exclusão: num Congresso tomado por acomodações, ele permaneceu de pé. E é justamente por isso que sua coerência se tornou intolerável para um sistema que sobrevive da simulação. Sua cassação seria menos um ato jurídico e mais um gesto político de intimidação. Um aviso: o parlamento só comporta vozes que não desafiem sua lógica interna.
Como nos ensinou Gramsci, os regimes autoritários não se impõem apenas pela força bruta, mas pela adesão passiva das instituições democráticas, que se curvam ao medo, ao cálculo e ao silêncio. Foi assim que o parlamento italiano legalizou Mussolini. É assim que o Congresso brasileiro, com ares de normalidade institucional, vai construindo uma legalidade cada vez mais seletiva — onde a dissonância é tratada como ameaça e a injustiça se apresenta com toga e parecer.
O avanço no processo de cassação do mandato de Glauber Braga representa mais do que uma afronta individual: trata-se da construção de um precedente extremamente perigoso, que tende a ampliar a perseguição a setores dissidentes da oposição, especialmente à esquerda. Esse movimento, iniciado no plano federal, já começa a produzir efeitos concretos nos legislativos locais. Um exemplo recente é o caso da vereadora Bruna Biondi, em São Caetano do Sul. Eleita como a mais votada da cidade e única mulher na Câmara, Bruna enfrenta uma tentativa de cassação liderada por vereadores da base governista, após denunciar, em plenário, a concessão de honraria a um diretor de escola acusado de racismo e LGBTfobia. A acusação de quebra de decoro parlamentar surge em um contexto de perseguição política e violência de gênero, evidenciado pela recente condenação de um colega vereador por violência política de gênero contra ela. A tentativa de cassação de Bruna não apenas restringe a representação popular no plano municipal, mas sinaliza que a repressão institucionalizada ao dissenso está se consolidando como uma prática política nacional, normalizada sob o verniz da legalidade.
Defender Glauber, neste contexto, não é um gesto de lealdade pessoal, mas um ato político contra o desmonte do que ainda resta de democracia substantiva. A cassação de um mandato popular crítico marca um ponto de inflexão: se passa em silêncio, abre caminho para que a coerência se torne um risco, e o parlamento, uma corte moral a serviço do autoritarismo travestido de ordem.
O novo não virá por inércia
O fascismo não se impõe apenas pelo ruído das ruas ou pela violência explícita: ele se constrói na normalização das injustiças, no silêncio cúmplice das instituições e na conversão da legalidade em instrumento de opressão. O que busquei apresentar neste texto é que os regimes autoritários não nascem fora da ordem — eles se forjam dentro dela, corroendo-a desde suas fundações. A história de Mussolini não é uma anomalia distante, mas uma advertência atual. Quando o parlamento pune a dissidência, quando o Judiciário desprotege os vulneráveis, quando a mídia relativiza o autoritarismo, estamos diante de uma nova forma de fascismo: não aquele que se impõe com tanques, mas o que se instala com pareceres, emendas, algoritmos e conveniências.
Nesse cenário, recuperar a crítica gramsciana torna-se uma ferramenta indispensável. É preciso disputar a hegemonia, desmascarar as linguagens que travestem dominação de técnica e atacar o centro nervoso da naturalização da barbárie. Defender os direitos conquistados, os mandatos coerentes, a organização popular e os espaços de dissenso não são gestos isolados: são trincheiras em meio a uma guerra simbólica e política por uma democracia real. Resistir ao fascismo, portanto, exige mais do que denunciar seus sintomas: exige compreender suas raízes, nomear seus aliados e construir alternativas que não se limitem a preservar o que há, mas que avancem na direção de uma justiça verdadeiramente popular.
Gramsci insistia que a tarefa da esquerda era construir uma nova hegemonia, disputar o senso comum, ocupar o terreno da cultura e das ideias. Quando isso não acontece — quando a esquerda aguarda o retorno da normalidade enquanto a extrema-direita ocupa as ruas, as redes e os parlamentos — ela repete, como advertiu Gramsci, o erro histórico que abre caminho ao fascismo: ceder a iniciativa ao inimigo e confiar numa normalidade que nunca chega.
Referências
RICUPERO, Bernardo. FASCISMO: ONTEM E HOJE. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, n. 116, p. 27–36, maio 2022.
BIANCHI, Alvaro. Fascism, Anti-Liberalism and Liberalism in Italy. Fascism, v. 13, p. 153-180, 2024.
_______________. FASCISMOS: Ideologia e história. Novos estudos CEBRAP, v. 43, n. 1, p. 45–63, jan. 2024.
COHN, Gabriel. O FASCISMO LATENTE. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, n. 116, p. 37–52, maio 2022.
GRAMSCI, Antonio. Sobre el fascismo. México: Ediciones Era, 1979
SECCO, Lincoln. GRAMSCI E O FASCISMO: UM MAPA DA QUESTÃO. Revista Novos Rumos, Marília, SP, v. 59, n. 2, p. 119–142, 2024.