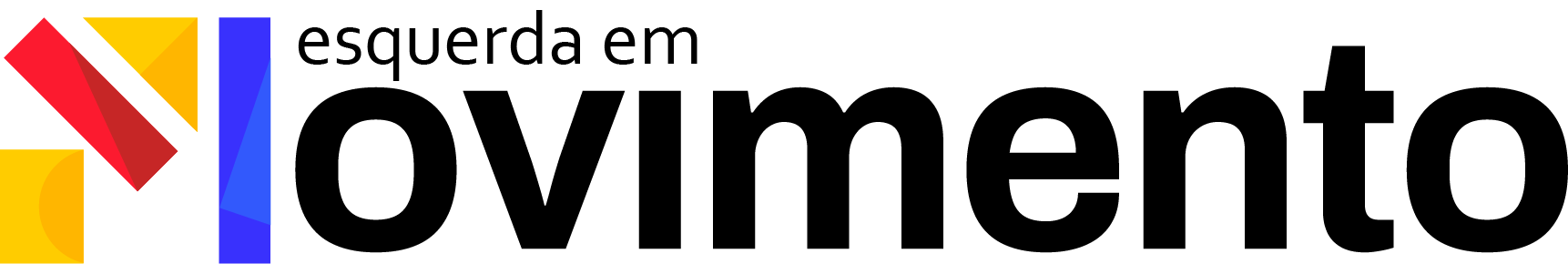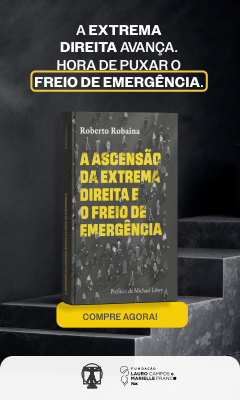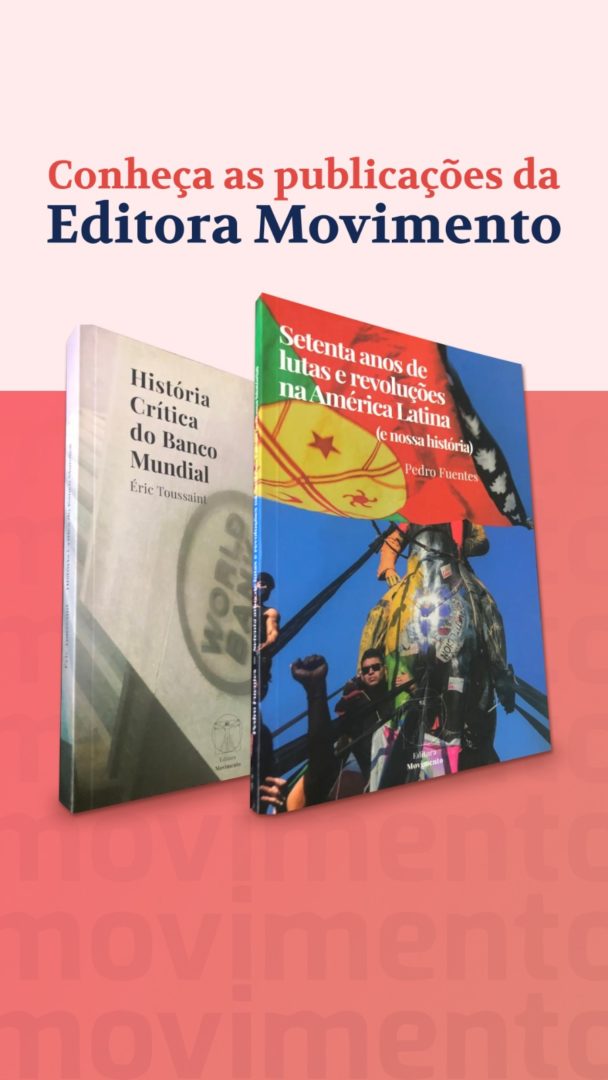Militância em tempos de cansaço
Como a esquerda se afastou da política como cuidado
Imagem: Jackson Pollock
Nos últimos anos, temos observado um fenômeno recorrente entre militantes de esquerda e ativistas sociais: o cansaço extremo e a crescente dificuldade de manter o engajamento político para além da jornada de trabalho formal. Esse esgotamento está profundamente vinculado à deterioração das condições econômicas no Brasil, ao enfraquecimento histórico da esquerda no cenário político e aos impactos sociais, psíquicos e subjetivos provocados pela pandemia. A precarização da vida, o desemprego estrutural, a sobrecarga emocional e mental, além da intensificação das exigências do mundo do trabalho, tem produzido um quadro generalizado de exaustão. Soma-se a isso o efeito alienante das dinâmicas digitais — marcadas pela hiperconectividade, pelo excesso de informação e pela vigilância contínua — que, longe de fortalecer laços coletivos, frequentemente acentuam o individualismo, a dispersão e o sentimento de impotência. Esses fatores ajudam a explicar por que tantos sujeitos politicamente comprometidos têm relatado uma sensação de paralisia e de dificuldade em sustentar práticas militantes regulares. A militância, que historicamente se ancorava no tempo livre, no encontro presencial e na construção de vínculos reais, hoje se vê desafiada por um novo regime de temporalidade, em que o cotidiano é absorvido por múltiplas tarefas e mediado por telas. Diante desse cenário, a construção de espaços de resistência se torna cada vez mais difícil — não apenas por limitações objetivas, mas também pela erosão da dimensão afetiva e coletiva que sustentava o desejo de transformação.
Por outro lado, esse quadro de esvaziamento político contrasta com cenas cotidianas que testemunhamos ao final de um dia comum: pessoas que, após mais de doze horas divididas entre trabalho e deslocamento, voltam para casa, tomam banho, vestem suas melhores roupas e seguem, com disposição e alegria, para um culto religioso em uma igreja próxima. Ali, permanecem por mais de uma hora, participando ativamente de cânticos, orações, conversas e ações com seus irmãos e irmãs de fé. Essa entrega, mesmo após um dia extenuante, evidencia a força de mobilização que a experiência religiosa, sobretudo no campo evangélico popular, é capaz de produzir. Essa comparação não deve ser lida como uma romantização de um lado ou como uma crítica simplista ao outro, mas como um convite urgente à autocrítica. Não se trata, como defendem alguns setores, de disputar o controle dessas instituições religiosas — muitas vezes marcadas por hierarquias rígidas e ideologias conservadoras —, mas de compreender o que torna possível essa potência mobilizadora. É preciso reconhecer que a força das igrejas populares não se limita ao conteúdo de seus discursos, mas à forma como se inserem no cotidiano das pessoas, oferecendo sentido, crença no futuro e que ele será próspero, afeto e coletividade. Talvez resida aí um dos principais desafios da esquerda: reencontrar caminhos para uma prática política que, mais do que convencer racionalmente, seja capaz de tocar os sujeitos em sua integralidade.
Neste artigo, pretendemos investigar uma das limitações centrais da esquerda contemporânea: sua dificuldade em mobilizar e engajar de forma consistente ativistas e militantes no cotidiano das lutas sociais. Nosso objetivo é contrastar esse cenário com a atuação de setores das igrejas populares que, embora historicamente associadas a práticas comunitárias de solidariedade e organização de base, vêm desempenhando, em muitos casos, um papel ambíguo — servindo como canais de difusão do bolsonarismo e de formas contemporâneas de neofascismo. Interessa-nos refletir sobre como experiências concretas de acolhimento, convivência e enraizamento territorial têm sido apropriadas por discursos reacionários, enquanto a esquerda, por vezes, se vê paralisada em lamentos impotentes diante da brutalidade da realidade. Em vez de disputar os afetos, os vínculos e os espaços do cotidiano, tende a se recolher à denúncia abstrata, perdendo a chance de construir alternativas vivas e enraizadas junto às classes populares.
Utilitarismo: entre práticas, lacres e formas de condução da vida
Historicamente, os projetos políticos da esquerda estiveram vinculados a ideais de igualdade, solidariedade e acolhimento, operando com categorias éticas sensíveis à experiência cotidiana das classes trabalhadoras e das populações marginalizadas. Essa sensibilidade se expressava não apenas em ideais de uma nova sociedade, ou políticas públicas redistributivas, mas também em formas de organização comunitária que valorizavam a escuta, o vínculo, o cuidado e a construção coletiva. Em oposição, a direita tradicional operava por uma lógica de eficiência, estatística e abstração moral, adotando uma visão tecnocrática da política centrada em resultados mensuráveis e parâmetros de desempenho. A racionalidade instrumental — característica da ética utilitarista descrita por Bentham e Mill — ancorava as decisões da direita liberal, justificando intervenções sociais a partir de cálculos entre dor e prazer, custo e benefício, ignorando os vínculos simbólicos, afetivos e históricos que estruturam as relações sociais concretas, ou seja, ignorando o sujeito como detentor de desejos e direitos para além da produtividade útil ao capital. Assim, enquanto a direita construía o homo economicus como paradigma de ação, a esquerda se engajava na construção de um sujeito histórico ético, movido por princípios e pertencimento coletivo.
Entretanto, nas últimas décadas, esse campo de distinção foi progressivamente corroído. Sob o impacto das transformações promovidas pelo neoliberalismo — especialmente com o advento do paradigma do capital humano e a consolidação de modelos de governamentalidade empresarial de si — setores significativos da esquerda passaram a assimilar, mesmo que de forma crítica ou inconsciente, os dispositivos racionalizadores típicos da lógica liberal. O elogio à “maturidade política”, à profissionalização da militância, à cultura de metas e indicadores, à performatividade nos discursos e nas redes sociais, contribuiu para a substituição de uma ética do cuidado por uma moral da competência. A subjetividade neoliberal se constrói a partir da interiorização de padrões de autogestão, produtividade e vigilância afetiva — um processo de disciplinamento moral que reformula até mesmo o modo de sofrer. Em paralelo, o espaço público passa a ser ocupado por moralismos líquidos e cancelamentos virtuais, substituindo o conflito dialético por julgamentos sumários e encenações de pureza. A esquerda, outrora identificada com o acolhimento e a crítica estrutural, passa a operar com ferramentas de controle simbólico herdadas do próprio sistema que deveria combater.
Esse deslocamento se manifesta cotidianamente nas práticas organizativas, pedagógicas e comunicacionais dos movimentos sociais e partidos progressistas. A lógica do engajamento digital e a guerra contra os algoritmos, que cada vez mais entregam menos os conteúdos da esquerda, muitas vezes estimula o ativismo performático em detrimento da escuta empática e da construção de vínculos reais. O militante é avaliado por sua visibilidade e eloquência nas redes, e não mais por sua capacidade de escutar, sustentar processos ou gerar pertencimento. Em assembleias e plenárias, ganha força quem domina o vocabulário técnico ou os jargões identitários mais aceitos, enquanto se marginaliza quem expressa contradições, dúvidas ou modos de fala não codificados. A pedagogia do cuidado — outrora central na construção de uma esquerda popular — cede lugar a uma pedagogia da vigilância moral, na qual o erro é punido com o ostracismo e o acerto é recompensado com curtidas. A lógica “validatória” das redes sociais, em que os números de curtidas, comentários e compartilhamentos validam ou não a legitimidade e a relevância de cada fato, hoje está internalizada dentro de nós que, somado a necessidade de consumir o maior número de conteúdos e informações possíveis, nos leva a vigilância de tentar o perfeito e de ser validado a todo momento, não permitindo o tão importante espaço do erro e de apresentar a insegurança e as limitações individuais em espaços coletivos.
Assim, práticas que se pretendem emancipatórias acabam reproduzindo os modelos de gestão do eu e dos afetos próprios ao neoliberalismo: o outro não é um sujeito em processo, mas um obstáculo à performance política ideal. Nesse contexto, a política se esvazia como prática coletiva de transformação e se converte em palco de individualismos competitivos travestidos de coerência ética. De maneira até mesmo inconsciente a reprodução do eu enquanto prioridade é feita também dentro dos movimentos de esquerda. Tudo virou prioridade, tudo é “para ontem” e o imediatismo é necessário para dar respostas as incansáveis demandas que nos cercam, gerando inclusive uma visão alienada e setorial de que a frente que cada militante atua é mais importante e urgente do que outra.
Essa performance oportunista manifesta-se de diversas maneiras no cotidiano das organizações de esquerda. Em situações de crise ou ataques públicos, a preocupação imediata de certos atores não é necessariamente com o cuidado coletivo ou com a construção de solidariedade concreta, mas com a visibilidade que aquele episódio pode proporcionar: valem mais o close certeiro e a curtida nas redes do que a sustentação paciente dos vínculos ou o enfrentamento dos conflitos reais. A lógica da exposição substitui a da presença. Movimentos populares, antes reconhecidos por sua densidade orgânica, passam a adotar mecanismos de racionalização inspirados em modelos gerenciais: surgem listas de espera para moradia ou terra organizadas por pontuação individual, estimulando a competição e a meritocracia interna sob o pretexto de garantir “engajamento” e “fidelidade”.
Ao mesmo tempo, espaços tradicionalmente voltados à convivência e ao lazer – festas comunitárias, grupos culturais, rodas de conversa – tornam-se terrenos de disputa por capital simbólico e construção política fria. Com isso, práticas que antes alimentavam o senso de comunidade e pertencimento transformam-se em arenas de controle, em que o valor da experiência é subordinado à lógica da performance e do reconhecimento público. Esse processo aprofunda um ciclo de adoecimento psíquico e afetivo entre militantes e ativistas, sobretudo entre os mais engajados, que se veem imersos em rotinas exaustivas marcadas por cobrança permanente, ausência de escuta e exigência de performance contínua. A militância deixa de ser espaço de transformação subjetiva e coletiva e passa a funcionar sob os imperativos da produtividade, gerando frustração, ansiedade e isolamento. Ao mesmo tempo, a relação com a base se fragiliza: o vínculo com comunidades, categorias ou territórios é muitas vezes pautado por trocas imediatistas, com baixa densidade política e escasso investimento em processos educativos de longo prazo. A mobilização se dá não por pertencimento ou projeto comum, mas por demandas específicas — como acesso a direitos ou benefícios — que, embora legítimas, se esgotam quando atendidas, rompendo o ciclo de engajamento.
Com isso, movimentos populares se desarticulam após conquistas pontuais, e a relação entre parlamentares e territórios populares é frequentemente mediada por lógicas clientelistas ou de conveniência, em que a construção de alianças estratégicas dá lugar a relações instrumentais, frágeis e pouco transformadoras. A política, nesse quadro, deixa de ser uma prática coletiva de enraizamento e vira um jogo de trocas funcionais, marcado pela lógica neoliberal da eficiência e da utilidade.
Logo, o grande problema de muitos grupos de esquerda que dizem querer “voltar às bases” não está exatamente na escolha do território ou do local de trabalho em si, mas na forma e no conteúdo com que essa presença se realiza. Estar na base tem se tornado, em muitos casos, uma ação pontual, voltada à conquista de vitórias específicas — uma regularização fundiária, um benefício, uma emenda — que, embora importantes, não constroem pertencimento nem aprofundam a formação política, ou seja, a lógica tradicional da direita. Quando essa atuação é mediada por uma lógica clientelista, oportunista ou voltada ao lacre, a base se transforma em cenário, e não em chão comum. O gesto de escuta cede lugar ao anúncio, a escuta ao discurso, o vínculo à visibilidade. O enraizamento, nesses termos, é substituído por uma presença utilitária, que se ativa nas vésperas de eleições ou em momentos de disputa simbólica, sem continuidade nem transformação real. O desafio, portanto, não é apenas ocupar territórios — é reaprender a habitar esses espaços com outro ritmo, outra ética, outra linguagem, recuperando a ideia de base como espaço de construção coletiva, como território de cuidado, de convivência, de elaboração paciente da transformação.
Nesse sentido, é necessário adotar um olhar estratégico e histórico, como o fizeram pensadores como Maquiavel e Gramsci, que souberam analisar instituições — inclusive religiosas — não apenas por sua ideologia declarada, mas por seus métodos de organização, enraizamento e construção de hegemonia. Gramsci, ao estudar a Igreja Católica, reconheceu nela uma estrutura de longo alcance, com capacidade de formar lideranças orgânicas, produzir consensos e disputar os sentidos da vida cotidiana. Do mesmo modo, podemos — e devemos — olhar para as igrejas evangélicas não apenas como reprodutoras de valores conservadores, mas como espaços que constroem comunidade, oferecem acolhimento, produzem solidariedade e fornecem respostas concretas num cenário de precariedade social e política. Ainda que o conteúdo ideológico de muitos desses espaços possa ser reacionário, sua forma organizativa muitas vezes revela maior capacidade de presença cotidiana, mobilização e escuta do que grande parte das iniciativas da esquerda institucional. Compreender como essas igrejas enfrentam as dificuldades do cenário político e econômico — e ainda assim mantêm seus processos de expansão, consolidação e presença afetiva nos territórios — é parte fundamental de qualquer projeto que pretenda disputar corações, mentes e futuros.
Organizar é cuidar
Diante da conjuntura difícil e fragmentada que enfrentamos nos últimos anos — marcada por retrocessos sociais, avanço da extrema direita e esvaziamento do engajamento popular — é sempre mais simples cair na resignação ou se refugiar na crença de que “já fazemos o suficiente”. No entanto, essa postura defensiva, ainda que compreensível, nos paralisa diante da urgência histórica de reconstruir vínculos e práticas transformadoras. A proposta de analisar com seriedade o crescimento e a presença territorial de certas organizações — especialmente as igrejas evangélicas — não parte de um lugar de conformismo, mas sim de inquietação. Trata-se de romper a apatia, recusar a arrogância política e, sobretudo, reconhecer que há experiências, mesmo fora do nosso campo ideológico, das quais podemos extrair lições valiosas para repensar nossas formas de atuação.
Nesse esforço, observar a atuação das igrejas evangélicas nas periferias brasileiras revela-se como uma oportunidade estratégica. Não se trata de aderir a seus conteúdos dogmáticos ou validar suas posições conservadoras, mas de olhar com atenção para suas formas de organização, acolhimento e enraizamento comunitário. Como já nos ensinavam pensadores como Gramsci ao analisar a Igreja Católica, é preciso compreender as instituições também por sua capacidade de gerar coesão, sentido e presença no cotidiano popular. Isso exige deslocar o foco da denúncia ideológica para uma análise mais densa das práticas e estruturas que sustentam tais organizações. Nesse sentido, compreender como essas igrejas enfrentam a escassez, produzem vínculos e se mantêm vivas nos territórios pode oferecer pistas preciosas para que a esquerda recupere sua capacidade de escuta, permanência e construção popular efetiva.
O primeiro elemento que podemos destacar da experiência evangélica é o acolhimento afetivo. O espaço do culto funciona como um lugar de escuta ativa, onde o sofrimento é compartilhado, legitimado e, sobretudo, acolhido sem cinismo nem pressa. Essa escuta não é técnica, mas profundamente humana, sustentada por vínculos comunitários que não se interrompem após o momento de fala. Em contraste, os espaços da esquerda — especialmente os institucionalizados — têm se habituado a respostas prontas, falas protocoladas ou simples defesas de posições ideológicas ou de governos já estabelecidas. Faltam-lhes o silêncio, a escuta e a disposição para lidar com a dor alheia sem transformá-la em bandeira ou justificativa política imediata. Aprender com essa prática significa reconstruir espaços onde o engajamento não seja medido apenas pela coerência do discurso, mas pela capacidade de cuidar e sustentar a presença do outro. O acolhimento, nesse sentido, é profundamente político: ele funda o vínculo, sustenta o engajamento e reconstitui a dignidade cotidiana de sujeitos historicamente descartados.
Outro ponto central na atuação dos grupos religiosos, especialmente nas periferias, é a existência de redes de apoio que enfrentam, na prática, o desamparo estrutural promovido pelo Estado. Indicações de emprego, acolhimento de dependentes químicos, apoio jurídico informal, escuta emocional: essas ações, embora organizadas de forma não institucionalizada, constroem um tecido comunitário coeso, vivo e funcional. A lição aqui não é que os movimentos populares devam se converter em centros assistenciais, mas que sejam capazes de reconhecer e responder às demandas concretas da vida cotidiana, indo além das demandas políticas da organização. Criar espaços que orientem, encaminhem, acompanhem e sustentem pessoas nas suas necessidades reais — do cuidado à moradia, da saúde à escolarização — é também um ato político. Para a esquerda, isso implica recuperar a centralidade da solidariedade prática, compreendida não como caridade, mas como estratégia de enraizamento e formação de vínculos duradouros. Reaprender a operar como rede de sustentação da vida é reconhecer que política de base não se faz apenas com palavras de ordem ou relações clientelistas, mas com presença e apoio diante das dores e desafios do cotidiano.
A militância marcada por ações pontuais e mobilizações episódicas não consegue disputar corações e mentes com instituições que oferecem ritmo, estabilidade e acompanhamento cotidiano. Por mais que a presença em momentos de crise — como greves, reintegrações de posse ou protestos — seja indispensável, ela não substitui o trabalho paciente de construção de base. As igrejas evangélicas, por exemplo, operam com uma malha densa de presença regular: cultos semanais, grupos de jovens, rodas de oração e outras atividades que geram familiaridade, confiança e rotina compartilhada. Esses espaços não apenas informam ou mobilizam, mas acompanham a vida das pessoas no tempo longo. Aprender com isso significa construir ritmos próprios de atuação política, com reuniões periódicas, atividades de formação contínua, espaços de escuta e convivência. A adesão a um projeto transformador não se consolida com discursos esporádicos, mas com a experiência reiterada de pertencimento. A base ideológica sólida — aquela que resiste ao oportunismo e à lógica do curto prazo — é construída por meio de vínculos que não são utilitários, mas simbólicos, afetivos e persistentes no tempo.
A oralidade nas igrejas revela uma pedagogia popular, viva e eficaz. A linguagem é simples, afetiva, marcada por narrativas pessoais, testemunhos de superação e metáforas cotidianas. O saber se constrói pela escuta, pela experiência compartilhada, mais do que pela exposição técnica ou pelo domínio de categorias abstratas. Isso contrasta fortemente com boa parte da formação militante ainda dominante na esquerda, que permanece presa ao jargão, à norma culta e à lógica da autoridade intelectual.
O desafio é reconstruir uma linguagem do comum, acessível sem ser simplista, onde os sujeitos populares não sejam apenas ouvintes, mas autores e protagonistas da reflexão política. A formação deve ser mais partilha do que palestra, mais roda do que púlpito, mais experiência vivida do que citação. Nesse mesmo sentido, é preciso valorizar a construção de símbolos, referências culturais, músicas e bandeiras que expressem a memória e o imaginário da classe trabalhadora. A ambientação estética, os rituais e as expressões sensoriais não são apenas complementos: são elementos catalisadores de vínculo e pertencimento, com potencial catártico para consolidar afetos e fortalecer o trabalho comum. O processo pedagógico, portanto, deve tocar também os corpos, os sentidos e os afetos — e não apenas a razão.
A principal lição talvez esteja na continuidade. As igrejas crescem e se mantêm porque estão presentes, permanecem nos territórios, conhecem as pessoas pelo nome e acompanham seus caminhos ao longo do tempo. Seu poder está exatamente em não ir embora quando todos os outros já foram. Ao contrário, a esquerda tem oscilado entre a mobilização relâmpago e a busca por vitórias imediatas — muitas vezes descoladas do enraizamento real nos territórios. No entanto, são justamente os processos longos, feitos de convivência, cuidado e presença reiterada, que constroem os laços de confiança necessários para atuar em outro patamar quando surgem momentos de ascenso ou oportunidade política mais ampla. Retomar o trabalho de base, portanto, exige romper com a lógica clientelista ou puramente instrumental. Significa reaprender a prática do enraizamento: estar sem pedir nada em troca, ouvir sem julgar ou condicionar, permanecer mesmo quando não há retorno imediato. É nesse gesto político-pedagógico que se reconstroem laços rompidos, que se cura o cansaço da desilusão e se reaprende a força da política feita com os de baixo.
Voltar com raízes
A proposta de reflexão que buscamos construir neste texto não pretende deslegitimar todas as formas de intervenção pontual, nem ignorar que certos tipos de relações utilitárias ou mesmo clientelistas, em determinadas circunstâncias, possam cumprir papéis táticos no cotidiano das lutas. O que está em questão aqui não é a exceção, mas a prática tornada hegemônica. O que se propõe é uma crítica ao modus operandi dominante que, mesmo sendo muitas vezes denunciado nos discursos da esquerda, acabou sendo absorvido e reproduzido no cotidiano. A adoção de uma lógica utilitária, performática e de curto prazo — típica do neoliberalismo — tornou-se corriqueira no interior das organizações e movimentos, especialmente com o avanço das redes sociais e das novas formas de sociabilidade mediadas por algoritmos, métricas e visibilidade. A crítica aqui não é moral, mas estrutural: trata-se de compreender como fomos sendo moldados por esse novo regime de relações e como isso fragilizou a densidade ética e coletiva das práticas de base. Nosso esforço, portanto, é o de aprender com experiências que operam por outras dinâmicas — como as igrejas evangélicas — e buscar caminhos para reenraizar a política no cotidiano popular, com presença, vínculo e escuta real, mesmo em meio à adversidade da conjuntura.
Outra dimensão fundamental a ser destacada é que não há propriamente uma novidade no processo de reflexão que desenvolvemos aqui. Ao contrário, tratamos de uma linha de pensamento com raízes profundas na tradição crítica latino-americana e nos feminismos marxistas. Não é possível falar de educação popular ou de trabalho de base sem evocar o legado de Paulo Freire, que já nos alertava sobre a importância da escuta, da construção coletiva do saber e da valorização da experiência vivida como fundamentos de qualquer prática emancipatória. Da mesma forma, não há como falar de cuidado sem reconhecer o papel central das reflexões trazidas por intelectuais feministas, como bell hooks, que nos provoca a compreender o cuidado como ato político, atravessado por questões de gênero, raça e classe. Quando abordamos a reprodução social e o cotidiano da vida, entramos no terreno de debates cruciais conduzidos por autoras negras e periféricas, que vêm confrontando a necropolítica com uma ética da sobrevivência, da coletividade e da insurgência cotidiana. Ou seja, há uma vasta produção intelectual clássica e contemporânea que pensa, de forma densa, os mesmos problemas que aqui abordamos. O que nos move neste texto não é inaugurar uma nova teoria, mas, diante da dureza da conjuntura, recolocar com força e urgência essas reflexões, conectando-as a um campo prático que muitas vezes é desconsiderado: a atuação cotidiana das igrejas evangélicas como experiências que, ainda que ideologicamente reacionárias, constroem vínculos, presença e formas de sustentação da vida que precisamos reaprender a observar e disputar.
Também não se deve cair na armadilha de idealizar o enraizamento religioso como se ele fosse exclusivo das igrejas, nem imaginar que os movimentos populares e a esquerda sempre estiveram desconectados da vida cotidiana. Isso falseia tanto a história quanto a realidade atual. No Brasil, há experiências emblemáticas que mostram o contrário. Um exemplo clássico é o movimento de reorientação da Igreja Católica a partir da década de 1950, justamente quando os trabalhadores socialistas e comunistas passaram a conquistar hegemonia política e social nas periferias urbanas, enquanto a Igreja ainda concentrava sua atuação nas regiões centrais das cidades. Esse processo levou à criação de experiências como a Ação Católica Operária e, mais adiante, à explosão de uma nova sensibilidade pastoral com a Teologia da Libertação e as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Essas práticas religiosas foram fortemente influenciadas pela luta popular e pela organização de base, mostrando que há uma história cruzada — e não paralela — entre fé, política e território. O mesmo pode ser dito da atuação conjunta entre movimentos populares, mulheres, negritude e setores progressistas da Igreja no período final da ditadura militar. Foi a partir de marcos históricos como as lutas por anistia, reforma agrária, saúde e moradia, que se construiu um campo de alianças potente, que articulava cuidado, escuta, denúncia e prática coletiva. Relembrar essas experiências é fundamental para evitar tanto o cinismo histórico quanto o desânimo estratégico: a esquerda já soube — e ainda pode — construir enraizamento com potência política e afetiva.
Por fim, nos debruçar sobre esses temas é também uma forma de romper com a apatia e a resignação que frequentemente dominam o debate político atual. É fácil atribuir toda a responsabilidade da conjuntura à ascensão da extrema direita ou ao avanço de lógicas autoritárias e fascistas — e, de fato, é necessário enfrentá-las. Mas tão importante quanto isso é questionar as práticas cotidianas da própria esquerda, sobretudo quando estas já não conseguem gerar pertencimento, nem oferecer respostas sensíveis e enraizadas à vida popular. No entanto, a crítica isolada não basta. É preciso apontar caminhos, reconstruir referências, recomeçar — mesmo em meio às ruínas. Trata-se agora de reorganizar nossas práticas políticas com base em outros marcos éticos, metodológicos e afetivos, mais atentos à escuta, ao cuidado, à presença e ao cotidiano. Isso não será simples nem imediato, mas é um movimento necessário e urgente. O momento exige mais do que denunciar o que não funciona ou apontar apenas para os autoritarismos: exige imaginar, construir e sustentar alternativas reais, capazes de devolver sentido, densidade e esperança à ação política no tempo presente.