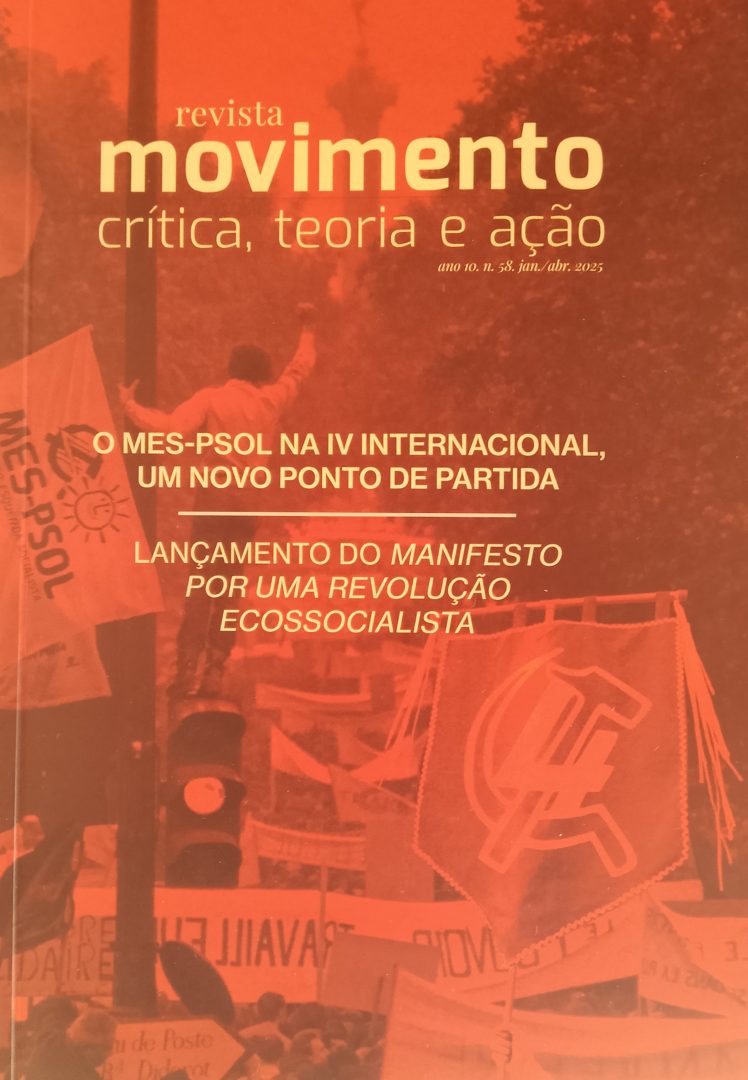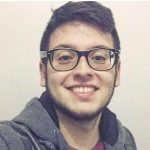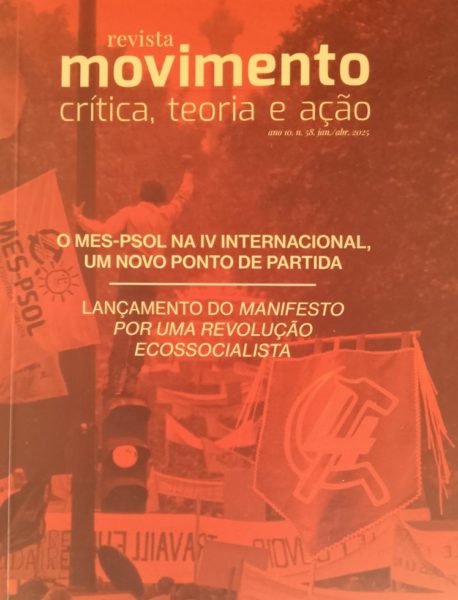Uns chamam de guerra, outros de massacre
Até o fim de julho, pelo menos 638 seres humanos morreram por intervenção policial no Estado do Rio de Janeiro.
Até o fim de julho, pelo menos 638 seres humanos morreram por intervenção policial no Estado do Rio de Janeiro — apenas em 2017. Agosto traz, óbvio, novos casos, como o do fruteiro Sebastião, assassinado, dia 15, por uma rajada de balas de fuzil que choveu do helicóptero da Polícia Civil sobre a lona preta onde o pai de 7 filhos, já há muitos anos, vendia uma enormidade de frutas e hortaliças num dos principais cruzamentos da favela do Jacarezinho. Do outro lado, mais de 100 policiais militares, contando os da reserva, morreram este ano. Cerca de um quarto deles, em operações. Não é só o confronto que mata. Feminicídios, homicídios dolosos, execuções, latrocínios e outros crimes colaboram para um cálculo que deve somar mais de 6 mil mortos pela violência no Estado em 2017, uma média que se aproxima de 17 pessoas por dia.
Tragédia antiga
A insegurança dos povos que habitam toda essa terra, às margens da Baía de Guanabara, talvez seja o capítulo mais antigo e persistente da história do Rio de Janeiro. Dos tupinambás do século XVI aos favelados do século XXI, viver por aqui — fora alguns curtos períodos — sempre foi um risco. Uma história similar a de tantas cidades da América Latina: assim como a morte “morrida” das grandes epidemias, as mortes “matadas” de nossa violência armada são tragédias que estraçalham vidas aqui há muito tempo. O racismo é elemento permanente. A colonização violenta sobre os indígenas se expressou depois em um massacre de três séculos sobre os africanos escravizados. Hoje a tragédia chega de Caveirão, sob balas de fuzil. E o alvo é a favela — considerada assim mesmo, no termo genérico: a favela. A chance de um favelado ser assassinado é três vezes maior do que em demais áreas da cidade do Rio. A agoniada frase “não é por que moramos em comunidade que somos vagabundos” é ouvida em dez de dez apurações feitas em favelas após operações policiais. Segundo levantamento recente do UOL, 9 de cada 10 mortos pela polícia são negros ou pardos no RJ.
Começo assim para já deixar sublinhado que qualquer caos da segurança ou qualquer “guerra” que se proclame por aqui não é circustância de ocasião, mas sim um projeto secular que se deflagra, a cada ano, com mais nitidez, de Estácio de Sá a Luiz Fernando Pezão. Um projeto que sempre está baseado numa concepção preconceituosa de que os mais pobres da cidade formam uma imensa e amorfa “classe perigosa”, para utilizar um termo largamente difundido durante o Império — seja no Senado Nacional ou nas páginas de jornal.
Ainda neste contexto, convém lembrar que estamos num estado governado há quase 20 anos por uma quadrilha, cada vez mais bem delimitada, chamada PDMB fluminense. Eleger Sérgio Cabral e seus comparsas como os grandes bandidos de nosso tempo nos ajuda a perceber que a ganância de enriquecimento de poderosos políticos e outros parasitas corruptos significa, diretamente, o acirramento dos confrontos armados das ruas e, sobretudo, nas favelas.
Um monstro de muitas cabeças
Fazer um diagnóstico profundo dos motivos do nosso caos da segurança ou ainda de suas saídas é missão tão difícil que poucos se arriscam publicamente. A fragmentação territorial dos domínios das facções, a quantidade e o calibre dos armamentos, a facilidade de suas entradas, a epidemia dos fuzis, a profusão de tiroteios, a falta de capacidade dos hospitais de responder a essa mórbida demanda, a sanguinolência da Polícia que mais mata no mundo, a corrupção desta corporação, os equívocos da política das UPPs, o alto índice de policiais assassinados, o atraso dos salários dos PMs, a existência das milícias, a falta de perspectivas profissionais e de políticas efetivas para a juventude favelada, o preconceito, as debilidades de projetos de educação, cultura e esporte, a superlotação do sistema penitenciário e socioeducativo, a inexistência de programas de ressocialização para ex-detentos e internos, a falácia da guerra às drogas, a emergência do roubo de cargas, o ódio cada vez mais retroalimentado entre bandidos do tráfico e bandidos de farda, entre muitos outros elementos, levam o Rio de Janeiro a um posição absolutamente atípica na questão da insegurança pública. Parece que o nó aqui é mais apertado, parece que aqui esse monstro tem mais cabeças do que em outros cantos do Brasil.
Não que a cidade ou o Estado liderem os rankings proporcionais de homicídios no país. Os últimos números consolidados pelo Instituto de Segurança Pública do RJ, referentes ao ano de 2016, apontam o estado com uma taxa de homicídios de 37,6 pessoas por 100 mil habitantes. Bastante longe das taxas de estados nordestinos, por exemplo. No entanto, ao olharmos a tabela dos números absolutos, ainda nos chocamos com a marca alcançada em 2016 de 6.262 pessoas assassinadas. Há um crescimento nos índices de letalidade desde 2012. No entanto, ainda assim, os números dos últimos 4 anos não são recordistas. De 1991 a 2009, apenas em 98 o número total de homicídios foi menor que 2016, por exemplo.
Com tudo isso apresentado — a complexidade dos elementos, a longevidade e a contagem da barbárie — as populações que mais sofrem com a matança não querem deixar a cidade naturalizar o que acontece. Fazem questão de gritar que este é o assunto mais emergencial de suas vidas e, talvez, o mais escandaloso do Rio de Janeiro de hoje. Vivemos um momento de aumento da criminalidade, depois de um curto período de significativas quedas na quantidade de mortes e tiroteios de 2009 a 2012.
O que temos de diferente agora?
Por que a cidade está, bastante provavelmente, mais assustada do que no passado recente? Qual o panorama, afinal? É essa abordagem de síntese — um tanto de repórter e outro tanto de articulista — que queremos colaborar.
Começo esse ponto por aqui: o aplicativo Fogo Cruzado elevou a percepção de que a cidade vive uma epidemia de tiroteios. Foram 4.473, apenas no Rio e Grande Rio, no primeiro semestre deste ano. Ou seja, 14 por dia. Não houve um dia sequer sem tiroteios no Rio em 2017. É um número absurdo, de difícil comparação, pois não havia tecnologia para fazer essa medição antigamente, tampouco há outras cidades com iniciativas similares.
Os tiroteios no Rio de Janeiro assustam mais hoje em dia. É fácil de entender o porquê. Culpa dos fuzis e de outras armas de grosso calibre, nas mãos de traficantes e policiais. A velocidade de tiros por segundo e a capacidade destrutiva dessas armas são muito maiores do que as usadas anos atrás. Metralhadores sofisticadas, granadas e outros equipamentos restritos às guerras deflagram pânico em diversas comunidades, diariamente. Consequência direta disso: escolas fechadas praticamente todos os dias do ano letivo. Apenas em 8 dias de 2017 a rede pública de ensino não teve que lidar com essa realidade absolutamente nociva às nossas crianças, no presente e no futuro. É comum que o número diário de crianças sem aula supere 5 mil. Em 21 de agosto, 27 mil crianças ficaram sem ir para a aula, um vergonhoso recorde. O desastre puxa outros desastres. São crianças que, muitas vezes, não têm onde almoçar naquele dia. Pais que não podem ir trabalhar para cuidar de seus pequenos, uma flagrante perda de dignidade. Muitos, como nós no mandato de vereador da cidade, fizemos pressão para que a PM parasse com operações em horário escolar. Como resposta, na metade de agosto, o secretário de segurança Roberto Sá expediu uma recomendação que orienta “sempre que possível” que as polícias evitem os horários de entrada e saída das escolas. A orientação, que surgiu cinco meses após a menina Maria Eduarda ser morta a tiros por policiais dentro de uma escola de Acari, não vem sendo cumprida. Pior: professores de escolas da Maré que visitamos nos contaram que não há um protocolo articulado entre Secretaria Estadual de Segurança e Secretaria Municipal de Educação para proceder em caso de operações. Escolas do interior do Complexo ficam sabendo de operações por telefonemas de outras escolas localizadas mais próximas às entradas das favelas. As cenas de crianças, algumas menores de 5 anos, jogadas nos chãos de nossas escolas não saem da memória de quem viveu essa angústia, uma vergonha para nossa comunidade. O prefeito Marcelo Crivella teve uma postura patética diante de toda a problemática. Sugeriu que a Prefeitura revestiria com uma argamassa blindada escolas em áreas de risco. A demagogia de Crivella, como de costume, não foi à frente.
Os hospitais também sofrem ao se tornarem emergências para baleados de fuzil. A complexidade e a quantidade de ferimentos aumentou com as novas armas. A capacidade da rede, claro, não dá conta e até mesmo UPAs estão se readequando para atender os feridos por arma de fogo.
A Polícia Militar
Outro aspecto fundamental para se perceber a tragédia de nossa segurança é a falência, que a cada ano se renova, da Polícia Militar como uma instituição respeitável em nossa democracia. Só em 2017, são diversos abusos inadmissíveis que puderam ser vistos a olho nu por nossa equipe. Em janeiro, fomos ameaçados com tiros de fuzil para o alto quando subimos a comunidade da Alvorada, no Alemão, para comprovar a denúncia de que PMs estavam expulsando moradores e invadindo casas para servir como paióis e bases avançadas. Um alto oficial da PM admitiu, em audiência pública, a prática criminosa. Em fevereiro, em frente a um batalhão da Tijuca, flagramos o comandante obrigando um praça a se apresentar na UPP dos Macacos sem farda. Uma manobra para evitar que as mulheres de PMs, que faziam protesto, impedissem sua saída para o trabalho. Nessa onda de manifestações, tivemos acesso a um documento raro, que expunha as demandas dos policiais militares. Entre eles, o fim das UPPs e uma democracia maior dentro da corporação. Em março, o escândalo foi a morte de Maria Eduarda dentro da escola de Acari. No mesmo dia, dois PMs foram flagrados executando dois homens caídos no chão. Em maio, surgiram vídeos do Caveirão acelerando contra equipamentos de som, em baile funk, no Mandela. Ainda em maio, um PM foi preso carregando 3 mil munições em direção ao Complexo do Alemão. Em junho, o escândalo foi no 7BPM, em São Gonçalo, quando uma operação prendeu 96 PMs, embora nenhum oficial, por corrupção. Durante 2017, nas ruas do centro, em manifestações, policiais foram flagrados atirando para o alto com pistola e, o que já é costume, tacando gases asfixiantes vencidos há mais de 10 anos.
Diante de tantos problemas e novas críticas ao programa das UPPs, a Secretaria de Segurança desfez a Coordenadoria de Polícia Pacificadora. Agora as UPPs estarão subordinadas aos batalhões. Ou seja, perde-se tudo que se sonhou um dia, a polícia de proximidade, para tornar tudo mais do mesmo, a panaceia dos batalhões de sempre, a mesma polícia de Dom João VI e daí sempre para pior. O anúncio foi uma maneira de encerrar o programa das UPPs sem admitir sua falência. Além disso, chamou a atenção a criação de um único Batalhão de Polícia Pacificadora, no Alemão e na Penha. Não é por acaso. O lugar que mais se levantou contra as UPPs é justamente aquele que vai receber mais UPP. O mesmo aconteceu no Jacarezinho, quando a população pediu o fim das operações e recebeu a maior operação da história. No fundo, tudo é um projeto de silenciamento das favelas. Não importa o que elas querem. Não importa o que elas pedem. Não se trata de democracia.
Forças Armadas
Mais um elemento que tem movimentado a dinâmica da segurança pública do Rio de Janeiro, em 2017, é o uso das Forças Armadas em apoio às operações da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Trata-se de um contigente imenso de cerca de 5 mil agentes, que desembarcaram no Rio no fim de julho, para ajudar a sufocar a escalada do roubo de cargas, especialmente, na avenida Brasil e nas rodovias do entorno da Capital. Agosto registrou uma significativa redução neste tipo de crime, mas o primeiro mês do reforço ficou mais marcado pelos vazamentos das operações e pela tentativa de políticos de alto escalão se promoverem sobre a situação, caso de Michel Temer, que esteve no Rio, do ministro da Defesa Raul Jungmann e do próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que se postulou como o grande intermediador da operação junto ao governo federal em Brasília.
Essa união de oportunismo político com a equivocada política de atrapalhadas operações em favelas fez surgir a megaoperação de 5,5 mil agentes na favela do Jacarezinho e região no dia 21 de agosto. Era uma reação pública, de baixíssima efetividade, diante de uma situação que havia saído do “controle” da Secretaria de Segurança. Durante 10 dias, em reação à morte do policial civil Bruno Xingu, as polícias civil e militar fizeram operações vingativas e assassinas na comunidade do Jacarezinho, matando 7 moradores. Um deles foi o mototaxista André Luiz, assassinado por uma rajada de fuzil, disparada a esmo pelo veículo blindado da polícia civil.
Jacarezinho
A triste verdade nas favelas do Rio de hoje é que ninguém está otimista de que as mortes estúpidas, como a de André, irão terminar em breve. Todos admitem o medo de morrer. Ou de perder um parente. Ou um amigo. “A gente sabe quando vai dar problema e se protege. Mas dessa vez entraram atirando, na covardia mesmo, na vingança. André estava com medo”, diz um amigo seu, chorando: “Ele tava do meu lado. O pior é que, mesmo depois de baleado, a polícia não parava de atirar. Ficou dez minutos atirando e não podíamos socorrer”.
André foi resgatado por um carrinho de carga. Foi levado para a UPA de Manguinhos. De lá, quase morto, para o Hospital Souza Aguiar. “O médico disse que a demora do atendimento fez com que ele perdesse muito sangue, muita hemorragia”, chorava sua mulher, que agora é viúva. André deixou uma filha de 13 anos e uma mãe chorando diante das câmeras. É revoltante pensar que aquele rapaz calmo (“ele tinha boca e não falava”), tricolor fanático (“ele tinha mais de 30 camisas do Fluminense”), tenha morrido dessa forma. Em cortejo, mais de 100 motociclistas deixaram o Jacarezinho, dia 18 de agosto, em direção ao cemitério de Inhaúma. Ao chegarem no cemitério, foram aplaudidos pela família. Estavam revoltados. Nem Pezão, nem ninguém do governo do Estado ligou para a família de André.
Na coletiva de imprensa, as altas autoridades mentem descaradamente. Dizem que as operações não têm como objetivo o confronto, mas apenas o cumprimento de mandados judiciais. Ainda não admitem que a mesma tática para o mesmo problema segue não dando certo. A novidade da narrativa é o termo do uso guerra. Parece haver um clima público para se embutir o conceito de que vivemos em guerra. E é aí que um debate essencial do jornalismo carioca de nosso tempo se coloca neste momento.
É guerra? É massacre?
A imprensa de favela, a imprensa não-empresarial, joga luzes sobre os mortos da favela e refuta o termo guerra. Faz questão de dizer que é genocídio! É com esse lema, inclusive, “Não é guerra, é genocídio”, que diversos movimentos de favela protestam na porta do governo do Estado no primeiro dia de setembro. A lógica que os conduz é que a narrativa de guerra vira desculpa para os “efeitos colaterais”, para os mortos “por engano”.
Nas grandes redações, a lógica se inverte, tanto que o jornal Extra acabou de lançar uma editoria especial de guerra. Para essa imprensa, quem usa farda é herói, a última salvação ante o caos. Existe um discurso nacionalista embutido nessa imprensa — o nacionalismo brasileiro, o nacionalismo do “homem de bem”. Um jornalismo que ziguezagueia entre uma disfarçada defesa do estado democrático de direito e a apologia de um justiçamento disfarçado de política de segurança, expresso e celebrado em forma de megaoperações. É neste jornalismo que uma sanha de guerra encontra o respaldo necessário.
O uso da palavra guerra, portanto, é um perigo. Mas não deixa se ser uma oportunidade também. Se é guerra, quais os objetivos dela? Se é guerra, quais as brechas para a paz?