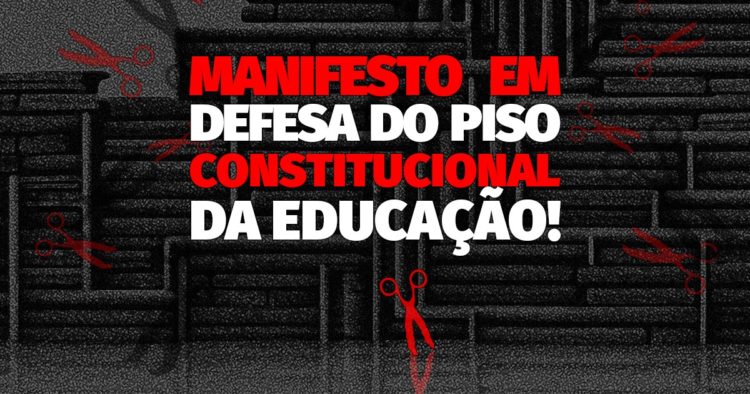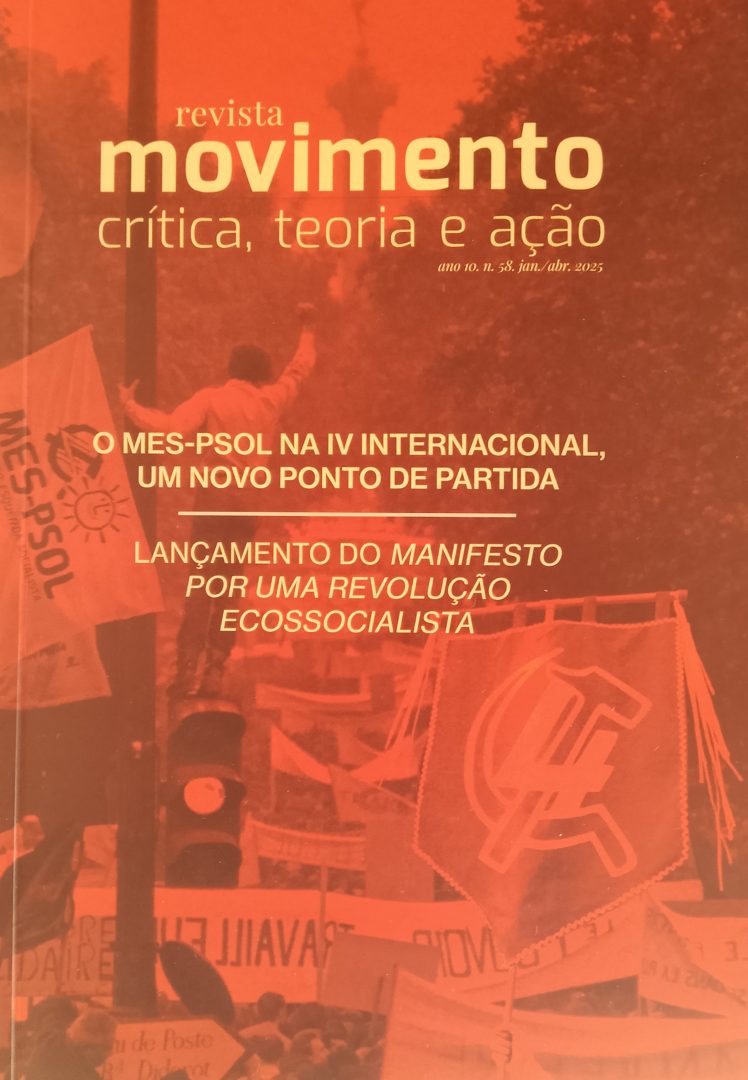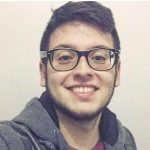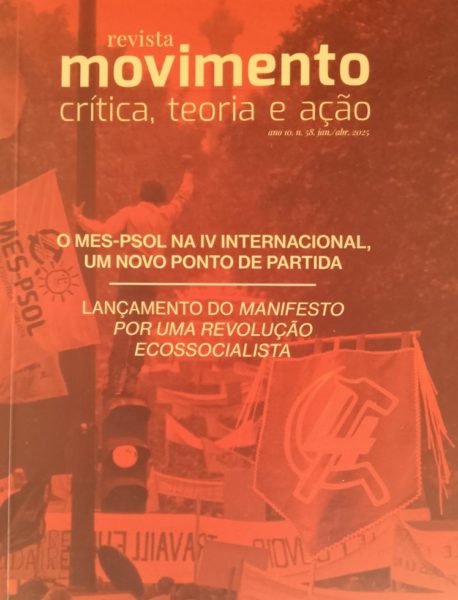Notas para um manifesto feminista
Para a construção de um feminismo para os 99%.
Na primavera de 2018, a bilionária do Facebook Sheryl Sandberg aconselhava as mulheres de que tenacidade e sucesso no mundo dos negócios eram a estrada real para a igualdade de gênero. Se apenas “metade de todos os países e empresas fossem dirigidos por mulheres e metade de todos os lares fossem liderados por homens” o mundo seria um lugar melhor e nós não deveríamos nos dar por satisfeitos até atingir essa meta. Uma notória expoente do feminismo corporativo, Sandberg construiu o seu nome pedindo às gerentes para “se apoiarem”[1] na sala de reuniões das empresas no ápice de uma carreira que a levou de Harvard, através do escritório da Secretaria do Tesouro, à coleta de dados e à segmentação de anúncios no Google e no Facebook, com a ajuda do mentor Lawrence Summers, o chefe das desregulações de Wall Street.
Nesta mesma primavera, em 8 de março de 2018, uma greve nacional de mulheres parou a Espanha. Com o apoio de 5 milhões de manifestantes, as organizadoras da huelga feminista clamaram por “uma sociedade livre da opressão sexual, exploração e violência” – “por rebelião e luta contra a aliança entre patriarcado e capitalismo que deseja nos manter obedientes, submissas e quietas. Enquanto o sol se punha sobre Madri e Barcelona e multidões de mulheres enchiam as ruas, grevistas feministas anunciavam: “No 8 de março nós cruzamos nossos braços e interrompemos todas as atividades produtivas e reprodutivas.” Elas se recusaram a aceitar condições de trabalho piores do que as dos homens ou salário menor por trabalho igual.
Esses dois chamados representam caminhos opostos para o movimento feminista. Sandberg e sua turma veem o feminismo como um servo do capitalismo. Elas querem um mundo em que os benefícios da exploração do trabalho e da opressão na ordem social sejam igualmente divididos entre homens e mulheres da classe dominante – uma forma de “oportunidades iguais de dominação.” Em agudo contraste, as organizadoras da greve feminista clamam pelo fim da dominação capitalista e patriarcal.
Bifurcação na estrada
Diante dessas duas visões de feminismo, nós nos encontramos diante de uma bifurcação na estrada. Um caminho leva a um planeta inóspito onde a vida humana é miserável, se é que é possível. O outro leva ao tipo de mundo que sempre figurou nos sonhos da humanidade: em que a riqueza e os recursos naturais são compartilhados entre todos, em que liberdade e igualdade são premissas e não aspirações. O que torna a decisão tão urgente é que não existe um caminho intermediário devido à forma predatória do capitalismo financeirizado que prevaleceu nos últimos 40 anos – aumentando as dificuldades para qualquer luta social e transformando tentativas de conquistar modestas reformas em batalhas campais pela sobrevivência. Nessas condições, as feministas, como todo mundo, devem tomar uma posição. Nós continuaremos buscando “oportunidades iguais de dominação” enquanto o planeta está em chamas? Ou reimaginaremos a justiça de gênero numa forma anticapitalista, que vai além da atual carnificina e nos leva para uma nova sociedade?
Nosso Manifesto é uma declaração para o segundo caminho. O que torna um feminismo anticapitalista possível hoje em dia é a dimensão política da atual crise: a erosão da credibilidade da elite pelo mundo, afetando não apenas os partidos neoliberais de centro mas também seus aliados do feminismo corporativo ao estilo Sandberg. Esse foi o feminismo que naufragou nas eleições presidenciais de 2016, quando a candidatura “histórica” de Hillary Clinton falhou em atrair o entusiasmo das eleitoras mulheres. Por uma boa razão: Clinton personificou a desconexão entre a ascensão das mulheres de elite aos altos cargos e melhorias nas vidas da vasta maioria.
A derrota de Clinton é o nosso sinal de alerta. Expondo a falência do feminismo liberal, ele representa a abertura para um desafio histórico para a esquerda. No atual vácuo da hegemonia neoliberal, nós temos a chance de redefinir o que podemos considerar como um tema feminista, desenvolvendo outra orientação de classe e um caráter radical. Nós escrevemos não para esboçar uma utopia imaginária, mas para esclarecer a estrada que deve ser percorrida para alcançar uma sociedade justa. Nosso objetivo é explicar por que as feministas deveriam escolher o caminho das greves feministas, unindo-se a outros movimentos anticapitalistas e antissistema e tornando-se um “feminismo dos 99%”. O que nos dá esperança para esse projeto nesse momento é o despertar de uma nova onda global, com as greves feministas internacionais de 2017 e 2018 e com e os movimentos cada vez mais coordenados que estão se desenvolvendo em torno deles. Como um primeiro passo, nós estabelecemos 11 teses sobre a presente conjuntura e as bases de um novo, radical e anticapitalista movimento feminista.
TESE I
Uma nova onda feminista está reinventando a greve
O movimento de greves feministas começou na Polônia em outubro de 2016, quando mais de cem mil mulheres realizaram greves e marchas para se opor à proibição ao aborto no país. Mais tarde neste mesmo mês, ele cruzou o oceano e chegou até a Argentina, onde mulheres grevistas protestaram contra o assassinato de Lucía Pérez sob o bordão de “Ni Una Menos”. Logo isso se espalhou para a Itália, Espanha, Brasil, Turquia, Peru, EUA, México e Chile. Tendo começado nas ruas, o movimento se espalhou por locais de trabalho e estudo e eventualmente tomando a mídia, a política e etc. Nos últimos dois anos, seu lema tem ressoado pelo mundo: “Nosotras Paramos”, “We Strike”, “Vivas Nos Queremos”, “Ni Una Menos”, “Feminism for the 99 per cent”. Primeiro como uma marola, depois como uma onda, o movimento se tornou um fenômeno global.
O que tornou uma série de ações nacionalmente localizadas em um movimento internacional foi a decisão de entrar em greve conjuntamente em 8 de março de 2017. Com este golpe ousado, essa nova forma de ativismo deu novo caráter político ao Dia Internacional da Mulher, reconectando-o às suas inegáveis, mas esquecidas, raízes na classe trabalhadora e no feminismo socialista. Suas ações evocam o espírito das mobilizações das mulheres trabalhadoras do início do século XX: as greves e mobilizações de massas nos EUA, lideradas principalmente por mulheres judias e imigrantes, inspiraram as socialistas norte-americanas a criar o Primeiro Dia Nacional da Mulher, enquanto na Alemanha Luise Zietz e Clara Zetkin faziam o chamado para o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Incorporando esse espírito militante, as greves feministas de hoje estão unindo mulheres separadas não apenas por fronteiras e muros, mas como por oceanos, montanhas e continentes. Derrubando o isolamento dos muros reais e simbólicos, elas demonstraram o potencial político dos trabalhadores pagos e não pagos que sustentam o mundo.
O movimento inventou novas formas de fazer greve, ao mesmo tempo que infundiu na própria forma da greve um novo tipo de política. Combinando a paralisação do trabalho com passeatas, fechamentos de pequenas empresas, bloqueios e boicotes, ele enriqueceu o repertório da greve geral como uma forma de protesto – outrora grande, mas encolhido por décadas de agressão neoliberal. Ao mesmo tempo, democratizou a greve e ampliou seu escopo ao redefinir o que pode ser considerado “trabalho”. Além do trabalho assalariado, a greve de mulheres também paralisou o trabalho doméstico, sexo e “sorrisos” – tornando visível o indispensável papel desempenhado pelo trabalho não pago e de gênero na sociedade capitalista valorizando atividades das quais o capita se beneficia, mas não remunera. Em relação ao trabalho remunerado, a greve feminista redefiniu o que pode ser considerada uma questão trabalhista – tendo como alvo não apenas os salários e jornada de trabalho, mas também assédio e violência sexual, barreiras à justiça reprodutiva e restrições ao direito de greve.
Dessa forma, essa nova militância feminista tem o potencial de superar a persistente divisão entre “política identitária” e “política de classe”. Revelando a unidade do local de trabalho e da vida social, se recusa a limitar sua luta a apenas um desses espaços. Redefinindo o que pode ser considerado “trabalho” e quem pode ser considerado “trabalhador”, ela rejeita a subestimação estrutural que o capitalismo faz do trabalho das mulheres, tanto o pago quanto o não pago. Ela antecipa a possibilidade de uma nova fase da luta de classes: feminista, internacionalista, ambientalista e antirracista.
O feminismo das greves de mulheres surgiu num momento em que os sindicatos industriais têm sido severamente enfraquecidos. A resistência contra o neoliberalismo se deslocou para outros terrenos: saúde pública, educação, previdência, moradia – trabalho e serviços necessários para a reprodução dos seres humanos e comunidades. Da onda de greves dos professores americanos à luta contra a privatização da água na Irlanda e os protestos dos trabalhadores do saneamento em Dalit, na Índia: é nesses locais que podemos encontrar os combatentes mais militantes – impulsionados e liderados por mulheres. Ainda que não fossem formalmente filiados ao movimento internacional de greves das mulheres, essas lutas têm muito em comum com ele. Elas também querem valorizar o trabalho necessário para reproduzir nossas vidas se opondo à sua exploração. Elas combinam demandas por salário e condições de trabalho a exigências por aumento no investimento público em serviços sociais.
Na Argentina, Espanha e Itália, o feminismo grevista atraiu amplo apoio de forças que se opõem à austeridade e protestam contra o sucateamento da educação, saúde pública, moradia, transporte e proteção ambiental. Opondo-se aos ataques dos governos aos “bens públicos” impostos pelo capital financeiro, as greves de mulheres estão se tornando as catalisadoras e exemplo para os esforços internacionais de defesa das comunidades – exigindo pão, mas rosas também.
TESE II
O feminismo liberal faliu. É hora de se livrar dele.
Esta nova onda militante está muito longe do feminismo corporativo que predominou nas últimas décadas. Entretanto, a grande mídia continua igualando o feminismo ao modelo liberal. O efeito é semear confusão pois o feminismo liberal é parte do problema. Tendo como base social as mulheres do estrato gerencial, o feminismo liberal tem como foco o “faça acontecer” e “quebrar o teto de vidro”. Voltada para permitir que algumas poucas privilegiadas subam na hierarquia corporativa ou na carreira militar, ela adere a uma visão de igualdade centrada no mercado que se encaixa com o entusiasmo corporativo pela “diversidade”. Antidiscriminação e pró-escolha, o feminismo liberal se recusa a apontar as restrições socioeconômicas à igualdade e à escolha. Como um aliado do neoliberalismo, ele falha em beneficiar a maioria das mulheres; se faz alguma coisa, na verdade as prejudica.
O objetivo do feminismo liberal é a meritocracia, não a igualdade. Ao invés de abolir a hierarquia social, ele almeja feminilizá-la, garantindo que as mulheres no topo podem alcançar paridade com os homens de sua própria classe. Por definição, suas beneficiárias serão aquelas que já possuem vantagens sociais, culturais e econômicas consideráveis. Compatível com o inchaço na desigualdade de riqueza e renda, o feminismo liberal fornece um brilho progressista para o neoliberalismo, disfarçando suas políticas regressivas numa quimera de emancipação. Um aliado da islamofobia na Europa e da finança global nos Estados Unidos, o feminismo liberal permite às mulheres profissionais-gerentes ascender apenas porque elas podem apoiar-se sobre mulheres trabalhadores e migrantes mal pagas, às quais elas subcontratam o trabalho doméstico e de cuidado.
Insensível a classe e raça, tal feminismo liga nossa causa ao elitismo e ao individualismo. Projetando o feminismo como um movimento de isolamento, ele associa-nos a políticas que ameaçam a maioria e nos retira de lutas que se opõem a tais políticas. Em poucas palavras, o feminismo liberal confere ao feminismo um nome ruim. Nossa resposta é um retorno ao feminismo – nós não temos interesse em quebrar o teto de vidro enquanto deixamos a maioria das mulheres para limpar os cacos.
TESE III
Nós precisamos de um feminismo anticapitalista – um feminismo para os 99 por cento.
O feminismo militante da greve internacional de mulheres confronta uma crise de proporções de época: padrões de vida declinantes e crise ecológica iminente; guerras e despossessão; migrações em massa encontram arame farpado; racismo e xenofobia encorajados; a reversão de direitos duramente conquistados. O feminismo que vislumbramos compreende a extensão destes desafios e pretende lidar com eles. Evitando meias medidas, ele defende as necessidades e direitos de muitos: da classe trabalhadora, das mulheres migrantes e racializadas, de mulheres queer, trans, pobres e deficientes; de mulheres encorajadas a ver a si mesmas como de “classe média”, mesmo enquanto o capital explora-as. Ele não se limita aos “assuntos de mulher”, como tradicionalmente definidos. Levantando-se por todos aqueles que são explorados, dominados e oprimidos, ele pode ser uma fonte de esperança para a maioria da humanidade – um feminismo para os 99 por cento.
O novo feminismo está emergindo da forja da experiência vivida, informado pela reflexão teórica. Está tornando-se claro que a única forma de mulheres e de pessoas de gênero não conforme ganharem acesso a direitos fundamentais é pela transformação do sistema social subjacente que esvazia estes direitos. Apenas a legalização do aborto não é suficiente para mulheres que não tem os meios de pagá-lo nem tampouco o acesso a clínicas; a justiça reprodutiva universal requer também um sistema de saúde livre e universal e o fim das práticas eugenistas na medicina profissional. Igualmente, a igualdade salarial pode significar apenas igualdade na miséria das mulheres pobres e da classe trabalhadora, salvo se vier acompanhada de direitos trabalhistas substantivos, empregos que paguem salários generosos e uma nova organização do lar e do trabalho de cuidado. Leis criminalizando a violência de gênero são uma farsa se estas ignoram a brutalidade policial, o encarceramento de massa, ameaças de deportação, intervenções militares e o assédio e abuso no local de trabalho.
A emancipação legal é uma concha vazia se não inclui serviços públicos, habitação social e fundos assegurando que as mulheres possam deixar a violência doméstica e no local de trabalho.
Por essas razões, o feminismo “para os 99 por cento” não pode ser um movimento separatista. Ele une-se a cada movimento que luta pela maioria, nos domínios da justiça ambiental, da educação, da moradia, dos direitos trabalhistas e por saúde ou em oposição à guerra e ao racismo. Nós não estamos em competição com a luta de classes – pelo contrário, nós estamos bem no meio disto, mesmo quando nós estamos ajudando a redefini-la de uma maneira nova e mais ampla.
TESE IV
Nós estamos vivendo uma crise da sociedade como um todo – e sua causa fundamental é o capitalismo.
A crise financeira de 2008 é amplamente percebida como a pior desde os anos 1930, mas este entendimento é ainda muito estreito. O que nós estamos vivendo é uma crise da sociedade como um todo – da economia, ecologia, política e do “cuidado”. Uma crise geral de uma forma integral de organização social, no fundo é uma crise do capitalismo – e, em particular, da forma de capitalismo em que vivemos hoje: globalizado, financeirizado, neoliberal. Que o capitalismo periodicamente gere tais crises não é acidental. Tampouco o é que este sistema viva da exploração do trabalho assalariado e se aproveite do excedente, além de utilizar a natureza, os bens públicos e o trabalho não remunerado que reproduz os seres humanos e as comunidades. Conduzido pela busca do lucro, o capital expande-se utilizando tais elementos sem pagar por sua substituição a não ser que seja forçado a fazê-lo. Preparado para degradar a natureza, instrumentalizar os bens públicos e comandar o trabalho de cuidado não remunerado, ele periodicamente desestabiliza as condições de sua – e da nossa – sobrevivência.
A crise atual é especialmente aguda, após décadas de declínio dos salários enfraquecimento dos direitos trabalhistas, dano ao meio-ambiente e usurpação das energias disponíveis para sustentar as famílias e comunidades – enquanto os tentáculos da finança espalharam-se por todo o tecido social. Não surpreende que tantos estejam agora rejeitando os partidos do establishment e experimentando novas perspectivas e projetos políticos. O resultado é o crescimento de uma crise de hegemonia, um vácuo de liderança e organização e um sentido de que algo deve dar.
O feminismo da greve de mulheres está entre as forças que se lançaram nesta direção. Mas nós não comandamos o terreno. Movimentos emergentes de direita prometem melhorar a situação de famílias comuns (de uma dada etnia) terminando com o livre comércio, reduzindo a imigração e restringindo os direitos das mulheres, das pessoas não brancas e de pessoas LGBTQ+. Enquanto isso, as correntes dominantes do centro liberal têm uma agenda igualmente desagradável: elas querem que feministas, antirracistas e ambientalistas cerrem fileiras com seus “protetores” liberais e renunciem a projetos igualitários de transformação social. Nós declinamos esta proposta. Rejeitando não apenas o populismo reacionário, mas também seus oponentes progressistas-neoliberais, nós pretendemos identificar e confrontar de frente a fonte real da crise e da miséria: nomeadamente, o próprio sistema capitalista.
A crise não é “apenas” um tempo de sofrimento. É também um momento de despertar e uma oportunidade para a transformação social, quando massas de pessoas críticas retiram seu apoio dos poderes estabelecidos e procuram novas ideias e alianças. O processo pelo qual uma crise geral leva à reorganização social apareceu repetidamente na história moderna, com o capitalismo reinventando-se de novo e de novo. Em sua tentativa de restaurar a lucratividade, seus campeões políticos reconfiguraram não apenas a economia oficial, como também a política, a reprodução social e nossas relações com a natureza não humana. Eles reestruturaram as formas anteriores de exploração de classe e de opressão de gênero e de raça. Reinventando aquelas hierarquias, eles frequentemente puderam canalizar as energias de rebelião, incluindo as energias feministas em apoio ao novo status quo.
Este processo repetir-se-á? As elites dominantes atuais aparentam ser especialmente perigosas. Focadas em lucros de curto prazo, elas parecem dispostas a não avaliar não apenas a profundidade da crise, mas a ameaça que apresentam para a saúde de longo prazo do próprio sistema. Elas preferem perfurar em busca de óleo para o aqui e o agora em vez de garantir as precondições ecológicas para seus próprios lucros futuros. Como resultado, a crise que confrontamos hoje é uma crise da vida tal como a conhecemos. A luta para resolvê-la apresenta as questões mais fundamentais da organização social. Onde desenhar a linha que delimita a economia da sociedade, a sociedade da natureza, a produção da reprodução e o trabalho da família? Como utilizar o excedente social que nós produzimos coletivamente? E como deveríamos decidir estas questões? Resta saber se os geradores de lucros conseguirão transformar as contradições sociais do capitalismo em novas oportunidades de acumulação de riqueza privada, cooptando vertentes do feminismo, mesmo quando reorganizam a hierarquia de gênero – ou se a revolta de massas, com as feministas na linha de frente, irá, como posto por Walter Benjamin, “acionar o freio de emergência”.
TESE V
A opressão de gênero em sociedades capitalistas esta enraizada na subordinação da reprodução social para a produção de lucro. Nós queremos colocar as coisas no lado certo.
Muitas pessoas sabem que as sociedades capitalistas são por definição sociedades de classe, que permitem uma pequena minoria acumular lucros privados através da exploração do maior grupo de pessoas que precisa trabalhar em troca de salários. O que é muito menos entendido é que elas também são fontes de opressão de gênero, tendo o sexismo fortemente arraigado em suas estruturas. O capitalismo não inventou a subordinação das mulheres, que existia em modos diferentes em todas as sociedades de classes anteriores. Mas o capitalismo estabeleceu novas e distintivas formas de sexismo, apoiadas por novas estruturas institucionais. A inovação chave foi separar a produção das pessoas da produção de lucro, dando o primeiro trabalho às mulheres, e o subordinando ao segundo.
A perversão fica clara quando nós lembramos quão vital e complexo o trabalho de produzir pessoas é atualmente. Essa atividade não apenas cria e sustenta a vida humana no sentido biológico; ela também cria e sustenta nossa capacidade de trabalho – o que Marx chamou de “força de trabalho”. E isso significa moldar pessoas com atitudes, disposições, valores, habilidades, competências e destrezas “certas”. Tudo dito, o trabalho de produzir pessoas fornece algumas precondições fundamentais – material, cultura, social – para a sociedade humana em geral e para a produção capitalista em particular. Sem isso, nem a vida nem a força de trabalho podem ser incorporadas nos seres humanos. Nós chamamos esse vasto corpo de atividade vital de reprodução social.
Nas sociedades capitalistas, a importância crucial da reprodução social está disfarçada e desautorizada. A produção de pessoas é tratada como um mero meio para a produção de lucro. Porque o capital evita pagar por esse trabalho o tanto quanto ele pode, enquanto trata o dinheiro como o fim de tudo, ele relega àqueles que o executam a uma posição subordinada relativa não apenas aos donos do capital, mas também àqueles trabalhadores assalariados mais privilegiados que podem descarregar a responsabilidade para os outros. Esses “outros” são normalmente mulheres. Nas sociedades contemporâneas, a reprodução social tem gênero – atribuída ou associada às mulheres. Sua organização depende dos papeis de gênero e engendra a opressão de gênero.
A reprodução social é, portanto, uma questão feminista. Mas é também atingida por questões de classe, raça, sexualidade e nação. Um feminismo disposto a resolver a atual crise deve entender a reprodução social através de uma perspectiva que compreende, e conecta, esses diferentes eixos de dominação. As sociedades capitalistas por muito tempo instituíram divisões raciais do trabalho reprodutivo. Seja através do colonialismo escravista, apartheid ou do neoimperialismo, esse sistema coagiu mulheres racializadas para prover esse trabalho gratuitamente ou a preços baixos para as etnias majoritárias ou suas “irmãs” brancas. Forçadas a cuidar das crianças e das casas de senhoras ou de empregadores, elas tiveram que lutar o máximo possível para cuidar de suas próprias.
O caráter de classe da reprodução social é fundamental. A acumulação do capital depende tanto quanto das relações sociais que produz e reabastece o trabalho quanto daquelas que diretamente o exploram. A classe, em outras palavras, não é “meramente econômica”. Ela é feita de pessoas concretas, de suas comunidades, habitats e condições de vida, suas experiências, laços sociais e história. Todos produzidos e reproduzidos por atividades que transcendem em muito o econômico – não apenas relações de produção, mas também relações de reprodução social. A classe trabalhadora global não compreende apenas aqueles que trabalham em troca de salário nas fábricas ou nas minas; ela também inclui aqueles que trabalham nos campos e nas casas particulares; nos escritórios, hotéis, restaurantes, hospitais, enfermarias e escolas; o precariado, os desempregados e aqueles que não recebem pagamentos em troca de seu trabalho. Da mesma forma, a luta de classes não é apenas sobre ganhos econômicos no local de trabalho, ela inclui lutas a respeito da reprodução social. Enquanto essas sempre foram centrais, as lutas pela reprodução social são especialmente explosivas nos dias de hoje, enquanto que o neoliberalismo requer mais horas de trabalho pago por agregado familiar enquanto retira suporte estatal para o bem-estar social, das famílias endividadas, das comunidades e, sobretudo, das mulheres em pontos de ruptura. Sob essas condições, as lutas pela reprodução social se moveram para um lugar central, com o potencial de alterar as raízes e ramificações sociais.
TESE VI
A violência de gênero toma muitas formas, todas elas emaranhadas em relações sociais capitalistas. Nós juramos lutar contra todas elas
Pesquisadores estimam que uma em cada três mulheres, globalmente, irão sofrer alguma forma de violência de gênero no decurso de suas vidas. Muitos de seus perpetradores são parceiros íntimos, que são responsáveis por 38 por cento dos assassinatos de mulheres. Violências físicas, emocionais, sexuais, ou as três combinadas, de parceiros íntimos são encontradas em todos os países, classes e grupos étnicos. Enraizados nas dinâmicas contraditórias da família e da vida pessoal, e assim na característica capitalística da divisão entre produção de pessoas e produção de lucro, ela reflete a mudança dos lares, antes baseados em laços de parentesco estendidos, no qual senhores homens detinham o poder da vida e da morte sobre seus dependentes, à família nuclear restrita e heterossexual da modernidade capitalista, que atribui um direito atenuado de mando nos homens “menores” que encabeçam famílias menores. Essa mudança mudou o caráter da violência de gênero baseada no parentesco. O que era antes abertamente político se torna agora “privado”: mais informal e psicológico – consequentemente, menos “racional”, sancionado e controlado socialmente. Muitas vezes permeada a álcool, vergonha e ansiedade em manter a violência, esse tipo de violência de gênero se torna especialmente virulenta e perversa em tempos de crise. Quando a ansiedade de status, a precariedade econômica e a incerteza política se mostram crescentes, a ordem de gênero, também, parece estremecer. Alguns homens presenciam as mulheres como estando “fora do controle”, suas casas “desordenadas”, suas crianças “selvagens”. Seus chefes são implacáveis, seus colaboradores injustamente favorecidos, seus empregos em risco. Suas proezas sexuais e seus poderes de sedução estão em dúvida. Sua masculinidade ameaçada, eles explodem.
Nem toda violência de gênero toma essa forma aparentemente “irracional”. Outras formas são também todas “racionais”: a instrumentalização de estupros de mulheres colonizadas e escravizadas para aterrorizar comunidades de cor e forçar sua dominação; a estupro reiterado de trabalhadoras do sexo por traficantes e cafetões para “quebrá-las”; o estupro coordenado em massa de mulheres “inimigas” como armas de guerra; e não menos importante, a prevalência de assédio no trabalho e na escola. No último caso, os perpetradores detêm poder público institucional sobre aquelas que eles atacam. Eles podem comandar serviços sexuais, e é isso que fazem. Aqui, a raiz é a vulnerabilidade econômica, profissional, política e racial das mulheres, nossa dependência ao pagamento, à indicação de referência, à vontade do empregador ou do capataz em não perguntar sobre o status de imigração. O que permite essa violência é o sistema de poder hierárquico que funde gênero, raça e classe.
Essas duas formas de violência de gênero compartilham uma base estrutural comum na sociedade capitalista. O que está subjacente às duas é a divisão – e calibração mútua – entre a produção de mercadorias, para o lucro, e a reprodução social, para o “amor”. O nexo de gênero que atribui o trabalho reprodutivo esmagadoramente à mulher nos coloca em desvantagem vis-à-vis os homens no mundo do trabalho reprodutivo, enquanto que nós caímos em empregos sem saída que não pagam o suficiente para sustentar uma família. O primeiro beneficiário é o capital, mas seu efeito é nos render duplamente sujeito à violação – nas mãos de familiares e pessoas íntimas, de um lado, e de aplicadores e facilitadores do capital, do outro.
Uma resposta feminista comum à violência de gênero é a demanda por criminalização e punição. Essa espécie de “feminismo carcerário” toma como certo precisamente o que precisa ser colocado em questão: que a lei, a polícia e as cortes são suficientemente autônomas à estrutura de poder capitalista para conter sua tendência profundamente arraigada de gerar e tolerar violências de gênero. Na verdade, o sistema criminal de justiça mira desproporcionalmente homens de cor pobres e da classe trabalhadora, incluindo migrantes, enquanto que comumente deixa seus homólogos de colarinho branco livres. Da mesma forma, campanhas anti-tráfico e leis contra a “escravidão sexual” são muitas vezes utilizadas para deportar mulheres, enquanto que seus estupradores e beneficiadores permanecem em liberdade. Igualmente importante, a resposta carcerária negligencia a necessidade de opções de saída. Leis que criminalizam estupro marital ou violações nos locais de trabalho não ajudarão mulheres. Soluções baseadas no mercado – promovendo a independência econômica das mulheres através de microempréstimos – pouco ajudam as mulheres a ganhar autonomia real dos homens em suas famílias, enquanto que aumentam sua dependência aos credores.
Nós rejeitamos tanto o feminismo carcerário quanto a abordagem liberal de mercado. A violência sexual sob o capitalismo não é uma perturbação da ordem regular das coisas, mas uma parte constitutiva dela – uma condição sistêmica, não um problema criminal ou interpessoal. Ela não pode ser entendida em isolamento da violência biopolítica das leis que nega a liberdade reprodutiva, da violência econômica do mercado, da violência estatal da polícia e dos guardas de fronteira, da violência interestatal dos exércitos imperiais, da violência simbólica da cultura capitalista e da lenta violência circundante que corrói nossos corpos, comunidades e habitats. Em zonas de processamento de exportação e outros setores que dependem muito de trabalhadoras mulheres, a violência de gênero é comumente implantada como uma ferramenta de disciplina do trabalho: gerentes se valem de estupro, abuso verbal e humilhação corporal para impor aumentos de velocidade e esmagar a organização do trabalho. Essas dinâmicas pioraram durante o período atual de crise capitalista, enquanto que os governos cortaram financiamentos públicos, mercantilizaram serviços públicos e familiarizaram a responsabilidade pelo cuidado. Nessas circunstâncias, advertências reiteradas para serem uma mãe “boa” ou uma esposa “boa” podem cair em justificativas à violência contra aquelas que falham em se conformar aos papeis de gênero.
A violência de gênero tem raízes estruturais profundamente arraigadas em uma ordem social que entrelaça a subordinação da mulher à organização de gênero do trabalho e à dinâmica da acumulação capitalista. Nessa perspectiva, o movimento Me Too representa uma forma de luta de classes. Como notado pelos trabalhadores rurais imigrantes que deram a primeira manifestação de solidariedade às mulheres do show business, Harvey Weinstein não era um simples predador, mas um chefe poderoso, capaz de dedicar quem iria trabalhar em Hollywood e quem não iria.
A violência em todas suas formas é parte integrante da sociedade capitalista, que se sustenta através de uma mistura de coerção e consenso construído. Uma forma de violência não pode ser interrompida sem acabar com as demais. Comprometidas a erradicar todas elas, as mulheres feministas grevistas conectam sua luta contra a violência sexual à luta contra todas as formas de violência na sociedade capitalista – e contra o sistema que as suporta.
TESE VII
O capitalismo tenta regular a sexualidade. Nós queremos libertá-la.
À primeira vista, as lutas ao redor da sexualidade hoje apresentam uma escolha inequívoca. De um lado, as forças de reação procuram banir práticas sexuais que violam os valores da família ou a lei divina, com ameaças aos “adúlteros” de pedra, açoitar lésbicas ou submeter gays à terapia conversiva. Do outro, o liberalismo luta pelos direitos legais de dissidentes sexuais e minorias, pelo reconhecimento de relações que já foram tabus, igualdade de casamento e direitos LGBTQ+ dentro das forças armadas. Enquanto os reacionários buscam reabilitar arcaísmos regressivos – patriarcado, homofobia, repressão sexual – os liberais apoiam a modernidade: liberdade individual, autoexpressão, diversidade sexual.
Contudo, nenhum lado é o que aparece. Hoje, o autoritarismo sexual é qualquer coisa menos arcaico. A proibição que ele procura impor são respostas neotradicionais ao desenvolvimento capitalista, incluindo o neoliberalismo. Sob o mesmo símbolo, os direitos sexuais que o liberalismo promove são concebidos em termos que pressupõe formas capitalistas de modernidade – ao mesmo tempo normalizadoras e consumistas.
As sociedades capitalistas sempre tentaram organizar a sexualidade. Antes das relações capitalistas serem penetrantemente estabelecidas, as autoridades pré-existentes – especialmente igrejas e comunidades – foram encarregadas de estabelecer e reforçar as normas que distinguiam o sexo aceitável do sexo pecaminoso. Depois, enquanto o capitalismo procedia para remodelar o conjunto da sociedade, ele incubou novas formas e modos burgueses de regulação, incluindo o binarismo de gênero e a heteronormatividade sancionados pelo Estado. Essas normas “modernas” foram amplamente difundidas – pelo colonialismo, pela a cultura de massas e pelo critério do direito à provisão social baseada na família. Mas elas não foram incontestadas. Ao contrário, elas colidiram tanto com regimes sexuais antigos e com novas aspirações por liberdade sexual, que encontraram expressão em subculturas gays e lésbicas e em meios de vanguarda.
Desenvolvimentos posteriores reestruturaram essa configuração. Normas burguesas foram suavizadas enquanto que a corrente libertária se tornou a principal, e as facções dominantes se uniram em um novo projeto: normalizar práticas sexuais que haviam sido tabu dentro de uma zona de regulação estatal expandida, em formas amigáveis ao capital que encorajavam o individualismo, a domesticidade e o consumo de mercadorias. Por trás dessa reconfiguração está uma mudança na natureza do capitalismo. Cada vez mais financeirizado, desterritorializado e desfamiliarizado, o capital não é mais um opositor implacável a formações queer e formações de gênero e sexo não-cis. Grandes empresas permitem agora a seus empregados viverem fora de famílias heterossexuais – desde que eles se mantenham na linha no shopping em seus locais de trabalho.
Esse é o contexto das lutas atuais ao redor da sexualidade. É o momento de um aumento da fluidez de gênero entre os jovens, crescentes movimentos queer e feministas e de vitórias legais significantes. Igualdade formal de gênero, direitos LGBTQ+ e igualdade de casamento são agora garantidos por lei em muitos países. Resultado de batalhas duras, essas vitórias também refletem mudanças sociais e culturais associadas ao neoliberalismo. Contudo, elas são inerentemente frágeis. Novos direitos legais não acabam com os ataques à população LGBTQ+, que continuam a sofrer violência sexual e de gênero, falta de reconhecimento simbólico e discriminação social. O capitalismo financeirizado está ele mesmo alimentando uma reação sexual: populistas de direita podem identificar desvantagens reais da modernidade capitalista, incluindo os fracassos em proteger a “sua” família e comunidade contra as devastações do mercado. Mas a sua mudança legitima queixas para promover o tipo de oposição que o capital pode pagar. É um modo de “proteção” que se centra na liberdade sexual, enquanto obscurece a ameaça do próprio capital.
Reações sexuais encontram sua imagem espelhada no liberalismo sexual, o qual – mesmo nos melhores cenários – está relacionado a estruturas que privam a maioria das pessoas dos pré-requisitos materiais necessários para realizar suas liberdades formais. Elas também dependem de regimes regulatórios que normalizam a família monogâmica, o preço de aceitação para gays e lésbicas. Buscando valorizar a liberdade individual, o liberalismo sexual deixa as condições estruturais que alimentam a homofobia e a transfobia incontestadas, incluindo o papel da família na reprodução social. Novas culturas heterossexuais, baseadas em conexões e namoros online, incitam as jovens mulheres a “possuir” sua sexualidade, mas continua a taxá-las por suas aparências e pressionam as meninas a agradar aos meninos, licenciado o egoísmo sexual masculino na moda capitalista exemplar. Novas formas de “normalidade gay” pressupõe a normalidade capitalista, com a aparência da classe média gay definida por seus modos de consumo e reivindicações por respeitabilidade. Sua existência é invocada como o sinal da “tolerância ocidental iluminada” para legitimar projetos neoliberais. Por exemplo, as agências israelenses citam sua cultura “gay-friendly” superior para justificar a subjugação dos palestinos “homofóbicos e atrasados”, enquanto os liberais europeus invocam isso como fundamento para a islamfobia.
As feministas para os 99 por cento recusam a jogar esse jogo. Rejeitando tanto a cooptação neoliberal e a homofobia e misoginia neotradicional, nós querermos reviver o espírito radical de Stonewaal, das correntes do feminismo do “sexo-positivo” desde Alexandra Kollontai até Gayle Rubin, e da histórica campanha gay e lésbica de apoio à greve dos trabalhadores mineiros do Reio Unido. Nós lutamos para libertar a sexualidade da procriação e de formas normativas, mas também das deformações do consumismo. Isso demanda uma nova e não capitalista ordem social que vai assegurar a base material da libertação sexual, incluindo generoso suporte público para a reprodução social, redesenhado para mais amplo número de famílias e associações pessoais.
TESE VIII
O capitalismo nasceu entre a violência racista e colonial. O feminismo para os 99% é antirracista e anti-imperialista.
Hoje, como em momentos anteriores de crise capitalista, a “raça” se tornou uma questão candente. Os etno-nacionalismos agressivos deixam de ser silenciosos para se transformar em gritarias a plenos pulmões do supremacismo branco. Os governos centristas juntam-se aos seus homólogos racistas para bloquear a entrada de migrantes e refugiados, sequestrar os seus filhos e separar suas famílias, ou deixá-los afogar-se no mar. As forças policiais continuam a assassinar impunemente pessoas de minorias étnicas, enquanto os tribunais prendem-nas em número recorde. Alguns tentam contra-atacar, recorrendo-se à força para protestar contra a violência policial contra os negros e contra as demonstrações de força por parte dos supremacistas brancos. Nos EUA, alguns estão lutando para dar novo significado ao termo “abolição”, exigindo o fim do encarceramento e a eliminação do ICE, a agência de Imigração e Fiscalização Aduaneira consolidada sob o Departamento de Segurança Interna de Bush.
Nesta situação, as feministas, como
todas as outras pessoas, devem tomar partido. Historicamente, no entanto, o
registro feminista na abordagem da raça tem sido, na melhor das hipóteses,
misto. As influentes sufragistas brancas dos EUA fizeram declarações racistas
depois da Guerra Civil, quando aos negros foi concedido o direito de voto e
eles não foram votar. Até o século XX, as principais feministas britânicas
defenderam o domínio colonial na Índia por razões “civilizacionais”,
para “levantar as mulheres indianas de sua condição humilde”. As
feministas europeias proeminentes justificam hoje em dia políticas
antimuçulmanas com termos semelhantes. Mesmo quando não intencionalmente
racistas, as feministas liberais e radicais definiram “sexismo” e
“questões de gênero” com formas que universalizam falsamente a
situação das mulheres brancas de classe média. Abstraindo o gênero da raça e da
classe, elas proclamaram a necessidade das mulheres de escapar da domesticidade
e “sair para o trabalho”, como se todas nos EUA fossem donas de casa
suburbanas brancas. Seguindo a mesma lógica, as principais feministas nos EUA
insistiram que as mulheres negras só poderiam ser verdadeiramente feministas se
priorizassem uma irmandade não racial imaginada por cima da solidariedade antirracista
com os homens negros.
Graças a décadas de determinação das feministas não brancas, tais pontos de vista são cada vez mais vistos pelo que de fato são e rejeitados por um número crescente de feministas de todas as etnias. Reconhecendo esta vergonhosa história, resolvemos romper decisivamente com ela. Entendemos que nada que mereça o nome de “liberação da mulher” pode ser alcançado numa sociedade racista e imperialista. Mas também entendemos que a raiz do problema é o capitalismo: o racismo e o imperialismo não são incidentais, mas integrais. Um sistema que se orgulha do trabalho livre e do contrato salarial se baseou desde o princípio do saqueio colonial violento, na “caça colonial de peles negras” na África e seu recrutamento forçoso na escravidão do Novo Mundo. A expropriação racial dos povos não livres ou dependentes tem servido desde então como condição oculta para a exploração rentável do trabalho livre. Essa distinção tem assumido diferentes formas ao longo da história do capitalismo: a escravidão, o colonialismo, o apartheid e a divisão do trabalho entre países. Mas em cada fase coincidiu, de forma aproximada, mas inequívoca, com a linha de cor global. Também em cada fase, a depredação imperialista permitiu ao capital aumentar seus ganhos, assegurando o acesso aos recursos humanos e às capacidades humanas por cuja reprodução não paga. O capitalismo criou classes de seres humanos racializados, cujas pessoas e trabalho estão desvalorizados e submetidos à expropriação. Um feminismo verdadeiramente antirracista e anti-imperialista também deve ser anticapitalista.
Essa proposição não poderia ser mais relevante hoje em dia, quando o capitalismo financeiro promove a opressão racial através da despossessão por dívidas. No Sul Global, a usurpação de térreas por parte das empresas em decorrência da cobrança de dívidas expulsa os povos indígenas e tribais de suas terras, enquanto o ajuste estrutural do FMI reduz drasticamente os investimentos sociais e condena as futuras gerações a trabalhar arduamente para pagar os credores globais. Desta maneira, a expropriação racial continua em paralelo com o aumento da exploração, impulsionada pela relocalização da indústria manufatureira para o Sul Global. No Norte, à medida que o trabalho de serviços precários substitui o trabalho industrial sindicalizado, os salários caem para níveis abaixo do custo de vida e os trabalhadores são alvo de empréstimos consignados hiperexpropriativos, a expropriação racial continua a ritmo intenso. Também neste caso, os ingressos fiscais que antes se destinavam à infraestrutura pública são desviados para o serviço da dívida, com efeitos desastrosos para as comunidades de minorias étnicas, que também estão profundamente influenciadas pelo gênero.
Nesta situação, as proclamações abstratas de fraternidade global são contraproducentes. Ao tratar o objetivo de um processo político como se já estivesse dado desde o princípio, transmitem uma falsa impressão de homogeneidade. A realidade é que, embora soframos a opressão misógina na sociedade capitalista, nossa opressão assume formas diferentes. Os vínculos entre estas formas de opressão devem ser revelados politicamente, através de esforços conscientes para construir a solidariedade. Somente assim, lutando em e através de nossa diversidade, poderemos alcançar o poder combinado necessário para transformar a sociedade.
TESE IX
Lutando para reverter a destruição capitalista da Terra, nosso feminismo é ecossocialista.
A crise atual do capitalismo também é ecológica. Como temos argumentado, o capitalismo está preparado para expropriar a natureza sem levar em conta a reposição, e periodicamente desestabiliza suas próprias condições ecológicas de possibilidade, esgotando o solo, exaurindo a riqueza mineral, envenenando a água e o ar. A mudança climática é hoje o resultado do recurso do capital à energia fossilizada para alimentar suas fábricas. Não foi a humanidade em geral, mas o capital quem extraiu os depósitos carbonizados, formado sob a crosta terrestre durante centenas de milhares de anos, e os consumiu num abrir e fechar de olhos. A substituição do carvão pelo petróleo, e depois pelo gás natural e pelo fracking, aumentou as emissões de carbono enquanto descarregaram desproporcionalmente as “externalidades” sobre as comunidades pobres, tudo em busca do lucro.
As mulheres ocupam a linha de frente da atual crise ecológica, constituindo 80 por cento dos refugiados climáticos. No Sul Global, elas constituem a maioria da força de trabalho rural e suportam o fardo do trabalho social e reprodutivo. Devido ao seu papel fundamental no fornecimento de alimentos, vestuário e abrigo, suportam o peso da seca, da poluição e da exploração excessiva da terra. As mulheres pobres não brancas no Norte Global também são desproporcionalmente vulneráveis ao racismo ambiental, constituindo a espinha dorsal das comunidades sujeitas a inundações e envenenamento por chumbo.
As mulheres também estão na vanguarda das lutas contra a mudança climática e a poluição: a luta dos Protetores da Água contra o Dakota Access Pipeline nos Estados Unidos; a bem-sucedida batalha da Máxima Acuña peruana contra a gigante da mineração Newmont; a batalha das mulheres Garhwali no norte da Índia contra a construção de três hidrelétricas; e as inúmeras lutas em todo o mundo contra a privatização da água e das sementes, e pela preservação da biodiversidade e da agricultura sustentável. Estas são novas formas de luta que desafiam a tendência do ambientalismo dominante de opor a defesa da “natureza” ao bem-estar material das comunidades humanas. Recusando-se a separar as questões ecológicas das questões de reprodução social, esses movimentos liderados por mulheres representam uma poderosa alternativa anticorporativa e anticapitalista aos projetos “verde-capitalistas” que promovem o comércio especulativo de licenças de emissão, compensações de carbono e derivados ambientais. Em vez disso, eles se concentram no mundo real, no qual a justiça social, o bem-estar das comunidades humanas e a sustentabilidade da natureza não-humana estão inextricavelmente ligados entre si. A libertação das mulheres e a preservação de nosso planeta do desastre ecológico andam de mãos dadas.
TESE X
O capitalismo é incompatível com democracia real e a paz. Nossa resposta é o internacionalismo feminista.
A crise de hoje é também política. Capturadas pelo poder corporativo e sangradas pela dívida, as instituições políticas dançam cada vez mais ao som de bancos centrais e investidores internacionais, magnatas da energia e especuladores de guerra. A crise política também está enraizada na estrutura institucional da sociedade capitalista. O capitalismo divide o político do econômico, a violência legítima do Estado da compulsão silenciosa do mercado. O efeito é declarar vastas faixas da vida social fora dos limites do controle democrático, entregando-as à dominação corporativa. Por sua estrutura, o sistema nos priva da capacidade de decidir coletivamente o que e quanto produzir, como organizar o trabalho de reprodução social. O capitalismo, em suma, é fundamentalmente antidemocrático. Ele necessariamente gera uma geografia mundial imperialista, permitindo a Estados mais poderosos atacar os mais fracos, esmagando-os com dívidas.
O capital em todos os lugares se liberta do poder público, valendo-se de regimes legais que garantem a propriedade privada, forças repressivas que suprimem a oposição e agências reguladoras encarregadas de administrar a crise. Ao mesmo tempo, a sede de lucro periodicamente tenta algumas facções da classe capitalista a se rebelarem contra o poder público, como inferior ao mercado. Nesses casos, quando os interesses de curto prazo triunfam sobre a sobrevivência a longo prazo, o capital é como um tigre que come a sua própria cauda. Hoje, a tendência do capitalismo de gerar crise política chegou a um novo patamar. Os regimes neoliberais empunham a arma da dívida como alvo de quaisquer forças políticas que possam desafiar seu programa – anular os votos populares massivos que rejeitam a austeridade, como na Grécia, por exemplo.
As mulheres são mais uma vez grandes vítimas desta crise e atores centrais na luta pela democracia e pela paz. Para nós, porém, a solução não é apenas instalar mais mulheres nas cidadelas do poder. Tendo sido excluídas há muito da esfera pública, tivemos de lutar com unhas e dentes para sermos ouvidas em assuntos que são rotineiramente classificados como “privados”. Muitas vezes, porém, as nossas reivindicações são vocalizadas por progressistas de elite, tal como “ventrílocas”, que as formatam em termos favoráveis ao capital. Somos convidadas a votar em políticas mulheres e a celebrar a sua ascensão ao poder, como se fosse um golpe a favor de nossa libertação. Mas para nós não há nada de feminista nas mulheres que facilitam o trabalho de bombardear outros países e apoiar intervenções neocoloniais em nome do humanitarismo, enquanto permanecem em silêncio sobre os genocídios perpetrados por seus próprios governos. As mulheres são as primeiras vítimas da guerra e da ocupação imperial em todo o mundo. Enfrentam o assédio sistemático, o assassinato e a mutilação dos seus entes queridos e a destruição das infraestruturas que lhes permitiram sustentar-se a si próprias e às suas famílias. Somos solidários com elas. Àqueles que pretendem justificar o seu belicismo com a pretensão de libertar as mulheres não-brancas, dizemos: “Não em nosso nome”.
Tese XI
O feminismo para os 99% convoca todos os movimentos radicais a se juntar numa insurgência anticapitalista.
Como feministas, não operamos isoladas de outros movimentos de resistência e rebelião. Não nos distanciamos das batalhas contra a mudança climática ou a exploração no local de trabalho, nem nos distanciamos das lutas contra o racismo institucional e a desapropriação. Estas são nossas lutas, parte integrante da luta para desmantelar o capitalismo, sem o qual não pode haver fim para a opressão sexual e de gênero. Para nós, o resultado é claro: o novo feminismo deve unir forças com outros movimentos anticapitalistas em todo o mundo – com movimentos e sindicatos ambientalistas, antirracistas, anti-imperialistas e LGBTQ+ e, sobretudo, com as suas correntes anticapitalistas.
Recusando as opções políticas que o capital nos apresenta, rejeitamos tanto o populismo reacionário como o neoliberalismo progressista. Queremos dividir a aliança neoliberal progressista: separar a massa de mulheres menos privilegiadas, imigrantes e pessoas não brancas das feministas empresariais, dos antirracistas e anti-homofóbicos meritocráticos, da diversidade corporativa e dos capitalistas verdes que tentaram sequestrar as suas demandas para deformá-las em termos coerentes com o neoliberalismo. Queremos também dividir o bloco populista reacionário: separar as comunidades operárias das forças que promovem o militarismo, a xenofobia e o etnonacionalismo, que, se apresentando como defensores do “homem comum”, são criptoneoliberais. Desta forma, buscamos construir uma força anticapitalista suficientemente grande e poderosa para transformar a sociedade.
A luta é uma oportunidade e uma escola. Ela pode transformar aqueles que participam dela, desafiando nossas autocompreensões anteriores e reformulando nossa visão do mundo. Pode aprofundar nossa compreensão de nossa própria opressão – o que a causa, quem se beneficia, o que deve ser feito para superá-la. A experiência da luta também pode nos levar a reinterpretar nossos interesses, renovar nossas esperanças, expandir nosso senso do possível. Pode induzir-nos a rever entendimentos prévios dos nossos aliados e inimigos. Pode ampliar o círculo de solidariedade entre os oprimidos e aguçar seu antagonismo com os opressores.
A palavra-chave aqui é o verbo “poder”. Tudo
depende da nossa capacidade de desenvolver uma perspectiva orientadora que não
celebre nem elimine as diferenças entre nós. Ao contrário das ideologias da
“multiplicidade” em voga, as várias opressões que sofremos não formam
uma pluralidade incipiente. Embora cada uma tenha suas próprias formas e características
distintas, todas estão enraizadas e reforçadas pelo mesmo sistema social. É
nomeando esse sistema como capitalismo e unindo-nos para lutar contra ele que
melhor podemos superar as divisões entre nós que o capital cultiva – divisões
de cultura, raça, etnia, capacidade, sexualidade e gênero. Mas o capitalismo
deve ser bem compreendido. O trabalho assalariado industrial não é a soma total
da classe trabalhadora; nem a sua exploração é a totalidade e o fim da
dominação capitalista. Insistir na primazia desse estrato não é fomentar, mas
enfraquecer a solidariedade de classes, que melhor se desenvolve com o
reconhecimento recíproco de nossas diferentes situações estruturais,
experiências e sofrimentos; de nossas necessidades, desejos e demandas
específicas; das variadas formas organizacionais através das quais podemos
alcançá-las. O feminismo pelo qual lutamos busca superar as velhas oposições
entre política de identidade e política de classes. Rejeitando o quadro de soma
zero que o capitalismo constrói para nós, as feministas para os 99% visam unir
os movimentos existentes e futuros em uma ampla insurgência global.
[1] N.T.: No original em inglês, “lean in”, uma referência ao livro de Sandberg que leva esse nome.