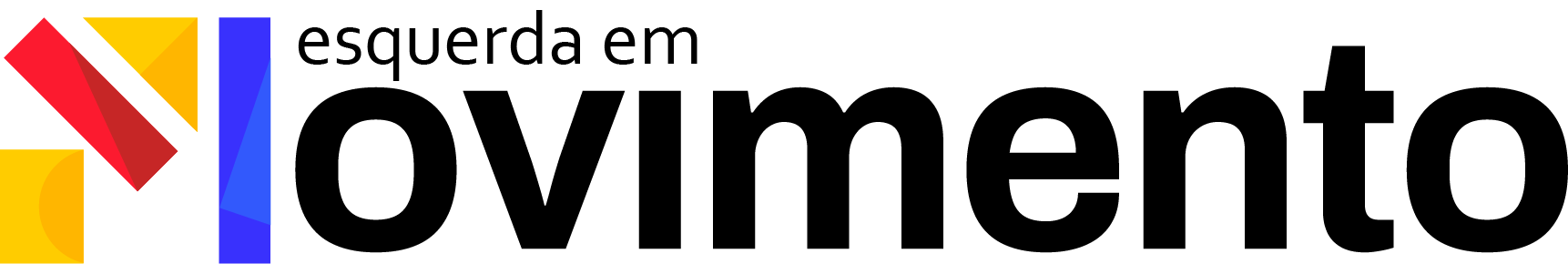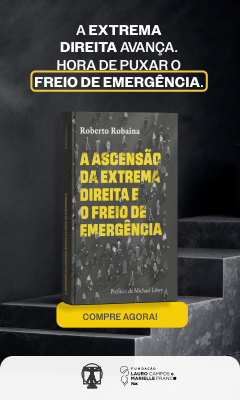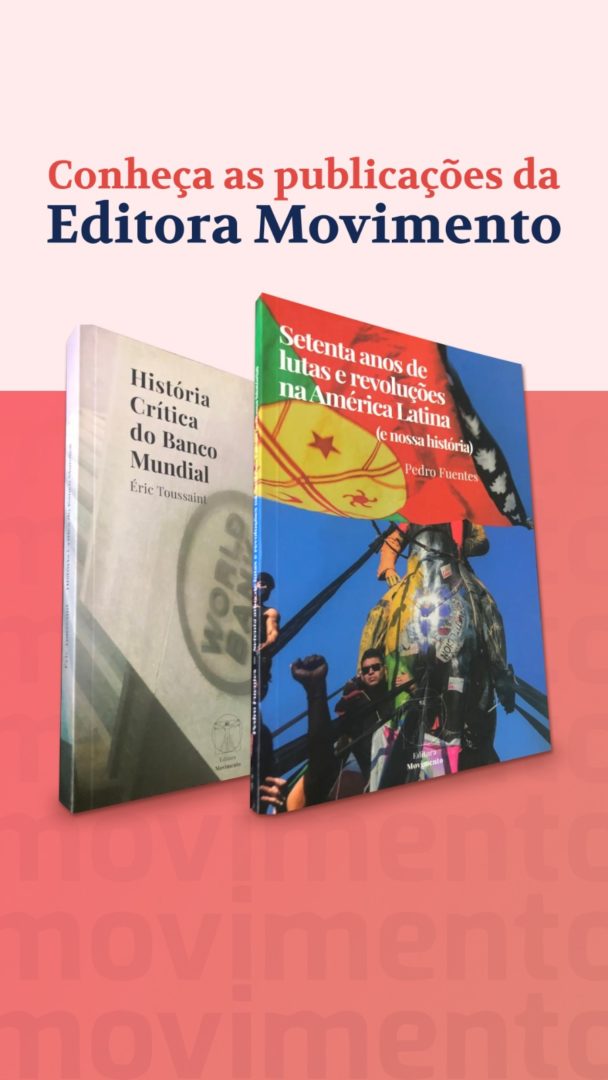A transição verde é um mito
Entrevista com o acadêmico marxista Adam Hanieh sobre a contínua centralidade do petróleo no capitalismo
Foto: Complexo petroleiro no Brasil. (VAI/Reprodução)
Via LINKS
Muitos livros vitais de esquerda sobre a política global do petróleo foram publicados nos últimos 15 anos ou mais: Space, Oil and Capital, de Mazen Labban, Carbon Democracy, de Timothy Mitchell, Lifeblood, de Matt Huber, e Burning Up, de Simon Pirani. Talvez nenhum tenha fornecido uma análise tão abrangente e sintética quanto Crude Capitalism: Oil, Corporate Power, and the Making of the World Market, de Adam Hanieh, publicado pela Verso em setembro.
Em Crude Capitalism, Hanieh – professor de economia política e desenvolvimento global no Instituto de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade de Exeter – oferece uma visão geral altamente legível do setor petrolífero, que vai do final do século XIX até os dias atuais, parando ao longo do caminho para mergulhar profundamente em tópicos que vão desde a economia fóssil da União Soviética, a ascensão da OPEP e a promessa fracassada das chamadas “soluções de baixo carbono”.
Particularmente útil é a ênfase do livro em petroquímicos e empresas nacionais de petróleo, incluindo seu relacionamento entrelaçado no Oriente Médio e no Leste Asiático, especialmente na China. Hanieh argumenta que essa dinâmica ajuda a explicar o apoio contínuo dos Estados Unidos a Israel, com o poder sobre os produtores de petróleo do Oriente Médio sendo usado como uma alavanca fundamental para repelir a crescente influência global da China.
James Wilt, do website Canadian Dimension, conversou com Hanieh.
Muitos leitores da Canadian Dimension estão familiarizados com o choque do petróleo de 1973, quando os produtores da OPEP afirmaram ter maior controle sobre o preço e a produção de petróleo. Provavelmente muito menos conhecido, mas igualmente importante, é o subsequente excesso de petróleo e o “contra-choque” da década de 1980. Você poderia explicar esse período de estagnação e queda livre do preço do petróleo e como ele preparou o cenário para a recuperação do setor nos anos 2000?
É importante entender melhor esse período, que muitas vezes é ignorado nas discussões atuais sobre petróleo e combustíveis fósseis de forma mais ampla. O ponto de partida é o mercado mundial e sua dinâmica no final da década de 1970 e início da década de 1980, após o fim do boom econômico do pós-guerra. Esse foi um momento de grande crise econômica e de reorganização da economia mundial, e isso estava profundamente ligado ao que acontecia com o petróleo naquela época.
Uma parte disso foi o “choque Volcker”, um momento crucial em 1980, quando Paul Volcker, então presidente do Federal Reserve, aumentou as taxas de juros dos EUA para mais de 20%. Ele fez isso para criar uma recessão com o objetivo de interromper a inflação dos EUA e fortalecer o dólar americano em relação a outras moedas. Isso desencadeou uma recessão global entre 1980 e 1982, que foi a recessão mais profunda desde a Segunda Guerra Mundial. Por sua vez, isso significou uma contração na atividade econômica e, portanto, uma enorme queda no consumo de petróleo. Portanto, houve uma queda de cerca de 10% no consumo de petróleo entre 1979 e 1983. Não é amplamente reconhecido que essa foi, na verdade, a maior queda na demanda de petróleo da história. Foi ainda maior do que durante a pandemia da COVID.
A segunda dinâmica, juntamente com essa recessão global, foi uma diversidade cada vez maior nas regiões geográficas da produção de petróleo. Novas reservas de petróleo surgiram na década de 1970 e no início da década de 1980, principalmente no Mar do Norte e no México, e a União Soviética ainda estava produzindo quantidades significativas de petróleo. Portanto, concomitantemente à recessão global, também temos uma maior disponibilidade de suprimentos de petróleo fora dos países tradicionais da OPEP. Esse é o fornecimento não pertencente à OPEP.
Com o desenvolvimento dessas duas tendências, houve uma mudança estrutural realmente importante no setor petrolífero global relacionada à forma como o petróleo era precificado. Até o início da década de 1980, os preços do petróleo eram definidos no que é descrito como um sistema de “preços administrativos”. Na primeira parte do século XX, até a OPEP, eram as grandes supermaiores petrolíferas ocidentais que definiam o preço do petróleo. Essas empresas eram chamadas de “Sete Irmãs” – as antecessoras das atuais ExxonMobil, Shell, BP, Chevron e outras grandes empresas de petróleo. Elas controlavam o petróleo desde o momento da extração, passando pelo refino, até chegar à bomba de gasolina, com a maior parte do petróleo do mundo circulando em suas estruturas verticalmente integradas. Depois da criação da OPEP, os grandes produtores de petróleo – Arábia Saudita, Venezuela e Irã – passaram a ter muito mais influência sobre o preço do petróleo. Isso é o que se entende por precificação administrativa – aqueles que controlavam o suprimento de petróleo bruto definiam o preço pelo qual o petróleo era vendido.
Porém, no início da década de 1980, a capacidade da OPEP de controlar o preço do petróleo começou a diminuir. Em parte, porque havia novos suprimentos de petróleo entrando no mercado, como os do México e do Reino Unido no Mar do Norte. Também havia novos comerciantes de petróleo entrando em cena. Essas eram empresas privadas de comércio de commodities que compravam petróleo dos países produtores e depois o vendiam nos chamados mercados à vista, que são mercados financeiros onde contratos de curto prazo e preços em dinheiro podiam ser negociados para o petróleo entre compradores e vendedores, muitas vezes para transações únicas, em vez dos contratos de longo prazo que haviam sido firmados anteriormente com os grandes produtores da OPEP.
Portanto, estamos falando de três mudanças simultâneas. Uma é a queda econômica global, a crise do capitalismo mundial no início da década de 1980. Em segundo lugar, o aumento da oferta de petróleo e uma maior diversidade de produtores. E, em terceiro lugar, o surgimento de novos atores comprando e vendendo petróleo.
Há duas consequências principais dessas tendências que devem ser destacadas. A primeira é o próprio contra-choque, a grande queda no preço do petróleo que ocorreu entre 1985 e 1986, quando o preço do petróleo caiu cerca de 50%. Isso afetou todos os produtores de petróleo, mas teve um impacto particularmente grave na União Soviética, que dependia das vendas de petróleo para obter divisas. O colapso do preço do petróleo desempenhou um papel significativo na crise da economia política soviética no final da década de 1980, culminando com a eventual dissolução da URSS em 1991.
A segunda consequência desse contra-choque foi que ele realmente marcou o colapso do sistema de longa data de precificação administrativa do petróleo. Em seu lugar, surgiu um sistema de precificação de petróleo baseado no mercado, no qual os futuros de petróleo negociados nos mercados financeiros definem o preço do petróleo. Isso é o que temos hoje e é substancialmente autônomo – embora não separado – da produção física e do consumo de petróleo. A ligação entre o petróleo e os mercados financeiros desempenhou um papel importante no surgimento do que é frequentemente descrito como “financeirização”. Acho que é um problema que grande parte da discussão sobre o petróleo ocorra sem reconhecer essas mudanças nos mecanismos de precificação do petróleo – como se a década de 1980 nunca tivesse acontecido e ainda estivéssemos vivendo na década de 1960.
Na maioria das vezes, parece que essa linha foi amplamente desconsiderada pela esquerda. Por outro lado, seu trabalho argumenta que é vital que entendamos a singularidade material e a importância dos petroquímicos e como os plásticos estão sendo apresentados como o futuro da indústria do petróleo. Por que você acha que esse aspecto do consumo de petróleo tem sido subestimado com frequência e por que é importante compreendê-lo?
Um dos principais argumentos do livro é que precisamos romper com uma espécie de fetichismo da mercadoria quando pensamos em petróleo. O que quero dizer com isso é que precisamos situar o petróleo e o significado do petróleo, se preferir, nas várias lógicas do capitalismo, e não como algo inerente ao próprio petróleo. Se adotarmos essa abordagem, poderemos ver o petróleo além de seu papel como simples combustível líquido para transporte e rastrear como ele se tornou tão incorporado em uma enorme variedade de nossas vidas diárias. As finanças são um lado disso, mas o setor petroquímico/plástico é outro.
Essa transição para um mundo sintético começou em meados do século XX. E isso significou que produtos naturais como madeira, vidro, borracha natural e fertilizantes, e assim por diante, foram sistematicamente substituídos por produtos derivados do petróleo: plásticos, fibras sintéticas, fertilizantes sintéticos e outros tipos de produtos químicos derivados do petróleo. No livro, passo algum tempo explicando o que isso fez pelo capitalismo, inclusive possibilitando uma enorme expansão na quantidade e na diversidade de mercadorias que poderiam ser produzidas e consumidas, barateando a fabricação e reduzindo os custos de mão de obra e acelerando o tempo de rotação da circulação do capital. É claro que isso também trouxe consequências ecológicas desastrosas.
Esse momento foi fundamental para o surgimento do petróleo como o principal combustível fóssil do mundo, pois permitiu que o petróleo se tornasse o substrato material de basicamente todas as mercadorias que nos cercam. Quando você para e faz uma pausa por um minuto e olha ao redor da sala e pensa de onde vêm todos esses plásticos, borrachas e tintas, você vê como o petróleo (e cada vez mais o gás fóssil) é realmente onipresente. Ele incorporou os combustíveis fósseis em nossa vida cotidiana, mas de uma forma invisível. Isso não apenas tornou o setor de petróleo muito mais poderoso – no sentido de que essa commodity se integra a tudo o que consumimos e de que dependemos – mas também tornou o petróleo invisível. É um paradoxo: o petróleo está em toda parte, mas não podemos vê-lo.
Acho que essa questão é realmente crucial para a esquerda, pois leva a discussão sobre o petróleo e a origem do aparente poder do petróleo para uma direção diferente. E também nos ajuda a pensar sobre o problema dos plásticos de uma maneira diferente. A narrativa dominante sobre os plásticos é que o problema é o lixo tóxico e a necessidade de melhorar a reciclagem. Obviamente, os resíduos plásticos são uma questão extremamente importante, mas o problema é, na verdade, muito maior do que isso quando colocamos o surgimento dos produtos petroquímicos no quadro geral do que eles fazem pelo capitalismo. Isso também ajuda a explicar por que a demanda por petroquímicos e plásticos está crescendo tão rapidamente. A estimativa é de que o consumo de plásticos triplicará até 2060.
Um dos exemplos mais marcantes é o advento do fast fashion – a rápida rotatividade de estilos de roupas que envolve muitas microestações de estilos e um enorme aumento na quantidade de roupas produzidas. Agora, um lado disso é, obviamente, o dos trabalhadores altamente explorados em fábricas localizadas no Sul Global que produzem roupas sob demanda para as empresas multinacionais de vestuário. Mas foram as fibras sintéticas – produtos petroquímicos como o poliéster – que possibilitaram esse enorme aumento na produção de roupas a partir da década de 1980. A tendência sempre presente do capitalismo de aumentar a quantidade de mercadorias produzidas – nesse caso, roupas – foi possível graças ao petróleo e à commodity petroquímica.
Hoje, as empresas petrolíferas descrevem os petroquímicos e os plásticos literalmente como o futuro do petróleo. Além disso, há um reconhecimento cada vez maior de que os próprios plásticos são uma importante fonte de gases de efeito estufa. Se os plásticos fossem um país, as emissões associadas à sua produção os classificariam como o quinto maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. Portanto, precisamos pensar sobre os plásticos no sentido de como eles incorporaram o poder do petróleo em nossas vidas e, portanto, são uma questão central para o enfrentamento da crise climática.
Uma observação importante que você faz é que as “transições energéticas” históricas e contemporâneas têm sido sempre um processo de adição, não de substituição. Quais são alguns exemplos anteriores disso e como esse entendimento pode nos ajudar a entender as chamadas tecnologias de baixo carbono, como captura e armazenamento de carbono e energia de hidrogênio?
Acho que há muitas falhas na forma como as transições de energia são normalmente pensadas. A noção geralmente aceita é que o capitalismo está fazendo a transição dos combustíveis fósseis para as energias renováveis e vários tipos de tecnologias verdes. Podemos discutir a velocidade com que isso está acontecendo, mas a suposição é de que o petróleo, o gás e os combustíveis fósseis estão em vias de extinção.
Uma das peças mais eficazes da propaganda do setor de petróleo que vimos surgir nos últimos tempos é que, além de um combustível para transporte, os produtos derivados do petróleo estão presentes em inúmeras coisas que usamos diariamente: plásticos, fibras sintéticas e muito mais. Na maioria das vezes, parece que essa linha foi amplamente desconsiderada pela esquerda.
No início do século XX, o carvão representava cerca de 85% da energia primária do mundo. Agora é muito, muito menos: cerca de 25%. Mas se observarmos a quantidade total de carvão que está sendo consumida, estamos produzindo mais carvão do que nunca. O mesmo ocorre com o gás natural. O gás natural só se tornou realmente uma fonte de energia importante nas décadas de 1980 e 1990. Agora ele é significativo e substancial, principalmente na produção de eletricidade. Mas isso não significa que o petróleo ou o carvão tenham diminuído em termos de produção e consumo absolutos.
A razão para isso é outra característica do capitalismo: a tendência de aumentar a produção de energia, atrair novas formas de produção de energia e aumentar a quantidade total de energia consumida e, portanto, as quantidades de mercadorias produzidas. O problema é que grande parte do debate sobre o clima é enquadrada em termos relativos, e não em termos absolutos. O que importa é a produção absoluta de combustíveis fósseis, não sua participação relativa.
É extremamente raro ver uma queda global no consumo de energia. Isso aconteceu no início da década de 1980 com a recessão global da qual acabei de falar. Aconteceu em 1973 com a recessão global associada ao choque do petróleo. Aconteceu em 2008 e aconteceu com a COVID. Mas só houve quatro vezes nas últimas seis décadas em que vimos uma queda sustentada no consumo global de petróleo.
Portanto, quando olhamos para as energias renováveis, fica claro que, sim, haverá um aumento nas fontes renováveis, especialmente para a eletricidade. Pode até haver uma queda na participação relativa dos combustíveis fósseis em coisas como a produção de eletricidade. Mas acho improvável que, sob o capitalismo, vejamos uma transição genuína dos combustíveis fósseis. Nesse sentido, a transição verde é um mito. Ela não está acontecendo – e certamente não no ritmo necessário para mitigar os piores cenários do desastre climático.
A questão da IA e as enormes demandas de energia que são necessárias para esse setor confirmam absolutamente esse ponto. Algumas das previsões sobre o aumento da eletricidade e da água necessárias para operar os data centers são surpreendentes. E uma parcela cada vez maior pode vir da energia solar e eólica (e nuclear). Mas isso torna ainda mais improvável a previsão de um afastamento dos combustíveis fósseis.
Os outros tipos de tecnologias que você mencionou, como hidrogênio e captura de carbono – esses tipos de soluções chamadas de baixo carbono – levantam uma série de problemas diferentes, sobre os quais falo detalhadamente no livro. Mas, em resumo, acho que essas são soluções falsas ou quiméricas que estão sendo promovidas pelas empresas petrolíferas, basicamente porque permitem uma produção cada vez maior de petróleo e gás. Nesse sentido, elas são ainda mais perigosas do que algumas das ilusões sobre a substituição dos combustíveis fósseis pelos renováveis.
Outro argumento importante do livro diz respeito à formação de um “eixo de hidrocarbonetos Leste-Leste” entre o Oriente Médio e a Ásia, que – em contraste com a América do Norte e a Europa Ocidental – envolve grandes empresas petrolíferas nacionais e recursos petrolíferos amplamente convencionais. Esse aspecto é outra parte que parece ter sido negligenciada, com uma ênfase compreensível nas supermaiores empresas privadas ocidentais e no consumo. Resumidamente, quando esse eixo de hidrocarbonetos Leste-Leste começou a tomar forma e como ele deve moldar nossa compreensão do setor global?
Novamente, precisamos começar situando o petróleo como uma commodity crucial dentro do capitalismo global e a grande mudança que ocorreu nas últimas décadas de grande parte da produção global para a China e o leste asiático em geral. Essa mudança na produção global, grande parte dela destinada aos mercados da América do Norte e da Europa Ocidental, foi associada a um aumento maciço na demanda por petróleo proveniente do Leste Asiático.
A parcela do consumo global de petróleo da China é de cerca de 14% do petróleo mundial atualmente, o que triplicou desde o início da década de 1990. Portanto, a China agora está atrás apenas dos Estados Unidos em termos de consumo global de petróleo. E esse é o principal motivo pelo qual o consumo mundial de petróleo é cerca de 40% maior hoje do que em 1995. A China tem grandes reservas de petróleo no país, mas não o suficiente para atender a essa demanda. Por isso, ela teve de ser atendida por meio de importações. O principal lugar de onde essas importações vieram e continuam a vir foram os estados do Golfo do Oriente Médio: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e as outras monarquias do Golfo.
Atualmente, cerca de um terço de todo o petróleo consumido globalmente está no Leste Asiático, e a maior parte é fornecida por meio de importações. A participação da China nas importações mundiais de petróleo agora ultrapassa 20%. A chamada transição do carvão para o petróleo, ocorrida em meados do século XX, é um bom exemplo.No início do século XX, o carvão representava cerca de 85% da energia primária do mundo. É isso que quero dizer com esse circuito de hidrocarbonetos Leste-Oriente.
Mas não é apenas o petróleo bruto que é importante para essa história. Voltando à questão dos petroquímicos, também vemos produtos refinados saindo do Oriente Médio para a China e o Leste Asiático. E vemos investimentos transfronteiriços de grandes empresas petrolíferas no Golfo e de empresas petrolíferas e petroquímicas na China, indo e voltando entre as duas regiões: estruturas de propriedade conjunta em grandes empresas petroquímicas chinesas que agora são de propriedade saudita ou parcialmente de propriedade de empresas sauditas e assim por diante. Podemos ver o mesmo tipo de padrão no Leste Asiático em geral, especialmente na Coreia do Sul e no Japão.
É essencial colocar isso em um panorama global. Os EUA e o Canadá são grandes produtores de petróleo – os EUA são os maiores produtores de petróleo do mundo. Mas a maior parte desse petróleo norte-americano circula dentro da América do Norte. Agora, a produção de petróleo do Golfo está indo para o leste.
Uma coisa que isso fez foi realmente fortalecer a grande maioria das empresas estatais ou nacionais de petróleo sediadas no Oriente Médio. A empresa de destaque aqui é a Saudi Aramco, a empresa estatal saudita, que é de longe a maior empresa de petróleo do mundo. Seus lucros no ano passado foram de cerca de US$ 121 bilhões. Se você somar os lucros da ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies, Shell e BP, os lucros da Aramco superam os de todas elas juntas. Portanto, trata-se de uma empresa gigantesca. E não é mais apenas uma produtora de petróleo bruto. Atualmente, é também uma das maiores empresas petroquímicas do mundo. É uma grande refinadora de petróleo. É uma grande transportadora. Possui locais de produção de fertilizantes. Portanto, em toda a cadeia de valor, a Aramco e os outros grandes produtores do Golfo estão presentes. Eles estão seguindo o mesmo padrão de integração downstream que as gigantes ocidentais seguiram no início e na metade do século XX. Tudo isso não quer dizer que as empresas ocidentais não sejam importantes. Elas são absolutamente cruciais. Em vez disso, trata-se de um apelo para que se observe a diversidade dos atores do setor petrolífero global atual.
Como podemos entender o papel do petróleo no militarismo global e, ao mesmo tempo, levar em conta as grandes mudanças recentes na produção de petróleo, com o Canadá compondo uma parcela maior do consumo de petróleo dos EUA, substituindo as importações da OPEP?
Há muitas narrativas simplistas sobre o petróleo, o imperialismo americano e o Oriente Médio. A ideia de que os EUA querem se apoderar dos suprimentos de petróleo no Golfo ou em qualquer outro lugar da região não é verdadeira. O petróleo da Arábia Saudita é de propriedade da Arábia Saudita e produzido pela Arábia Saudita, e os EUA não vão se apoderar desse petróleo e não têm intenção de fazê-lo. O outro mito, é claro, é que os EUA dependem do petróleo da região. Na verdade, os EUA são o maior produtor de petróleo do mundo: não precisam importar petróleo do Oriente Médio.
Mas isso não significa que o Oriente Médio e o petróleo do Oriente Médio não sejam fundamentais para o imperialismo americano. Não creio que possamos entender o genocídio de Gaza hoje, ou o lugar crucial do Oriente Médio nas ambições geopolíticas dos EUA, sem concentrá-lo no petróleo. Esse tem sido o caso desde o pós-Segunda Guerra Mundial. Os EUA se tornaram a principal potência capitalista globalmente, juntamente com o aumento do petróleo como principal combustível fóssil. Essas transições duplas no sistema mundial foram combinadas e se alimentaram mutuamente – e o Oriente Médio foi o cadinho vital nesse processo, conforme discuto em detalhes no livro.
Hoje, a ascensão da China e a relativa erosão do poder americano estão intimamente ligadas à importância do Oriente Médio para o imperialismo dos EUA. Devido à dependência da China do petróleo do Oriente Médio e de todos os produtos refinados e químicos associados a ele, tem havido uma conexão crescente, tanto política quanto econômica, entre a China e a região mais ampla do Oriente Médio. Nesse contexto, os EUA estão tentando reafirmar sua primazia no Oriente Médio, especialmente suas alianças com as monarquias do Golfo, em face desse tipo de invasão da influência da China.
Se chegarmos a uma situação em que os EUA queiram impor sanções à China, por exemplo, uma questão fundamental será onde a China obtém seu petróleo e seu acesso aos suprimentos de petróleo do Oriente Médio. Também será uma questão da moeda com a qual a China negocia e o papel do dólar americano no sistema financeiro global. Uma das maneiras pelas quais a Rússia tem tentado contornar as sanções é negociar mais em renminbi (yuan chinês). A China também está analisando o comércio de petróleo com o Golfo em renminbi em vez de dólares americanos, o que, mais uma vez, desempenharia um papel importante no caso de qualquer tipo de sanção dos EUA ou de qualquer tipo de aumento de conflito entre os EUA e a China. Também precisamos pensar nas enormes quantidades de petrodólares que se acumularam no Golfo – estamos falando de trilhões de dólares. Onde esses fundos são investidos e qual o papel que desempenham na sustentação do dólar americano é uma parte realmente importante da história.
Voltando à geopolítica mais ampla da região, historicamente, os EUA tinham dois grandes pilares de influência e poder no Oriente Médio. Um era a Arábia Saudita e as monarquias do Golfo Pérsico e o outro era Israel, particularmente após a guerra de 1967. E o que os Estados Unidos tentaram fazer nas últimas décadas foi lidar com estes dois pilares conjuntamente: normalizar as relações entre o Golfo e Israel sob a hegemonia norte-americana. E conseguiram fazer isso em um grau significativo. Os Emirados Árabes Unidos se reconciliaram com Israel, assim como o Bahrein. A Arábia Saudita disse abertamente que estaria disposta a fazer isso se houvesse algum acordo em torno da Palestina. Portanto, esses dois pilares do poder americano continuam sendo absolutamente essenciais para a influência dos EUA e para essa tentativa dos EUA de reafirmar seu domínio no Oriente Médio.
Em última análise, é por isso que os EUA continuam a financiar, apoiar e dar suporte a Israel e sua guerra contra o povo palestino, e agora em toda a região. Essa é uma tentativa de reafirmar o poder americano em face dos tipos de rivalidades que vemos surgir globalmente. O Oriente Médio é uma parte muito importante desse cenário global devido à centralidade contínua do petróleo para o capitalismo.