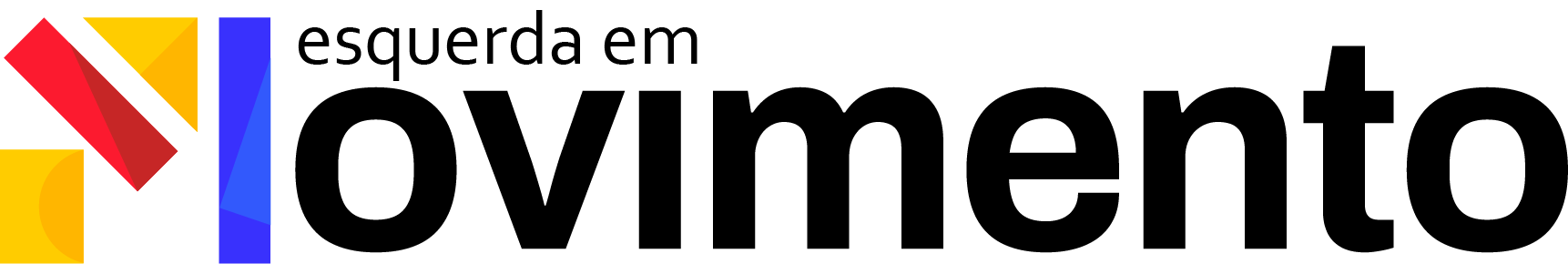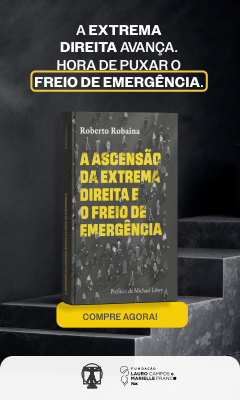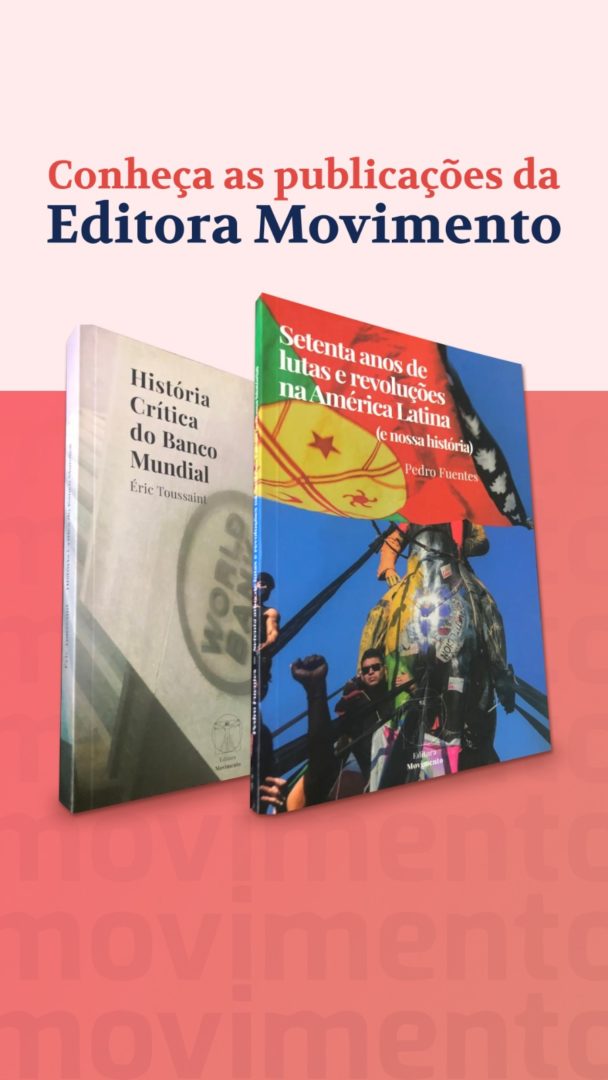As raízes teóricas do realismo socialista
O realismo socialista não foi uma estética orgânica, mas uma construção dogmática. Através da manipulação de textos de Lênin e da tradição crítica russa, o stalinismo forjou um instrumento de propaganda, esvaziando a literatura de seu conflito e complexidade em nome do “herói positivo”
Imagem: Festival da colheita, Fedor Nedoshovenko, 1970.
A partir de 1934 o stalinismo se encarregou de inventar a “ciência estética leninista”. Para essa extravagante façanha, reportou-se a duas fontes: de um lado, alguns escritos de Vladímir Lênin que não tratavam de literatura e, de outro, a tradição literária inaugurada pelos publicistas russos do século XIX, como Vissarion Bielínski, Dimitri Píssariev, Aleksadr Hessen e Nicolai Tchernichévski.
Vladímir Lênin: “espírito de partido” e teoria do reflexo
Os dois textos de Vladímir Lênin utilizados foram: A organização do Partido e as publicações do Partido, e o livro Materialismo e empiriocriticismo.1
O primeiro texto foi escrito em 1905. O processo revolucionário em curso nesse ano trouxe o partido bolchevique para a legalidade. Pela primeira vez pôde surgir uma imprensa partidária legal para cuidar das tarefas de organização e divulgação da linha política do partido. Preocupado em uniformizar a intervenção política da imprensa partidária, Vladímir Lênin redigiu o texto em questão, cobrando dos publicistas fidelidade à linha política e exigindo, de todos, “espírito de partido”.
No período stalinista, a palavra de ordem de Lênin dirigida à literatura do partido (jornais, revistas etc.) foi estendida, sem mais, para toda literatura. Com isso, as diferentes publicações, aí incluídas obras puramente literárias como poesias etc., passaram a ser vistas como instrumentos de propaganda e doutrinação partidária, e o “espírito de partido” norma obrigatória a ser seguida por todos os escritores, membros ou não do partido.
Essa manipulação arbitrária serviu aos objetivos de Stalin e, também, aos inimigos do socialismo que passaram a denunciar a ausência de liberdade de criação como intrínseca ao regime. Vittorio Strada, referindo-se ao texto de Vladímir Lênin, lembrou que “o termo “literatura” tinha aqui um significado amplo, próprio da língua russa, e significava também “jornalismo””.2
O segundo texto manipulado é Materialismo e empiriocriticismo, livro publicado em 1908, em que Vladímir Lênin critica duramente Bogdánov, dando sequência aos ataques desferidos anteriormente por Plekhánov.
A derrota temporária do movimento revolucionário havia gerado um pessimismo difuso que impregnou a esfera cultural, afastando a intelectualidade e os artistas da atividade política. Como acontece nas derrotas, o campo ficou aberto para a propagação do irracionalismo e do misticismo. Dentro do partido bolchevique, difundiram-se as ideias do físico Mach, divulgadas então por dois dirigentes partidários, Bogdánov e Lunatchárski.
Contrapondo-se a essa corrente, Vladímir Lênin repetiu, à exaustão, que a tese central e o ponto de partida do materialismo dialético era a afirmação da existência da matéria como realidade primeira, anterior e independente da consciência humana. E, se a matéria é o dado primeiro, a consciência só pode ser derivada da matéria: ela é o “reflexo” da realidade exterior em nossa consciência.
O livro de Vladímir Lênin atualizou a antiga querela entre os materialistas e os idealistas que, segundo Engels, seria o divisor de águas na história da filosofia. Desde sempre os materialistas eram criticados como pensadores metafísicos: apoiavam-se num conceito, o de matéria, cuja existência não podiam comprovar. Já os idealistas eram considerados céticos, pois não acreditavam na existência do mundo exterior e na possibilidade de conhecê-lo. Lênin defendeu enfaticamente o materialismo e o compromisso para conhecer e transformar a realidade. Já o idealismo, contrariamente, é considerado uma corrente reacionária e irracionalista.
Para Vladímir Lênin, entre a matéria e a consciência existe o reflexo – o espelhamento do real no cérebro dos homens. Essa visão dualista exclui a mediação: o trabalho que, astuciosamente, se interpôs entre homem e realidade, sujeito e objeto. E no trabalho, como Marx afirma em O capital, a consciência se antecipa, projetando idealmente o resultado final (no exemplo de Marx: o projeto do arquiteto que prefigura o resultado final, a casa, ao contrário do trabalho mecânico e repetitivo da abelha).
O papel ativo da consciência, reivindicado por Marx, orientou também sua crítica ao materialismo contemplativo de Ludwig Feuerbach. O trabalho, portanto, tem um papel mediador ineliminável em Marx, figurando como a primeira manifestação e modelo das demais formas de práxis desenvolvidas no processo civilizatório. Em Lênin, contrariamente, como observou Luciano Gruppi, “a práxis se torna uma derivação do reflexo”.3
Paralelamente à proliferação daquelas ideias filosóficas idealistas e do misticismo reinante, o campo literário conheceu o florescimento do simbolismo. Havia, então, um íntimo relacionamento entre a filosofia empiriocriticista e os escritores e poetas simbolistas que, em suas revistas, reproduziam textos de Berkeley, Kant e Fichte.
Naquele momento, o simbolismo se afirmava negando o caráter social da arte e opondo-se frontalmente à teoria do reflexo ao colocar o acento, não na realidade material, mas sim no mundo interior, no inconsciente e subconsciente. Em poucas palavras: os simbolistas pretendiam a atingir o que eles julgavam ser a camada mais profunda da realidade, a sua essência. E o faziam traduzindo-a em símbolos que eles julgavam a única maneira de expressar a realidade e o seu caráter inefável. Embora pretendessem atingir a essência, na verdade a consideravam inalcançável.
O que verdadeiramente preocupava Vladímir Lênin não era, naquele momento, a poesia simbolista e o abandono das preocupações sociais na literatura. O centro de suas preocupações era a revisão que os empiriocriticistas estavam propondo para o marxismo, transformando-o numa religião.
Toda a argumentação do livro de Vladímir Lênin referia-se exclusivamente aos problemas filosóficos, à crítica a Berkeley, Mach, Avenarius e Bogdánov. Em nenhum momento extrapolou a discussão sobre as relações da matéria com a senso-percepção para o campo da criação artística. Entretanto, à revelia do autor, a teoria da consciência como reflexo da matéria foi retomada de forma dogmática e utilizada no período stalinista como fundamento do materialismo dialético e critério para se avaliar a produção literária.
A partir da manipulação daqueles dois textos de Lênin começa-se a falar na “etapa leninista da ciência estética”, visando com ela canonizar uma forma de expressão, o realismo socialista, o reflexo artístico da nova sociedade, como princípio regulador da política cultural. E o critério de fidelidade ao real passava a ser o “espírito de partido”.
Os publicistas russos
Além daqueles dois textos de Vladímir Lênin, o realismo socialista retomou a seu modo a rica tradição de estudos literários do século XIX dos democratas radicais em luta contra o czarismo.
Tal tradição foi inaugurada por Bielínski, crítico literário refinado e consciente de seu percurso teórico acidentado: “Se um homem não modifica suas opiniões sobre a vida e a arte, é porque ele se dedica mais à sua própria vaidade do que à verdade”. A busca da verdade foi constante na trajetória de Bielínski: inicialmente um combativo eslavófilo; em seguida passou por um breve período (1839-1940), afastado das questões sociais e políticas motivado pela leitura das obras de Hegel feitas sob a influência de Bakunin.
A leitura de Hegel teve como resultado paradoxal a reconciliação com a realidade russa que ele até então abominava. Posteriormente, um encontro decisivo com Aleksandr Herzen levou-o a repudiar o período hegeliano: o que passou a interessar-lhe, doravante, não era mais “a marcha solene do Deus hegeliano através do mundo, mas as vidas, as liberdades e as aspirações dos homens e mulheres, cujos sofrimentos nenhuma sublime harmonia universal poderia atenuar ou redimir”.4
A leitura da filosofia humanista de Feuerbach e a adesão ao socialismo utópico marcaram a reviravolta decisiva na trajetória do autor transformando-o, nas palavras de Isahia Berlin, “o maior mito russo do século XIX” e “um dos fundadores do movimento que, em 1917, culminou na derrocada da ordem social que ele denunciou cada vez mais”. Além disso, assevera Berlin, “ele é o pai da crítica social na literatura, não só na Rússia, mas talvez até na Europa. É o mais talentoso e temível inimigo das atitudes estéticas, religiosas e místicas, perante a vida”.5
Descobrir coerência nele é distorcê-lo, pois há ambiguidades e incoerências em sua obra, como assinalou Rufus W. Mathewson Jr.6, Bielínski, observou esse autor, conseguiu escapar das ciladas de sua teoria antes que elas se tornassem um sistema. Os críticos soviéticos (inclusive Trótski) pegaram em seus textos apenas o que lhes interessava: a subordinação da literatura ao social. Esta, de fato, existe, mas o que importa para Bielínski é o valor artístico da obra, pois “é impossível violar impunemente as leis da arte”. […]. A arte antes de tudo deve ser arte e só depois expressão do espírito e das tendências da sociedade numa dada época”.
Portanto, não basta ao escritor escrever bem, dominar a técnica da escrita, pois ele precisa “saber filtrar os fenômenos da realidade através da fantasia, infundir neles uma nova vida”.7
Tanto a arte como a filosofia, afirmou, perseguem o mesmo fim, porém com meios diferentes. Ambas são formas de consciência, mas “o filósofo fala por silogismos, o poeta por imagens, mas ambos dizem as mesmas coisas. […]. Um “demonstra”, o outro “mostra” e ambos “convencem”, o primeiro com argumentos lógicos, o segundo com a força das imagens”.8
Essas ideias gerais foram convocadas para a defesa do realismo que, na época, confundia-se e identificava-se com o naturalismo ou com a “Escola naturalista” que, segundo Bielínski, foi inaugurada por Gógol, embora esse autor combinasse a prosa realista com a deformação do real com fins humorísticos, criando para isso personagens caricaturais que pouco se parecem com os personagens típicos do romance realista clássico.
Naturalismo-realismo então caminhavam juntos, não conhecendo ainda a separação que iria adquirir, por exemplo, no clássico ensaio de Lukács, Narrar ou descrever?, onde ambas são apresentadas como termos polares, como formas antagônicas de expressão literária. Isso contudo não impediu Bielínski de criticar o objetivismo cientificista de cariz positivista voltado à descrição precisa dos fenômenos sem, todavia, captar a relação que os mantêm unidos, o nexo orgânico que pressupõe a totalidade.
A verdadeira literatura, segundo afirmou, quer buscar a totalização e “exclui de seu seio tudo aquilo que tem um caráter casual e reconhece como sua somente aquelas obras nas quais se exprime, positiva ou negativamente, o movimento dialético das ideias em desenvolvimento no tempo”. […]. Da literatura faz parte somente aqueles fenômenos típicos, gerais, nos quais se concretizam praticamente os momentos do desenvolvimento histórico”.9
A literatura russa nascente era vista como “expressão dos problemas sociais” que, naquele momento histórico, apresentava-se acima de todas as demais questões. Nada mais natural, portanto, do que a crítica aos defensores da “arte pura”, abstrata, “toda fechada em sua própria esfera, privada de qualquer contato com os outros aspectos da vida”.10
Essa versão literária da “bela alma” da Fenomenologia do espírito de Hegel, recolhida em sua interioridade para evitar a “contaminação” com o mundo exterior, é confrontada pelo naturalismo-realismo que trouxe à cena literária os aspectos “feios” da realidade, a presença perturbadora dos pobres “rebaixando” os temas romanescos.
Diferentemente da arte antiga, baseada no equilíbrio entre a forma e o conteúdo, a nova arte se caracteriza “pelo predomínio que o conteúdo assume nos confrontos com a forma”,11 vale dizer, o conteúdo social que consigo traz a responsabilidade moral do autor e a reivindicação da utilidade da arte para os novos tempos.
Se, de fato, existem ambiguidades e incoerências nas teorizações estéticas de Bielínski (mas não necessariamente na crítica literária propriamente dita), a relevância do aspecto social e o caráter utilitário da literatura foram posteriormente exacerbados ao máximo pelos discípulos.
A luta dos publicistas contra a autocracia ganhou, com o legado de Bielínski, um novo impulso na década de 1860. Seus discípulos, como Aleksandr Herzen, Nikolai Dobroliúbov, Dmitri Píssariev e Nikolai Tchernichévski, passaram a utilizar as revistas como tribuna para, através da discussão literária, driblar a censura e criticar indiretamente a ordem social. A literatura era então conclamada a cumprir uma função social: denunciar o regime czarista.
Essa vertente crítica, como era de se esperar, investiu duramente contra os defensores da “arte pela arte” em nome da utilidade social da literatura.12 A posição mais radical, levando ao extremo a tese da utilidade social, foi expressa por Dmitri Píssariev no ensaio A destruição da estética. “O belo é a vida” havia dito Bielínski para afirmar o primado e a superioridade da vida em relação à reprodução artística. O discípulo tomou a frase como lema e instrumento de luta: a busca pela perfeição da forma e as adocicadas referências ao sublime amor, devem ser substituídas por aquilo que de fato interessa aos homens e, como consequência, a estética seria destruída.
Dobroliúbov, talentoso estilista, que viveu apenas vinte e cinco anos, não se deixou levar pelos arroubos iconoclastas de seu amigo. Concordava com ele que a literatura é capaz de reproduzir “fenômenos da vida social”. Mas, com isso, enfatiza o compromisso social do escritor. Nesse registro, o conteúdo moral da literatura ganha centralidade, e o foco da narrativa volta-se à figura do herói. Inicialmente, este personagem literário prestava-se indiretamente à crítica da ordem social (“o homem supérfluo”), depois, como veremos mais em frente, foi substituído pelo “herói positivo”, encarnando valores humanísticos exemplares em clara oposição à sociedade vigente.
A denúncia das mazelas sociais teve um momento decisivo no ensaio O que é oblomovismo? Tomando como referência o personagem Oblómov, de um romance de Gontcharov, Dobroliúbov afirmou ser aquele personagem, um aristocrata russo, a personificação de um tipo representativo de toda uma época histórica: “um tipo nativo, característico de nossa nação, e dele nenhum dos nossos artistas sérios pode se afastar”.13 Através desse personagem, Dobroliúbov realizou a crítica implacável do parasitismo social da aristocracia, crítica que, para driblar a censura, utilizava a “linguagem esópica”: a literatura, assim, continha disfarçada a denúncia da ordem social.
“A indolência e a apatia de Oblómov são as únicas molas da ação em toda a história”. A inatividade do personagem só se tornou possível graças à presença de um servo que executa as coisas mais banais do cotidiano para propiciar maior conforto ao seu senhor. Dirigindo-se a ele, Oblómov perguntava: “Acaso eu me preocupo? Acaso trabalho? […]. Em toda a vida, nunca calcei uma meia na perna, graças a Deus!”.14 O aristocrata mimado, assim, adquiriu “o infame hábito de ter seus desejos satisfeitos por outros, e não por esforço próprio, desenvolveu nele uma inércia apática e mergulhou-o em um lamentável estado de escravidão moral. Essa escravidão moral está de tal forma entrelaçada à postura aristocrática de Oblómov, a tal ponto que elas se interpenetram e determinam uma à outra, que se torna totalmente impossível qualquer demarcação de limites entre elas. […]. É escravo do seu servo Zakhar, e é difícil dizer qual deles é mais submisso ao poder do outro”.15
Essa paradoxal escravidão de um homem que é livre faz lembrar a dialética entre o senhor e o escravo tratada por Hegel na Fenomenologia do espírito.
O que é fundamental para Dobroliúbov não é Oblómov, mas o oblomovismo, expressão cunhada para caracterizar um tipo literário que teve como precursor Ievguêni Oniéguin, o nobre indolente retratado por Aleksandr Púchkin. O oblomovismo, a partir daí, marcaria presença na literatura russa: em diversas obras “serão encontrados traços quase idênticos aos de Oblómov”.16
Em oposição ao oblomovismo, ao “homem supérfluo”, surgiu um segundo tipo social a ser também exaltado pela literatura: o “herói positivo”. O momento mais importante dessa mudança encontra-se no único romance escrito por Tchernichévski, O que fazer?17
O autor, que então se encontrava na prisão (onde passou a metade de sua existência), pediu autorização para escrever um romance. As autoridades consentiram e o romance passou pela censura carcerária que não viu nada de subversivo no que parecia ser apenas mais uma história de amor. O livro concluído foi entregue ao editor que esqueceu o manuscrito num táxi. Para reavê-lo, publicou um anúncio no jornal oficial da polícia de São Petersburgo. Desse modo, graças à polícia, os manuscritos foram encontrados e o romance pode ser publicado.
A repercussão do romance foi impactante, caso raro na história da literatura comparável, talvez, à obra Os sofrimentos do jovem Werther, de Goethe – segundo a lenda, a leitura do livro teria provocado uma onda de suicídios de jovens em toda a Europa. Na Rússia czarista, o romance de Tchernichévski foi o combustível que incendiou a imaginação de um povo cansado da autocracia.
O crítico Joseph Frank afirmou que O que fazer? “foi o romance russo do século XIX que teve a maior influência sobre a sociedade russa”, mais do que as obras de Turguêniev, Dostoiévski e Tolstói. Mesmo não sendo considerado uma obra prima, “nenhum livro de literatura moderna (com exceção, talvez, de A cabana do Pai Tomás) pode competir com O que fazer?em termos de efeito sobre vidas humanas e poder de fazer história. O romance de Tchernichévski, mais que O Capital de Marx, forneceu a dinâmica emocional que eventualmente desembocou na Revolução Russa”.18
A personagem central do romance é uma mulher, Vera Pávlovna, simbolizando os anseios da emancipação feminina, o que certamente contribuiu para o estrondoso sucesso do livro. Temas nevrálgicos como família patriarcal, casamentos arranjados, sexualidade, trabalho etc. eram levantados na asfixiante atmosfera repressiva do czarismo.
Rebelando-se com a orientação da mãe que pretendia forçá-la à um casamento de conveniência, Vera encontra um amigo altruísta que com ela foge. Os dois se casam, mas dormem em quartos separados, vivendo como irmãos, como iguais. O comportamento altruísta, próprio dos “corações nobres”, é exemplo que aproxima os dois de outros personagens – todos eles pessoas generosas num mundo individualista e hostil.
Vera, que havia lido escondida dos pais os socialistas franceses, organiza uma cooperativa de costureiras em que o lucro é dividido igualmente entre todas, que pouco a pouco vão vivendo uma existência comunitária numa espécie de falanstério de Fourier, o embrião da nova sociedade, como pregavam os socialistas utópicos. “O belo é a vida”, lema de Bielínski adotado pelos críticos democratas, tornou-se, então, reivindicação, projeção utópica, que não se refere mais à vida empírica, realmente existente, mas àquilo que ela deveria ser.
A nova sociedade surgiu num sonho de Vera em que os habitantes viviam numa edificação futurista de ferro fundido, o Palácio de Cristal (referência à construção de um edifício, com o mesmo nome, apresentado na Feira Mundial de Londres, em 1851). O Palácio simbolizava, no livro, a utopia de uma sociedade racional, o triunfo do materialismo humanista, a imagem de um futuro harmonioso em que os indivíduos seriam guiados pela filosofia feurbachiana e pelo utilitarismo inglês de Bentham e James Mill (influências díspares e contraditórias que orientavam o pensamento de Tchernichévski).19
Um personagem secundário na trama, Rakhmiétov, de origem aristocrática, logo se separa dos amigos de Vera e viaja pelo país trabalhando e convivendo com os pobres. Trata-se, como é discretamente sugerido, de um revolucionário profissional, um “homem dedicado à causa”, a prefiguração do militante bolchevique: alguém que renuncia a tudo e coloca a dedicação integral à causa acima dos interesses privados, que se sacrifica em nome do trabalho partidário.
Não foi à toa, portanto, que Vladímir Lênin se apropriou do título O que fazer? para nomear o livro em que defendia, contra a orientação até então vigente, a formação de um partido de revolucionários profissionais, de “poucos e bons”, um partido de quadros, unindo os setores avançados do operariado com os intelectuais revolucionários, e não mais um partido de “massa,” como defendia a social-democracia. A mulher de Lênin, Krupskaya, lembra que ele leu com entusiasmo e fez anotações no livro e que em seu gabinete de trabalho o retrato de Tchernichévski estava ao lado dos retratos de Marx e de Engels.
Os personagens centrais do romance, os “corações nobres”, são a expressão mais influente de um tipo literário que já aparecera anteriormente em outros autores, mas que teve em Tchernichévski o exemplo canônico: o herói positivo. Esse personagem-tipo surge em oposição ao “homem supérfluo”, tal como retratado por Ivan Turguêniev em Diário de um homem supérfluo. A oposição entre esses dois tipos sociais marcou a literatura russa da primeira metade do século e propiciou debates entre os críticos e também entre os escritores.
Dostoiévski, figura distante dessa polarização, criou uma galeria de personagens atormentados por questões morais que não se encaixavam em nenhum dos dois tipos, embora sofresse a influência de Turguêniev. Em Memórias do subsolo, apresenta o “homem subterrâneo” em clara oposição ao “herói positivo” de Tchernichévski e às ideias professadas pelo autor. Nesse breve livro, critica abertamente as teorias utilitaristas e se refere ao Palácio de Cristal como um sinal da racionalidade do degradado mundo ocidental, oposta à religiosidade professada pelo autor. Dostoiévski, assim, permaneceu como um caso a parte nos debates literários do período.
Já o stalinismo procurou apropriar-se dessa herança para defender, a seu modo, o realismo e o caráter utilitário da literatura.
A palavra de ordem para as artes, “nacional na forma, socialista no conteúdo”, passou a ser cobrada então aos escritores e artistas.
“Socialista no conteúdo” atesta um claro afastamento de Marx e Engels, defensores de uma concepção realista de literatura em que o real triunfava sobre as opiniões pessoais do autor.
Mas as ideias estéticas de Marx e Engels não eram ainda bem conhecidas, pois estavam esparsas em textos que só foram publicados a partir dos anos 1930, quando a política cultural stalinista já havia definido os novos rumos. Além disso, os comentários daqueles dois autores estavam quase sempre restritos à literatura produzida na sociedade burguesa, sem avançar em conjecturas sobre a futura arte no socialismo.
A referência à “forma nacional”, por sua vez, reivindicava um realismo adaptado ao projeto da construção do “socialismo num só país”.
A literatura ganhava, nesse contexto, uma nova função: a utilidade social, outrora defendida pelos críticos radicais do século XIX, tornou-se então uma ferramenta na edificação do socialismo. Também aqui, o realismo socialista extrapolou o alcance das teorias literárias dos publicistas democratas em sua luta contra o czarismo. O herói positivo de Tchernichévski cederá lugar ao militante revolucionário lutando pela edificação do socialismo e pela defesa da pátria.
O herói positivo
Sob a vigência do stalinismo, o “homem supérfluo” passou a ser designado “homem inútil”, “parasita social” etc., e o “herói positivo” reaparece transfigurado e desfigurado na figura do operário revolucionário. Tal personagem guarda distância dos personagens típicos de que falava Engels. A extrapolação dos “traços essenciais”, a serviço de uma férrea teleologia produziu, apenas, personagens caricaturais utilizados como modelo de comportamento a ser imitado pelos leitores.
Nas obras maiores do realismo, os personagens não eram exemplares a serem imitados. Rufus W. Mathewson Jr. observou a propósito: “A identificação com o herói pode assumir diversas formas, mas não deve ser, parece-me, ser completa ou cegamente subordinada. Leitor e herói devem encontrar-se de certa forma como iguais, e apesar disso uma distância essencial entre eles deve ser mantida”.
Na tragédia aristotélica, ainda que houvesse alguma distância entre o leitor e o herói, ambos se encontram no mesmo plano, que é o que permite a identificação, isto é, a catarse. E é precisamente essa aproximação (identificação), “que está ausente nos escritos “oficiais” soviéticos […]. O herói soviético, ao contrário, é em primeiro lugar um modelo cujo exemplo se espere que cause admiração e emulação. Ele se mantém numa relação autoritária com o leitor. Ele é representativo da virtude oficial e de um modelo seguro de comportamento”.20
Pável Kortchaguine, o herói do livro de Nikolai Ostróvski, Assim foi temperado o aço, é o típico representante do heroísmo sem fim de uma vida dedicada à construção do socialismo, à luta contra os inimigos externos e internos e da alegria em trabalhar incansavelmente em prol da nova sociedade. O livro, exemplo clássico do herói positivo e do “bom-mocismo”, foi editado e reeditado em todo o mundo.21
Um dos estudos mais interessantes sobre o realismo socialista é de autoria do escritor russo Andrej Sinjavskij, publicado na revista francesa Esprit em janeiro de 1959.22 Alguns textos do autor foram contrabandeados para o exterior e publicados com o pseudônimo Abram Tertz. A descoberta da autoria pelas autoridades russas custou a ele a prisão de sete anos em campo de trabalho.
Segundo Sinjavslij, realismo socialista é uma estranha expressão que “fere o ouvido” e é difícil de definir. O desejo de reproduzir fielmente a realidade é ponto comum que aproxima o realismo crítico do século XIX do praticado no período stalinista. Mas, “o realismo socialista traz um elemento novo, pois afirma a vida em seu movimento revolucionário, e isso forma o espírito dos leitores e dos espectadores em função desta prospectiva, isto é, no espírito do socialismo”.
Na base dessa representação, “se encontra a ideia do Fim, daquele ideal que tudo abraça e para o qual tende a realidade (da qual se dá uma imagem verídica) num movimento revolucionário inelutável. Fixar esse movimento e ajudar o leitor, transformando a sua consciência para aproximá-la do Fim, este é o sentido do realismo socialista”.23
Trata-se, portanto, e uma literatura teleológica em que todos os detalhes ficam subordinados à finalidade que tudo conduz. O tempo trabalha a favor da finalidade. Não se trata, evidentemente, da “procura do tempo perdido”, mas, contrariamente, o caminho do tempo para frente, rumo à plena realização de um devir em processo de efetivação.
Essa concepção adotada é o complemento literário do velho determinismo que tanto impregnou as piores versões do marxismo. A “marcha inexorável da história”, “o mundo marcha para o socialismo”, as “leis de ferro” que conduzem a história para um final feliz etc., frases que acompanharam o movimento comunista e avivaram a fé dos militantes.24 Sinjavskij não aproxima o realismo socialista com o determinismo, mas com a religião, e o comunismo, por sua vez, surge como uma versão laica do paraíso cristão.
Tal literatura, constata o autor, caracteriza-se por uma total uniformidade de orientação que conduz sempre para uma conclusão feliz. Mesmo que o herói faleça, o fim por ele perseguido triunfa. Por isso, o herói anuncia o homem ideal do futuro. A primeira aparição do herói positivo no realismo socialista encontra-se em A mãe, de Gorki e, a partir daí se reproduziu massivamente na subliteratura soviética, uma “literatura uniformizada” carente de conflitos existenciais e contradições.
Coube ao escritor V. Ilenkov, de “talento medíocre”, segundo Sinjavskij, esse espantoso comentário feito em seu livro A estrada mestre, vencedor do prêmio Stalin em 1949: “A Rússia seguiu o seu caminho, o da unanimidade. Durante milhares de anos, os homens sofreram pelo fato de não pensarem do mesmo modo. Nós, soviéticos, pela primeira vez somos destinados; falamos uma língua única, universalmente compreensível; pensamos de maneira idêntica sobre as coisas principais da vida. Ficamos fortes com essa unidade ideológica. Nisto reside a nossa superioridade sobre outros homens dilacerados, divididos no pluralismo do pensamento”.25
O personagem literário que personifica a pretendida unidade é o herói positivo, o substituto do “homem inútil” do romance do século XIX. Este era apresentado como um exemplo lamentável do homem “sem unidade profunda”. De caráter meditativo, voltado à introspecção, cheio de boas intenções, mas incapaz de qualquer iniciativa. Esse tipo romanesco, segundo o autor, não representava a nobreza russa, “mas a metafísica profunda do espírito que se agita sem objetivo”.
Com o advento do herói positivo, o “homem inútil” ganhou uma conotação pejorativa que não existia em Púchkhin, Dostoiévski, Turguêniev e outros clássicos. Agora, nos novos tempos, ele passou a ser visto, em contraponto com o herói positivo, como um parasita social a ser combatido com métodos policialescos.
O resultado final do realismo socialista foi a esterilização da literatura e da crítica, que um dia foram consideradas motivos de um merecido orgulho nacional. Degradada em propaganda, tal literatura é mera hagiografia do herói positivo; já os seus adversários foram reduzidos a pálidas caricaturas e demonizados. Esse esquematismo pleno de certezas inabaláveis fez de seus personagens seres abstratos, desprovidos de subjetividades, dúvidas, angústias.
Quando os intérpretes se voltam para tentar definir o realismo socialista, as expressões variam, mas a imprecisão permanece: “uma forma, uma tendência, um estilo, uma corrente, um método?”; “uma coleção de prescrições, mais do que um fenômeno literário” etc.
Diante de tanta indefinição, os russos criaram uma fábula que ajuda a entender o espírito que norteava o realismo socialista: “Era uma vez um poderoso imperador chamado Tamerlão, o Grande. Vaidoso, ele convocou todos os pintores do reino para pintar o seu retrato. Acontece que Tamerlão não tinha nem perna nem olho direitos, perdidos numa guerra patriótica. Temerosos, chegaram os pintores. O primeiro retratou o imperador com os dois olhos e as duas pernas. Foi degolado. Aquilo era “idealismo”. O segundo apresentou o imperador como de fato era: sem uma perna e sem um olho. Foi degolado. Aquilo era “realismo burguês”. Aí chegou o terceiro. Era membro da União dos Pintores Soviéticos. Este pintou Tamerlão de perfil, do lado em que só aparecessem a perna e o olho esquerdo. Foi aclamado. Ela havia entendido o que era o “realismo socialista”.26
Notas
- LÊNIN, La literatura y el arte (Moscou: Editorial Progresso, 1979), pp. 65-70 e Materialismo e empiriocriticismo (Lisboa: Editorial Estampa, 1971). ↩︎
- STRADA, Vittorio. “Do “realismo socialista” ao zdhanovismo”, in HOBSBAWN, Eric (org.), História do marxismo, Vol. 9 (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1987), p.115. ↩︎
- GRUPPI, Luciano. O pensamento de Lênin (Rio de Janeiro: Graal, 1979), p. 101. ↩︎
- BERLIN, Isahia, Pensadores russos (São Paulo: Companhia das Letras, 1988), p. 176. ↩︎
- Idem, p. 160. ↩︎
- MATHEWSON JR., Rufus W. The positive hero in russian literature (Evanston/Lllinois: Northwestern University Press, segunda edição, 1975), p. 25. ↩︎
- BELINSKJ, Vissarion. “Un sguardo alla letteratura russa del 1847”, in Scritti scelti (Mosca: Edizioni Progress, 1981), p. 217. ↩︎
- Idem, p. 227. ↩︎
- BELINSKJ, Vissarion. “Il significato generale del termine Letteratura”, in Scritti scelti, cit., p. 30. ↩︎
- BELINSKJ, Vissarion. “. “Un sguardo alla lettertura russa del 1847”, in Scritti scelt, cit., 219. ↩︎
- Idem, p. 225. ↩︎
- Para uma visão panorâmica dos debates estéticos do período, ver SOARES, Sonia Branco. “Mapeamento da crítica literária russa no século XIX e a discussão sobre estética”, in Terceira Margem, vol. 20, número 33, 2016. ↩︎
- DOBROLIÚBOV, Nikolai. “O que é o oblomovismo?”, in GOMIDE, Bruno Barretto (org.), Antologia do pensamento crítico russo (1802-1901), (São Paulo: Editora 34),p. 295. ↩︎
- Idem, p. 300. ↩︎
- Idem, p. 304-5. ↩︎
- Idem, p. 299. ↩︎
- TCHERNICHÉVSKII, Nicolai. O que fazer? (São Paulo: Expressão Popular, 2020). ↩︎
- FRANK, Joseph. “N. G. Chernyshevsky: a Russian Utipia”, in Southern Review, número 3, 1967. Apud SEGRILLO, Angelo, na introdução da edição citada de O que fazer? ↩︎
- Para um estudo aprofundado do pensamento de Tchernichévski consulte-se a extensa e bem documentada tese de DOMINGUES, Camilo. Nikolai Gavrílovitch Tchernychévski e a Intelligentsia Russa: filosofia e ética na segunda metade do século XIX (Universidade Federal Fluminense, 2015). ↩︎
- MATHEWSON Jr., Rufus W. The positive hero in russian literature, cit., pp. 7-8. ↩︎
- No Brasil, a obra foi publicada inicialmente na Coleção Romances do Povo, dirigida por Jorge Amado, em 1954. Há edições mais recentes publicadas pela Expressão Popular e pela Pomnite. ↩︎
- Utilizarei a edição italiana Che cos´é il realismo socialista? (Roma: Unione Italiana per il Progresso della Cultura, s/d). ↩︎
- Idem, p. 10 e p. 11. ↩︎
- A crítica do determinismo teve momentos altos nos Cadernos do cárcere de Gramsci e na Ontologia do ser social, de Lukács. Neste último, a teleologia se faz acompanhar da causalidade. E a teleologia só se realiza no trabalho, como mostrou Marx ao comparar o trabalho do arquiteto com a atividade da abelha. Lukács, estudando longamente o tema, desde o livro O jovem Hegel, afirma que não existe teleologia nem na natureza e nem na história. ↩︎
- Idem, pp. 27-28. ↩︎
- FEIJÓ, Martim Cezar. O que é política cultural (São Paulo: Brasiliense, 1983), pp. 30-31. ↩︎