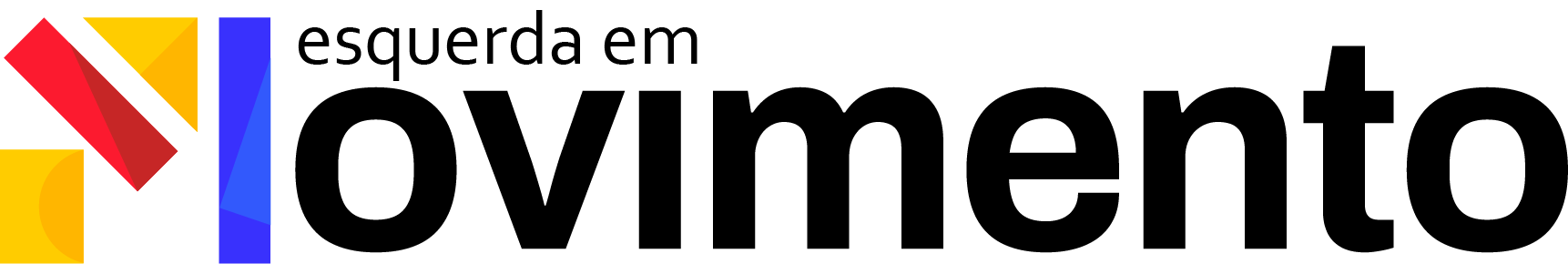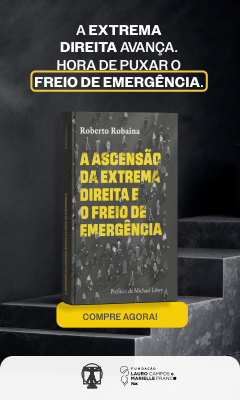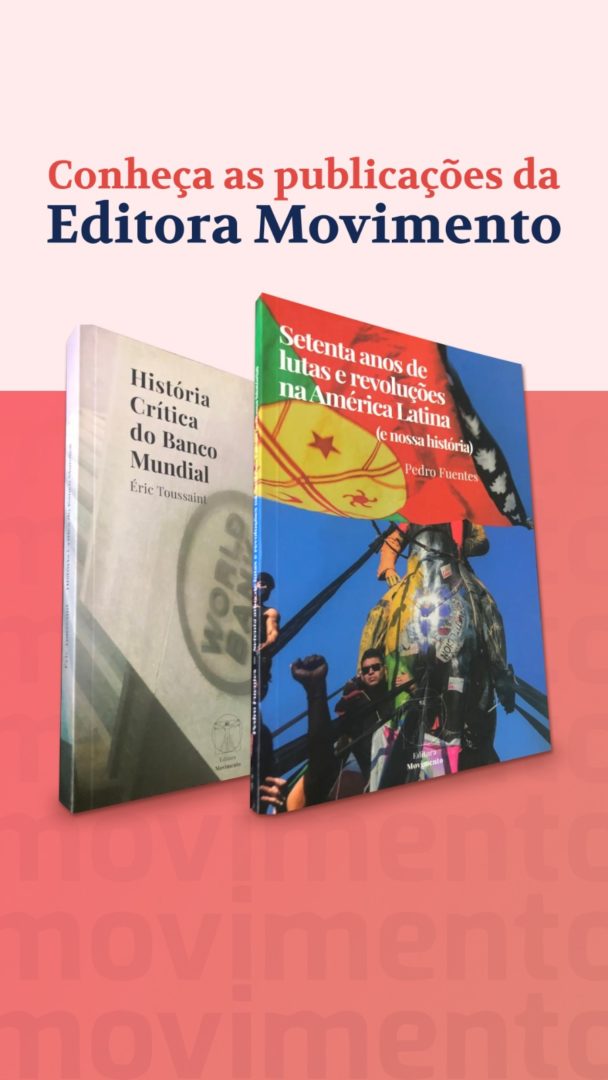Ideologia, redes sociais e organização
A expressão mais acabada da ideologia do nosso tempo é a crença de que conexão é sinônimo de engajamento, que visibilidade é sinônimo de poder e que o discurso pode substituir a organização
Imagem: Ilustração para a revista soviética Tekhnika – Molodezhi. (It´s Nice That/Reprodução)
Na última semana, acompanhamos mais uma cena de barbárie no Rio de Janeiro: a operação policial no Complexo do Alemão e na Penha, que deixou um rastro de mortes, terror e destruição nas comunidades. A tragédia, repetida como rotina, escancarou não apenas a violência do Estado, mas também a perplexidade de parte da esquerda diante do apoio que um setor da população — especialmente nas favelas controladas pelo tráfico ou pela milícia — manifesta a esse tipo de ação.
Esse apoio, que à primeira vista parece incompreensível, é sintoma de algo mais profundo: o processo de afastamento do cotidiano das populações periféricas, que vivem sob um verdadeiro estado de exceção permanente1. Nessas comunidades, a presença do Estado se reduz à força armada, à coerção e ao medo, enquanto a ausência de direitos e garantias se torna a norma. O autoritarismo não é um desvio: é a forma cotidiana de governo.
No entanto, há outro tipo de afastamento, mais silencioso e difuso, que atravessa a vida política contemporânea: o que é produzido pelas redes sociais. As plataformas digitais dão a impressão de que estamos em contato com milhares de pessoas, de que nossas ideias circulam e ganham alcance popular. Na prática, porém, criam bolhas de interlocução restritas e autorreferentes, onde falamos muito, mas quase sempre entre os nossos.
Essa dinâmica é a expressão mais acabada da ideologia do nosso tempo: a crença de que conexão é sinônimo de engajamento, que visibilidade é sinônimo de poder e que o discurso pode substituir a organização. A contradição reside na capacidade de comunicação ampla e no processo de fragmentação e isolamento, reforçando o abismo entre as bolhas virtuais e as experiências concretas da maioria da população.
É a partir dessa contradição que pretendo desenvolver este texto. Meu objetivo é refletir sobre como as redes sociais operam como forma contemporânea de ideologia, reforçando a fragmentação ao mesmo tempo em que produzem a ilusão de unidade. Elas ampliam a capacidade de mobilização, mas dificultam a construção de processos organizativos consistentes e enraizados. Para compreender essa dinâmica, parto da noção de ideologia, articulando os conceitos de fetichismo e alienação, que ajudam a revelar como o capitalismo transforma mediações técnicas em instrumentos de dominação simbólica. Em seguida, recorro a Nahuel Moreno para retomar as ideias clássicas de organização revolucionária e confrontá-las com os desafios específicos do nosso tempo.
Ideologia e Redes Sociais
Acredito que, para refletir sobre o papel das redes sociais no mundo contemporâneo, é necessário recorrer a alguns conceitos fundamentais do marxismo. Com esse instrumental teórico, podemos compreender como o capitalismo produz inversões, oculta suas próprias relações sociais e transforma as formas de vida em instrumentos de reprodução da dominação. Aplicados ao presente, esses conceitos ajudam a explicar por que vivemos um tempo em que a comunicação parece ilimitada, mas a capacidade de ação coletiva se enfraquece; em que o sujeito fala mais do que nunca, mas se reconhece cada vez menos em suas próprias palavras. As redes, celebradas como espaços de liberdade e participação, funcionam também como máquinas ideológicas sofisticadas, capazes de capturar a potência social e convertê-la em mercadoria e vigilância.
Em O Capital, Marx descreve o fetichismo da mercadoria como a inversão que faz com que as relações entre pessoas apareçam como relações entre coisas. O trabalho humano, ao ser objetivado na mercadoria, parece um atributo natural do objeto, ocultando o processo social que lhe deu origem. Essa inversão não é apenas econômica, mas simbólica: é o modo como o capitalismo produz uma realidade que se apresenta como evidente, neutra e inevitável.
Nas redes digitais, o mesmo processo assume nova forma. O fetichismo desloca-se para a técnica: algoritmos, plataformas e dispositivos passam a ser vistos como entes autônomos e dotados de racionalidade própria, quando na verdade expressam as mesmas relações de exploração e poder que estruturam o mundo fora das telas. O chamado “fetichismo digital” consiste em atribuir à tecnologia um poder que é, na verdade, social e histórico.
Esse processo alcança seu ponto mais sofisticado com a Inteligência Artificial (IA), que aparece como uma forma de razão independente, capaz de criar, decidir e substituir o humano, quando na verdade reproduz e automatiza os padrões de desigualdade, controle e vigilância já inscritos nas estruturas sociais. Assim como a mercadoria esconde o trabalho que a produziu, as redes e as IAs ocultam o trabalho invisível que as sustenta: o tempo de atenção dos usuários, os dados transformados em lucro, a energia consumida pelos servidores, o esforço emocional de estar constantemente disponível. A promessa de autonomia e expressão livre mascara a sujeição a um sistema de controle e extração contínua de valor, em que até a própria inteligência é fetichizada e transformada em mercadoria.
A alienação, nesse contexto, é o desdobramento inevitável do fetichismo. Se no capitalismo industrial o trabalhador era separado do produto de seu trabalho, hoje o sujeito é separado de sua própria experiência. A comunicação, transformada em mercadoria, aliena não apenas o tempo de trabalho, mas também os afetos, a memória e o desejo. Nas redes, cada gesto é capturado e convertido em dado; cada interação é monetizada. Produzimos incessantemente, mas o que criamos se volta contra nós, alimentando o ciclo de acumulação das plataformas. O sujeito acredita se expressar livremente, mas fala por meio de linguagens moldadas para gerar engajamento e visibilidade. O resultado é uma nova forma de alienação: não apenas estamos distantes do produto do que fazemos, mas somos reduzidos àquilo que mostramos ser. A identidade torna-se performática, dependente da aprovação e do olhar do outro, e a liberdade se confunde com a necessidade de aparecer.
Por fim, o último conceito que gostaria de trazer é o de ideologia como o cimento que mantém essas inversões em pé. Ela não é uma mentira deliberada, mas um modo de pensar que transforma as relações sociais em natureza e as desigualdades em escolhas individuais. É o pensamento da aparência. Nas redes, essa operação alcança sua forma mais eficiente: a dominação se apresenta como autonomia, o controle se disfarça de liberdade e a exploração se converte em participação. A promessa de horizontalidade e democratização da fala esconde a concentração extrema do poder informacional nas mãos de poucas corporações. As redes produzem, assim, uma inversão perfeita: fazem o indivíduo acreditar que é o sujeito da comunicação, quando é o próprio sistema que o molda e o utiliza. A ilusão da escolha — o que ver, o que consumir, com quem interagir — torna-se o modo mais eficaz de controle. A ideologia digital não apenas mascara a alienação, mas a transforma em desejo: passamos a querer aquilo que nos submete.
Essas dinâmicas formam o pano de fundo da grande contradição de nosso tempo. O mesmo ambiente que fragmenta também conecta, que dispersa também mobiliza. As redes ampliam o alcance da voz individual e aceleram a circulação de ideias, permitindo que campanhas e lutas se propaguem com uma rapidez inédita. No entanto, quanto mais intensas as mobilizações, mais visível se torna a dificuldade de transformá-las em organização duradoura. Vivemos o paradoxo da mobilização sem organização. As redes produzem laços instantâneos, mas frágeis; entusiasmo coletivo, mas sem continuidade; indignação moral, mas pouca elaboração política. O fetichismo da comunicação substitui a prática da construção coletiva, e o gesto simbólico toma o lugar da estratégia.
Essa contradição, longe de anular a potência das redes, revela seus limites históricos e, portanto, a necessidade de superá-los. Ela mostra que a ideologia digital, ao transformar o engajamento em mercadoria e a expressão em espetáculo, impede que a energia social se traduza em força política. Compreender o funcionamento desses mecanismos é o primeiro passo para inverter o movimento: recuperar o sentido da mediação, do tempo e da experiência compartilhada.
Os conceitos aqui mobilizados são apenas apontamentos iniciais, que merecem ser aprofundados e desenvolvidos com mais afinco, pois constituem um campo vasto e em permanente transformação. Nesse sentido, torna-se fundamental reencontrar os instrumentos teóricos capazes de desvelar o modo como a dominação se reinventa sob a forma tecnológica e, a partir daí, reconstruir a possibilidade de organização.
As redes são o espelho e o sintoma de nosso tempo: revelam tanto a fragmentação quanto a potência do comum. Elas mostram o quanto o capitalismo é capaz de capturar até mesmo nossos vínculos e nossos afetos, transformando-os em mercadoria, mas também o quanto persiste, sob essa captura, o impulso de falar, agir e criar coletivamente. É nesse ponto de tensão — entre a mobilização que cresce e a organização que falta — que se abre o debate com Nahuel Moreno e a tradição marxista revolucionária. Retomar suas reflexões sobre partido, direção e disciplina é, portanto, uma forma de enfrentar o problema que as redes tornam visível, mas não resolvem: como transformar a energia difusa da mobilização em força de transformação histórica?
Apontamentos para a organização revolucionária em tempos de likes
Se a ideologia digital produz sujeitos fragmentados e uma política reduzida à visibilidade, o desafio que se impõe é o de reconstruir a capacidade de organização coletiva em meio a essa dispersão. As redes ampliam o alcance da palavra, mas reduzem o tempo da escuta; criam laços instantâneos, mas corroem o tecido da ação comum.
Nesse contexto, pensar a organização revolucionária é também enfrentar o modo como o capitalismo molda nossos afetos, nossas percepções e até nossa ideia de engajamento. É nesse horizonte que retorno a Nahuel Moreno e ao texto Problemas de Organização, buscando nele não respostas prontas, mas ferramentas críticas para refletir sobre a forma-partido, a direção e a disciplina à luz das contradições do presente. Revisitar Moreno em tempos de likes é perguntar como reconstruir mediações humanas e políticas em um cenário em que a ideologia se expressa sob a forma de conexão e o fetichismo assume o rosto sedutor da participação. Trata-se de recuperar, a partir da tradição revolucionária, os fundamentos de uma prática capaz de transformar a energia difusa das redes em força histórica organizada.
Para Moreno, a chave da ação revolucionária está na unidade entre política e organização. Uma linha política, por mais correta que seja, não se realiza sem uma estrutura capaz de encarná-la na prática cotidiana. A política define o rumo, mas a organização dá corpo à ideia, transformando vontade em ação e desejo em força histórica. No mundo contemporâneo, essa relação se desfez. Vivemos um tempo em que as causas se multiplicam, mas a capacidade de organizá-las se dissolve. A ideologia das redes, que confunde visibilidade com poder e expressão com transformação, substitui a prática pela aparência. A comunicação instantânea toma o lugar da militância, e a empatia momentânea substitui o compromisso. A política passa a operar no registro da emoção e da reação, não da elaboração e da construção.
Moreno advertia que um partido não é um somatório de vontades, mas uma escola de consciência e disciplina. O que vemos hoje é o contrário: uma explosão de opiniões e uma escassez de convicções sustentáveis. O poder de mobilização cresce, mas a capacidade de direção diminui. As grandes manifestações dos últimos anos revelam esse paradoxo: milhões tomaram as ruas e produziram imagens poderosas, mas poucos desses levantes se converteram em acúmulo político ou em conquistas duradouras. A energia se esgota no próprio ato de aparecer, convertendo a política em espetáculo e os sujeitos em espectadores ativos de sua própria impotência.
Outra contribuição central de Moreno é sua reflexão sobre a direção revolucionária. Ele via a direção como produto da prática coletiva e não de uma elite iluminada. Dirigir não era mandar, mas coordenar quadros, orientar o processo, educar e ser educado por ele. Essa concepção se choca com a forma como o poder opera nas redes. As plataformas tecnológicas criaram uma nova hierarquia invisível, mediada por algoritmos que decidem o que aparece e o que desaparece, o que ganha destaque e o que é silenciado. A figura do dirigente consciente foi substituída pelo curador automático e pela lógica da viralização. Em vez de construir confiança e autoridade política, os movimentos são regulados por métricas de engajamento.
Nesse ambiente, o carisma e a performance substituem o acúmulo e a reflexão. Multiplicam-se os influenciadores e pequenas celebridades políticas que concentram atenção, mas raramente a convertem em força organizativa. Mesmo parlamentares eleitos pela popularidade digital tendem a reproduzir essa lógica: constroem capital simbólico, mas não estrutura de base nem formação de quadros. O resultado é uma política sem direção, em que as decisões não são tomadas por sujeitos, mas por fluxos de dados e pela disputa por visibilidade. Moreno via a direção como um espaço de responsabilidade compartilhada, uma síntese entre experiência e consciência. Hoje, o poder é difuso e anônimo, o que parece libertador, mas na prática desarma os processos de construção política.
Moreno também atribuía centralidade à formação dos quadros. O partido deveria ser um espaço pedagógico, onde militantes se transformam em sujeitos conscientes, capazes de agir com autonomia e discernimento. A força do movimento residia na formação teórica e na capacidade de análise. Em contraste, vivemos o tempo da distração e da pressa. A lógica das redes, expressão da ideologia dominante, treina a mente para o fragmento, não para a síntese; para o comentário, não para o estudo. A política se adapta a esse ritmo, buscando impacto imediato, gesto simbólico e frase viral. Mas não há transformação profunda sem tempo de maturação. Moreno insistia que a revolução exige paciência histórica, e não apenas indignação. O sujeito político se forma na prática prolongada, na reflexão e no erro, não na repetição de palavras de ordem. A aceleração digital nos dá a sensação de participar de tudo, mas nos impede de construir algo duradouro. As causas se sucedem como ondas e desaparecem antes de se tornarem correntezas.
A disciplina, outro ponto essencial em Moreno, é muitas vezes mal compreendida. Ela não é submissão cega, mas o reconhecimento de um projeto comum. O centralismo democrático articulava liberdade de debate e unidade de ação. Hoje, o debate é livre até a exaustão, mas a ação é dispersa. As redes multiplicam vozes, mas raramente produzem decisões. Há liberdade de expressão, mas pouca capacidade de coordenação. A ideologia do individualismo digital dissolve o sentido do coletivo e transforma a divergência em estilo. Em vez da disciplina consciente que nasce do convencimento, temos a adesão impulsiva que nasce da emoção. Moreno entendia que a disciplina é uma conquista, a expressão do compromisso com a luta coletiva. Sem essa dimensão, a política se converte em mera reação afetiva. Os protestos do nosso tempo, que mobilizam milhões e se dissolvem em poucos meses, mostram que a intensidade não substitui a organização. A unidade momentânea sem estrutura se esgota em si mesma.
As crises organizativas, para Moreno, eram inevitáveis e até pedagógicas. Todo partido que se propõe a mudar o mundo está sujeito a contradições internas, a erros e rupturas. O essencial é transformar a crise em aprendizado. No contexto atual, porém, as crises se tornaram permanentes e passaram a constituir o estado natural da militância. As organizações convivem com a instabilidade das redes, o bombardeio informacional e a substituição da estratégia pela tática. A ideologia da velocidade impede o balanço e a autocrítica. A fragmentação, que antes era um risco, tornou-se condição estrutural. Moreno via a crise como momento de depuração e crescimento; hoje, ela se converteu em rotina e esvaziamento. O movimento se resume a “tocar em frente”, repetindo gestos e palavras de ordem sem acúmulo político ou teórico. O resultado é duplo: de um lado, a exaustão dos militantes; de outro, a tendência a atribuir os fracassos a fatores externos, sem reconstrução interna. Recuperar o sentido pedagógico da crise, como propunha Moreno, significa restabelecer o projeto, o horizonte e a continuidade, elementos que a ideologia digital, com seu culto à urgência, tende a corroer.
Por fim, Moreno via o partido como instrumento das massas e não como um fim em si mesmo. Sua existência só se justificava se estivesse enraizado nas lutas concretas, como expressão da vontade coletiva. A distância entre partido e massas, dizia ele, era o primeiro sinal de burocratização. Hoje, essa distância assume outra forma: a separação entre o sujeito digital e a realidade social. As mobilizações virtuais podem atingir milhões de pessoas, mas raramente se traduzem em transformações materiais. As causas ganham visibilidade, mas não poder. A militância migra para o plano simbólico, enquanto o poder real permanece intacto. Moreno diria que a luta política foi deslocada do terreno da prática para o da imagem, uma forma de alienação que reforça a ideologia dominante.
O exemplo do Podemos, na Espanha, é emblemático: nascido das mobilizações de 2011 e impulsionado pela força das redes, o partido surgiu como promessa de renovar a esquerda e traduzir o impulso das redes em força institucional. Em poucos anos, porém, consolidou-se uma burocracia em torno de lideranças digitais carismáticas, enquanto o vínculo com as lutas concretas se enfraquecia. A falta de enraizamento social e a centralização das decisões levaram ao autoritarismo interno e à adaptação ao jogo institucional. O que começou como movimento popular terminou reproduzindo as mesmas estruturas de poder que pretendia superar. A trajetória do Podemos revela, de forma concreta, a advertência de Moreno: quando a organização se desconecta das massas e se deixa capturar pela lógica da imagem e da visibilidade, deixa de ser instrumento de transformação e passa a ser parte do sistema que dizia combater.
Revisitar Moreno hoje é, portanto, um exercício de resistência teórica e política. Seu pensamento nos obriga a confrontar a ilusão de que a tecnologia pode substituir a organização. Ele nos lembra que nenhuma inovação técnica resolve o problema fundamental da ação coletiva: como unir indivíduos dispersos em torno de um projeto comum e transformar energia social em poder transformador. A história recente mostra que a facilidade de mobilizar não significa capacidade de transformar. O mundo digital nos ensinou a ser muitos, mas não a ser juntos. Moreno insistia que o partido é um organismo vivo, cuja força está na consciência e na coesão de seus militantes. Essa lição permanece atual. O desafio do nosso tempo não é apenas resistir à opressão, mas reconstruir a possibilidade de organização em meio à dispersão, transformando a conexão em compromisso, a velocidade em paciência e a emoção em estratégia.
O mundo contemporâneo parece ter levado ao limite os problemas que Moreno diagnosticou em seu tempo. O espontaneísmo converteu-se em modo de vida, a ausência de direção passou a ser confundida com liberdade e a crítica à burocracia degenerou em desconfiança diante de qualquer forma de organização. A ideologia dominante, mediada pela técnica e pelas redes, naturaliza essa dispersão e transforma a fragmentação em aparência de autonomia. As tecnologias de comunicação ampliaram o alcance da voz individual, mas também acentuaram a fragilidade do coletivo, substituindo o compromisso pela performance e a prática pela aparência. Retomar a leitura de Problemas de Organização é, portanto, mais do que um gesto teórico: é uma forma de desmascarar a ideologia do nosso tempo, que transforma a conexão em simulacro de comunidade e a participação em mercadoria. O desafio é resgatar a política do terreno da imagem e reconstruí-la como prática social concreta.
Nesse sentido, experiências recentes como a dos socialistas em Nova York ajudam a iluminar o caminho. A vitória de Zohran Mamdani, construída por meio de uma campanha de porta em porta e sustentada pelo trabalho coletivo de militantes da esquerda socialista, mostra que é possível reorganizar a ação política em torno da presença, da escuta e da solidariedade cotidiana. O projeto Fight Back, articulado por organizações ligadas ao Labor Notes, expressa essa tentativa de reconstruir o vínculo entre militância e vida comum, combinando formação política, trabalho comunitário e organização sindical de base. Há aqui uma diferença decisiva em relação a grande parte da esquerda global: nos Estados Unidos, onde as big techs nasceram e revelaram seu verdadeiro espírito, poucos ainda depositam nelas qualquer expectativa de emancipação. Os militantes que vivem no centro do capitalismo digital conhecem de perto o que o fetichismo tecnológico produz e por isso buscam reconstruir o político no espaço concreto da convivência humana. O contato direto, a conversa paciente e o enraizamento territorial rompem o fetichismo da conexão e recuperam o sentido de coletividade que as redes apenas simulam.
Revisitar Moreno hoje é compreender que a revolução não se faz apenas com ideias corretas, mas com formas de organização capazes de transformar consciência em poder. As campanhas socialistas de base em cidades como Nova York demonstram que, mesmo em meio à dispersão e ao domínio das plataformas, é possível reinventar a política como prática viva. Retomar o trabalho paciente de formação, reconstruir vínculos e recolocar o encontro humano no centro da militância não é um gesto nostálgico, mas a tarefa mais avançada do nosso tempo. É a maneira concreta de enfrentar a ideologia digital e o fetichismo da técnica, de romper o encantamento com a velocidade e recuperar o sentido histórico da organização. A revolução, como lembrava Moreno, é um processo, e talvez hoje ela comece justamente por esse gesto simples e radical: bater de novo às portas, olhar nos olhos e reorganizar, com o outro, a esperança.
Referências Bibliográficas
MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. Livro I: O processo de produção do capital. Tradução de Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013.
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. Tradução de Rubens Enderle, Nélio Schneider e Luciano Cavini Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007.
MORENO, Nahuel. Problemas de Organização. Buenos Aires: Cuadernos de Solidaridad, Cuaderno de Formação n.º 1, 1984.
Nota
- Para ver mais sobre o assunto ler Narcoterrorismo, genocídio e o papel da esquerda no debate de segurança pública, de João Pedro de Paula e Theo Louzada Lobato. ↩︎