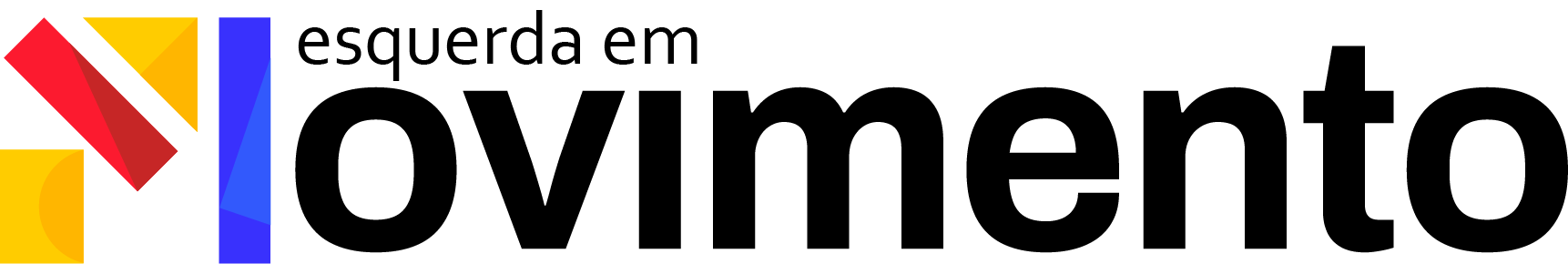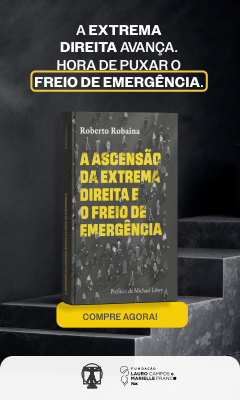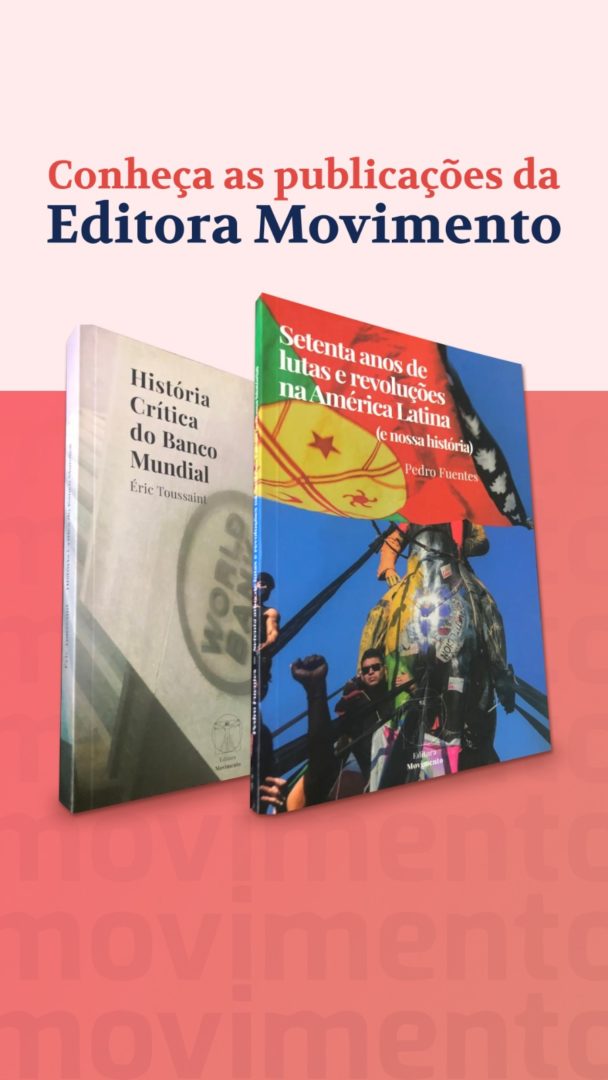Da crise à normalização da exceção
Como o capital reorganiza seu poder
No artigo anterior publicado em minha coluna na Revista Movimento — A capitulação silenciosa: legalidade, cálculo e avanço autoritário — analisei como setores moderados da esquerda e do centro vêm adotando uma postura que, na prática, capitula frente ao avanço do fascismo. Nessa perspectiva, a prisão de Jair Bolsonaro e sua inelegibilidade seriam suficientes para afirmar que o autoritarismo foi contido ou mesmo derrotado, ocultando assim a dimensão histórica da crise e o processo contínuo de radicalização à direita no Brasil.
No entanto, defendo neste novo texto uma hipótese mais profunda: o avanço autoritário não é um desvio momentâneo ou uma mera reação ideológica, mas o desdobramento político de transformações estruturais no regime de acumulação capitalista, marcado pela financeirização, espoliação permanente e concentração patrimonial. A crise que enfrentamos é, antes de tudo, uma crise orgânica, em que a forma neoliberal de dominação esgota sua capacidade de organizar o consentimento, ao mesmo tempo em que consolida novos mecanismos de controle e de autoritarismo adaptado às exigências do capital digital e transnacional.
Um exemplo importante desse processo é a guerra comercial e o tarifaço estruturado por Donald Trump.1 Longe de representar os desvios de um “lobo solitário” com impulsos megalomaníacos, essa política revela a utilização deliberada de instrumentos fiscais contra outros países para aumentar a arrecadação interna, ao mesmo tempo em que viabiliza a desoneração da grande burguesia norte-americana e fortalece setores estratégicos, como as big techs. Embora Trump também tenha instrumentalizado essa lógica para apoiar aliados políticos no campo internacional — como no caso da impunidade de Bolsonaro e dos golpistas no Brasil —, o que pretendo mostrar neste texto é que tais movimentos não são raios em céu azul. Eles expressam a lógica de fortalecimento da acumulação por espoliação, respondendo de forma direta à reorganização do sistema capitalista em nosso tempo.
É justamente nesse contexto que tantas forças de esquerda, acuadas, vêm reduzindo sua atuação a estratégias defensivas e alianças táticas com setores do centro político. No entanto, essa aposta — por mais pragmática que pareça — revela-se limitada, pois parte do pressuposto equivocado de que seria possível restaurar a legitimidade de instituições que já foram moldadas para dar sustentação a um novo ciclo histórico regressivo. Como buscarei argumentar, sem enfrentar as transformações estruturais do capital, não há saída democrática sustentável.
Por outro lado, reconheço que há setores que criticaram minha análise anterior e apontaram para as derrotas eleitorais de segmentos ultraconservadores em países como Alemanha, Austrália e Canadá. A partir desses casos, defendem a necessidade de composição com alas moderadas da esquerda e do centro. No entanto, tais leituras tendem a negligenciar o fato de que, mesmo onde a extrema direita foi derrotada eleitoralmente, partes significativas de sua agenda foram absorvidas pelos governos subsequentes — inclusive com transformações de fundo nos regimes democráticos. Essas derrotas aparentes não significam ruptura, mas apenas pausas táticas que nos oferecem tempo e fôlego para retornar às trincheiras e reorganizar a resistência diante da consolidação de formas autoritárias de dominação.
Neste novo texto, pretendo aprofundar a análise a partir da crítica de contribuições recentes da esquerda, demonstrando como o avanço autoritário está diretamente vinculado a essas mudanças estruturais do capitalismo contemporâneo. Para isso, analisarei, em um primeiro momento, a mudança qualitativa no regime de acumulação após mais de quatro décadas de neoliberalismo e a crescente incapacidade da superestrutura política de legitimar esse novo ciclo. Em seguida, discutirei os limites de categorias como “tecnofeudalismo” e da ideia de uma “internacional fascista”. Na terceira parte, retomarei os conceitos de crise orgânica e revolução passiva para articular uma interpretação crítica da conjuntura. Por fim, examinarei como esses processos globais se expressam na realidade brasileira e apontarei a necessidade de uma nova estratégia radicalmente enraizada nas lutas concretas — anticapitalista, democrática e ecossocialista.
Acumular, espoliar, controlar
Nas últimas quatro décadas, o processo de acumulação capitalista sofreu uma inflexão decisiva, provocando uma mudança qualitativa na estrutura social e nas formas de dominação. A cisão entre classes proprietárias e trabalhadores ampliou-se de maneira acentuada, consolidando um regime em que a desigualdade deixa de ser um efeito colateral para se tornar elemento constitutivo da lógica de reprodução do capital. Essa transformação pode ser compreendida a partir de uma abordagem econômica tradicional, sem necessariamente recorrer à crítica marxista clássica.2 É o que propõe Thomas Piketty, em O Capital no Século XXI, ao demonstrar que, desde os anos 1980, há uma retomada da tendência histórica na qual o rendimento do capital supera, de forma sistemática, o crescimento da economia. Tal dinâmica rompe com o otimismo das décadas do pós-guerra, quando se acreditava que o desenvolvimento econômico, por si só, promoveria a redução progressiva das desigualdades.
O ponto central da análise de Piketty é a fórmula r > g: quando a taxa de retorno do capital (r) supera a taxa de crescimento da economia (g), o capital acumulado tende a crescer mais rapidamente do que a renda gerada pelo trabalho. Isso resulta em uma concentração patrimonial progressiva, na qual a herança e a posse de ativos substituem o trabalho como principal via de reprodução da riqueza. A consequência é o retorno de uma sociedade patrimonialista, onde o status social é cada vez menos determinado pela qualificação ou produtividade, e mais pelo acúmulo intergeracional de ativos financeiros, imobiliários e empresariais.
Esse novo ciclo de acumulação é marcado pela valorização contínua do capital financeiro, frequentemente desconectada da produção material e da geração de empregos. Herdeiros, fundos de investimento, grandes conglomerados e especuladores passaram a concentrar riqueza e poder político, enquanto o valor da força de trabalho se deteriora. A estagnação dos salários, mesmo diante do aumento da produtividade, revela uma profunda reconfiguração da relação entre capital e trabalho: a financeirização desloca a centralidade da renda do trabalho para a predominância absoluta das rendas do capital.
Contudo, essa reconcentração da riqueza não se dá apenas por mecanismos de mercado. É aqui que a contribuição de David Harvey, em O Novo Imperialismo, torna-se essencial. Para Harvey, o capitalismo contemporâneo não depende apenas da exploração da força de trabalho produtiva, mas recorre crescentemente à acumulação por espoliação — um conjunto de práticas coercitivas e extraeconômicas que garantem a reprodução ampliada do capital em tempos de crise. Privatizações, desapropriações, financeirização da dívida, mercantilização dos comuns e destruição ambiental são formas contemporâneas de um processo historicamente constitutivo do capitalismo, desde os cercamentos até o colonialismo.
Essa acumulação por espoliação é especialmente visível nas periferias do sistema, onde a crise da dívida pública tem servido como pretexto para uma nova onda de desapropriações e imposições neoliberais. Como aponta Harvey, essas práticas não são disfuncionais ou passageiras: são mecanismos centrais de resposta à estagnação das taxas de lucro e às barreiras à valorização do capital. Quando não é mais possível extrair mais-valia por meio da exploração produtiva, despoja-se diretamente a população de seus direitos, terras e serviços públicos.
Essa lógica espoliativa conecta-se à financeirização global analisada por Piketty: a imposição de políticas de austeridade e a captura de Estados por interesses rentistas são expressões complementares de um sistema em que o capital, além de se autonomizar, intensifica sua agressividade sobre territórios e populações. A combinação entre concentração patrimonial e espoliação sistemática aprofunda a clivagem entre classes, redefinindo não apenas a economia, mas também a política, a cultura e a ecologia global.
A precarização das relações de trabalho, a informalidade e a chamada “uberização” não são fenômenos marginais, mas partes constitutivas dessa nova configuração. Como ressalta Harvey, estamos assistindo à transição de um regime de acumulação centrado na exploração — no sentido clássico da extração de mais-valia — para outro centrado na expropriação. Nesse contexto, o capital não apenas se valoriza às custas do trabalho produtivo, mas por meio da despossessão direta e da captura de recursos públicos, comuns e até mesmo simbólicos.
A crise ambiental é também parte indissociável dessa engrenagem. A financeirização da natureza — via créditos de carbono, fundos de biodiversidade e instrumentos de mercado verde — representa uma nova fronteira da acumulação por espoliação. Ao transformar florestas, rios, terras indígenas e até o clima em ativos negociáveis, o capital expande seus domínios ao mesmo tempo em que ameaça a própria sustentabilidade planetária. Trata-se de um ciclo predatório, no qual destruição e valorização caminham juntas, e onde os “commons” são sistematicamente expropriados para alimentar os ganhos das elites globais.
A combinação das análises de Piketty e Harvey permite entender que o capitalismo contemporâneo é movido por uma dupla engrenagem: a concentração patrimonial, que reintroduz uma aristocracia financeira global, e a acumulação por espoliação, que opera por meio de violência institucionalizada, desapropriações e políticas de austeridade. Não se trata, portanto, apenas de desigualdade, mas de uma nova arquitetura do capital, cujo funcionamento depende da precarização da vida em escala planetária.
Não é “tecnofeudalismo”, nem conspiração: o capitalismo em mutação
Neste momento, pretendo abordar dois debates centrais que emergiram na esquerda internacional nos últimos dez anos, relacionados ao fortalecimento dos bilionários, ao papel das redes sociais e à ascensão de setores de extrema direita em escala global.
A primeira abordagem em destaque é a tese do “tecnofeudalismo”, popularizada por Yanis Varoufakis em seu livro Tecnofeudalismo: O que matou o capitalismo?. Segundo o autor, as grandes plataformas digitais teriam ultrapassado a lógica mercantil do capitalismo tradicional, operando como senhores feudais digitais, que extraem valor pela captura de dados, controle de redes e imposição de pedágios. Embora provocadora, essa interpretação comete um erro analítico fundamental: interpreta como ruptura aquilo que é, de fato, intensificação do capitalismo.
A crítica à tese tecnofeudal pode ser organizada em dois eixos. O primeiro, econômico, com base na obra de Thomas Piketty; o segundo, político e geopolítico, a partir do conceito de acumulação por espoliação desenvolvido por David Harvey. Ambos os autores demonstram que o atual regime não rompe com a lógica capitalista, mas a aprofunda sob novas formas de exploração.
Conforme analisado em O Capital no Século XXI, Thomas Piketty demonstra que, desde os anos 1980, a taxa de retorno do capital (r) tem superado sistematicamente o crescimento da economia (g), intensificando a desigualdade patrimonial ao deslocar a acumulação da produção para o patrimônio e concentrar renda e poder nas mãos de uma elite de herdeiros, acionistas e grandes corporações. Isso não representa uma ruptura com o mercado, mas sua reconfiguração em favor do capital, processo visível inclusive nas plataformas digitais, que internalizam o mercado, organizam-no por meio de algoritmos e monopolizam a concorrência. A renda extraída por essas empresas constitui uma nova forma de mais-valor, inteiramente funcional à lógica de valorização do capital.
David Harvey, por sua vez, em O Novo Imperialismo, argumenta que o capitalismo sempre operou por meio de dois mecanismos: a acumulação por exploração e por espoliação. As privatizações, a financeirização da dívida, o saque ambiental e a desregulamentação do trabalho são expressões modernas dessa espoliação. O que Varoufakis chama de feudalismo é, na verdade, a continuidade e intensificação da espoliação sob mediação digital.
A precarização laboral, como na “uberização”, não representa um retorno à servidão, mas sim uma nova forma de exploração capitalista baseada na externalização de custos e captura de excedente. Assim, a tese do tecnofeudalismo obscurece a continuidade estrutural da dominação capitalista e oferece uma narrativa equivocada que sugere soluções reformistas, ao invés de alternativas sistêmicas.
O segundo debate crítico é a ideia de que uma “internacional fascista”, articulada via redes sociais, seria a principal responsável pelo colapso das democracias. Embora existam elementos reais nessa tese — como a propagação coordenada de discursos autoritários e o financiamento transnacional da nova direita —, ela desmaterializa o processo histórico e ignora as causas estruturais da crise.
Essa abordagem desloca o foco dos fatores centrais: o esgotamento do pacto fordista, a perda da centralidade do trabalho e a crescente desigualdade gerada pelas transformações no regime de acumulação. Como mostra Harvey, o neoliberalismo foi a resposta das classes dominantes à crise da taxa de lucro dos anos 1970, promovendo espoliação e financeirização para manter a rentabilidade do capital.
Piketty, por sua vez, evidencia que a partir dos anos 1980 o rendimento do capital passou a superar sistematicamente o crescimento econômico, resultando na formação de uma elite patrimonial transnacional e na estagnação das condições de vida da maioria da população. É nesse contexto de frustração e desagregação que os discursos reacionários encontram eco.
Ambos os autores convergem na ideia de que o autoritarismo atual é um subproduto do capitalismo contemporâneo e não uma conspiração externa. A insistência na tese conspiratória leva a soluções superficiais — como regular redes ou defender instituições — sem enfrentar a lógica da acumulação e redistribuição que sustenta a crise.
Por fim, é preciso destacar que essas duas interpretações, embora baseadas em fatos reais, falham ao negligenciar a dinâmica histórica e estrutural do capitalismo. Ao adotá-las como centrais, parte da esquerda radical tem moderado seu discurso, firmado alianças permanentes com setores conservadores e abandonado a construção de alternativas enraizadas. Alianças pontuais são necessárias em certos contextos, mas não podem ser o horizonte estratégico exclusivo, como infelizmente se consolidou ao longo da última década.
A velha ordem com nova fachada
No debate clássico do materialismo histórico, Marx e Engels, em A Ideologia Alemã, defendem que a estrutura econômica da sociedade – ou seja, o modo como se organizam as relações de produção e de propriedade – constitui a base real sobre a qual se erguem as instituições políticas, jurídicas e ideológicas. A superestrutura, portanto, não flutua no ar: ela expressa e, ao mesmo tempo, estabiliza os interesses da classe dominante. A transformação dessa superestrutura depende, em última instância, de mudanças nas condições materiais de existência, o que inclui tanto a luta de classes quanto as mutações no regime de acumulação.
Esse ponto é crucial para compreender os processos pelos quais o capitalismo contemporâneo vem se transformando nas últimas quatro décadas: a financeirização, o avanço das tecnologias digitais, a dissolução dos pactos fordistas, a intensificação da acumulação por espoliação e a inflexão profunda na forma de acumulação — marcada pela supremacia do rendimento do capital sobre o crescimento da produção e dos salários — têm resultado na autonomização do capital em relação ao trabalho e na concentração do capital em escala transnacional.
Ora, se a estrutura econômica se transforma dessa maneira, a superestrutura política também tende a se reconfigurar. No entanto, essa transformação nem sempre ocorre por meio de rupturas evidentes. Gramsci propõe, nesse sentido, o conceito de revolução passiva para explicar mudanças importantes na superestrutura, isto é, processos históricos em que há mudanças estruturais relevantes, mas sem o protagonismo direto das classes subalternas como sujeito histórico. Trata-se de transformações controladas pelas classes dominantes, que atualizam sua hegemonia em resposta a crises ou pressões sociais, mas sem romper com a ordem estabelecida.
Diferente de uma revolução social no sentido clássico, a revolução passiva implica em reformas vindas de cima, que absorvem demandas populares e reconfiguram o Estado e os aparelhos ideológicos sem alterar a lógica fundamental da dominação. É o que Gramsci observava na Itália unificada sob Cavour, e que também pode ser interpretado em momentos como a transição da ditadura para a democracia no Brasil, ou a guinada neoliberal que reestruturou o Estado nos anos 1990 sem uma derrota categórica das classes populares.
O ponto decisivo aqui é que não se trata de um descompasso entre estrutura e superestrutura, mas de um novo reencaixe: à medida que o regime de acumulação se transforma – financeirização, plataformas digitais, espoliação ambiental, precarização do trabalho –, as instituições políticas e os sistemas de valores vão sendo moldados para dar sustentação a essa nova configuração do capital. A ideologia dominante atual, que valoriza o empreendedorismo individual, a meritocracia de fachada e a despolitização da economia, é profundamente funcional a essa nova base material. Não há, portanto, necessidade de um evento simbólico de derrota ou ruptura para que essas transformações se consolidem: a transição pode se dar por dentro da legalidade, por meio de rearranjos graduais e silenciosos.
A superestrutura institucional, nesse contexto, passa a refletir novas formas de controle e dominação: o Judiciário assume protagonismo regulador; as redes sociais substituem os antigos veículos de massas como mediadores ideológicos; a tecnocracia do capital financeiro opera como condutora da política econômica; e a governabilidade se reconfigura por meio de coalizões fisiológicas e instabilidade permanente. Tudo isso é compatível com a lógica da revolução passiva: as formas institucionais são preservadas, mas o conteúdo social da democracia é esvaziado.
Essa leitura também evita uma armadilha recorrente: a ideia de que toda transformação relevante deve ser acompanhada por um grande colapso visível, uma “derrota histórica” no sentido tradicional. Pelo contrário, como ensinava Marx, as condições materiais da existência mudam mesmo quando a consciência social permanece cativa de formas anteriores. É por isso que muitas vezes a ideologia aparece como descompasso, como atraso, como nostalgia – porque ela conserva representações obsoletas de um mundo em mutação acelerada. A falsa percepção de continuidade democrática, por exemplo, oculta o fato de que as democracias liberais vêm sendo profundamente reconfiguradas para atender às novas necessidades do capital globalizado e financiarizado.
Assim, a chave para compreender o presente não está apenas nos fenômenos mais visíveis – como o avanço da extrema direita, a captura do Estado ou as novas tecnologias de controle – mas na relação dialética entre base e superestrutura, entre mutações do capital e transformações ideológicas e políticas. A análise marxiana e a elaboração gramsciana nos mostram que a dominação capitalista não se sustenta apenas pela coerção, mas pela reorganização permanente das formas sociais, das normas jurídicas, das representações e das instituições. A crise atual, portanto, não é um acidente, mas o modo pelo qual o sistema reorganiza sua hegemonia diante da exaustão do modelo anterior.
Compreender o processo atual de mutação do capitalismo é essencial para evitar falsas saídas que apenas reciclam impasses. Nem a nostalgia de um passado fordista, com seus pactos sociais hoje irreproduzíveis, nem o desejo de restaurar uma democracia liberal já corroída por dentro oferecem caminhos viáveis. A transformação necessária exige um diagnóstico radical da totalidade: é preciso reconhecer que as mudanças estruturais no regime de acumulação — com a autonomização do capital, a concentração patrimonial e a intensificação da espoliação — impõem novos desafios à organização política e à construção de alternativas. Mais do que nunca, torna-se evidente que a revolução passiva não é apenas uma categoria histórica, mas uma chave interpretativa fundamental para entender como o capitalismo se reinventa, metaboliza crises e neutraliza, por dentro, a potência de sua crítica.
Nesse sentido, é possível afirmar que estamos assistindo ao fechamento do interregno3 aberto pelas mobilizações do início do século XXI — como as jornadas de 2013 no Brasil — não rumo a uma nova hegemonia democrática-popular, mas a uma estabilização reativa, conservadora e regressiva. Como destacado no artigo “Interregno como chave para compreender a crise”, o ciclo de levantes de 2011 a 2013 — do Occupy Wall Street à Praça Tahrir, das manifestações brasileiras aos protestos na Turquia — expressou uma profunda aceleração do tempo político. Crises nos regimes de representação, colapsos institucionais, deslegitimação dos partidos tradicionais e novas formas de organização política emergiram em diversos contextos, revelando o esgotamento da governabilidade liberal diante das demandas sociais represadas. O genocídio em curso na Faixa de Gaza, tolerado e legitimado por parte significativa da comunidade internacional, funciona hoje como símbolo brutal desse fechamento autoritário: não apenas pelo massacre em si, mas pelo silenciamento, pela cumplicidade e pela naturalização da barbárie como instrumento de governança global.
Contudo, essa aceleração foi rapidamente neutralizada por forças reativas que, longe de responder às reivindicações populares, passaram a administrar a crise por meio da repressão, da judicialização da política e da reorganização autoritária das instituições. Como aponta Safatle, a esquerda — em vez de assumir a ruptura e canalizar a potência política que emergia das ruas — optou por reconstruir o que havia ruído, tentando restaurar o centro político e “salvar” uma democracia liberal já esvaziada de conteúdo. Ao tentar normalizar o que estava em colapso, perdeu a chance de construir uma alternativa real. Tornou-se, assim, fiadora de uma institucionalidade em ruínas, dedicada à gestão dos escombros.
O resultado desse deslocamento foi a naturalização da exceção e a reorganização do Estado em torno de uma nova racionalidade política: coalizões fisiológicas, protagonismo de poderes não eleitos, ascensão da tecnocracia financeira e articulação direta entre capital e aparato jurídico-militar. A recusa em romper com a ordem estabelecida fortaleceu o fechamento do interregno por meio da modernização conservadora — uma transição silenciosa para formas mais duras de dominação, disfarçadas de normalidade democrática. Junho de 2013, que poderia ter sido um ponto de inflexão histórico, tornou-se o marco simbólico de uma crise não resolvida, cuja energia foi despolitizada, criminalizada ou apropriada pelos setores mais reacionários. Não faltaram alternativas — elas foram sistematicamente recusadas pelas direções políticas.
Nesse novo cenário, a esquerda institucionalizada passou a operar como garantidora da ordem, abrindo mão da disputa estratégica em nome de vitórias pontuais. O que se fecha, portanto, não é apenas o ciclo inaugurado por junho, mas a própria possibilidade de transformação a partir das estruturas vigentes.
Esse fechamento do interregno não representa uma superação das contradições, mas sua normalização sob novas formas de dominação. O que se desenha é uma arquitetura de poder ancorada na exceção tornada regra: estados de emergência permanentes, aparatos jurídicos seletivos, sistemas de vigilância e governança algorítmica compõem uma racionalidade autoritária funcional à reprodução do capital em sua fase digital e financeirizada. Como nas revoluções passivas clássicas, não há ruptura explícita, mas uma modernização conservadora que ajusta a superestrutura para preservar a estrutura essencial do capital. A tarefa política, nesse contexto, não é adequar-se aos limites do possível, mas disputar o próprio sentido do tempo histórico em curso.
Entre escombros e horizontes
Boa parte do que foi exposto ao longo deste texto já circula em diagnósticos e análises críticas da esquerda contemporânea. No entanto, reiterá-lo é uma urgência. As movimentações políticas do último período não deixam dúvidas de que estamos diante do fechamento do interregno — não da sua superação. A crise da democracia liberal não tem gerado uma nova hegemonia democrática-popular, mas a consolidação de um regime de exceção permanente, articulado com as novas formas de acumulação do capital. Em vez de ruptura, vemos a absorção e neutralização das insatisfações sociais por meio de uma modernização conservadora, que ajusta o regime sem transformá-lo.
É por isso que não basta mais reagir, nem apenas resistir: é preciso romper com a lógica da moderação estratégica que tem sido apresentada como única via de atuação. A capitulação constante — travestida de responsabilidade institucional — transformou-se na política dominante de amplos setores da esquerda. A aliança com frações liberais “contra o fascismo” não pode continuar sendo o horizonte político. A fidelidade à experiência da derrota deve servir não à melancolia ou à acomodação, mas à recusa ativa de repetir o erro de depositar nossa potência em gestões da catástrofe. Afinal, o fascismo não é apenas uma ameaça exterior; ele se fortalece quando nossa resposta se limita ao silêncio, à falta de programa, ao pacto com aquilo que prometemos transformar.
Ainda assim, não estamos paralisados. Em meio à barbárie administrada, emergem lutas que apontam para outro caminho: as mobilizações do povo palestino e sua reverberação mundial; as greves de entregadores e professores; as resistências indígenas e quilombolas; os movimentos por moradia, água e território. Esses são os sinais vitais de uma alternativa que se anuncia — e que precisa ser escutada, conectada e fortalecida. É desse caldo que pode emergir uma nova estratégia: uma hegemonia democrática, popular e ecossocialista, que rompa com a gestão da crise e enfrente as estruturas do capital.
O desafio é imenso, mas a alternativa é a continuidade da barbárie em novas roupagens. O momento exige coragem, lucidez e ruptura — não para reconstruir o passado, mas para inventar o futuro. E essa invenção não virá das cúpulas, nem das mesas de negociação. Ela será obra coletiva de quem ousar dizer que a crise não será mais administrada com a nossa força.
Referências bibliográficas:
COUTINHO, Carlos Nelson. As Categorias de Gramsci e a Realidade Brasileira. In: Crítica Marxista, Roma, Editori Riuniti, n. 5, ano 23, 1985, pp.35- 55.
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. V. 5, edição e tradução de Luiz Sérgio Henriques; co-edição, Carlos Nelson Coutinho e Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
__________________. Cadernos do Cárcere. V. 1, edição e tradução de Luiz Sérgio Henriques; co-edição, Carlos Nelson Coutinho e Marco Aurélio Nogueira. 4 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
HARVEY, David. O novo imperialismo. São Paulo: Edições Loyola, 2004.
HENRIQUES, Frederico. Interregno como chave para compreender a crise. Revista Movimento, 25 fev. 2020. Disponível em: https://movimentorevista.com.br/2020/02/interregno-como-chave-para-compreender-a-crise/. Acesso em: 1 jun. 2025.
_______________________. A capitulação silenciosa: legalidade, cálculo e avanço autoritário. Revista Movimento, 17 abr. 2025. Disponível em: https://movimentorevista.com.br/2025/04/a-capitulacao-silenciosa-legalidade-calculo-e-avanco-autoritario/. Acesso em: 1 jun. 2025.
PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2007.
VAROUFAKIS, Yanis. Tecnofeudalismo: o que matou o capitalismo. São Paulo: Autonomia Literária, 2024.
Notas
- Escrevi um artigo que busca desenvolver melhor esse movimento a partir dos escritos de Karl Polanyi na Revista Movimento: https://movimentorevista.com.br/2025/04/entre-tarifas-e-canhoes-polanyi-e-os-sintomas-de-um-colapso-anunciado/ ↩︎
- Para entender melhor ver o texto: https://movimentorevista.com.br/2020/02/interregno-como-chave-para-compreender-a-crise/ ↩︎
- Para uma análise de alto nível dentro da perspectiva marxista, recomendo os textos de Michael Roberts — muitos deles disponíveis em traduções no site da Revista Movimento. ↩︎